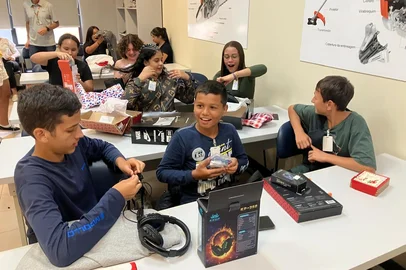Caroline Damazio
Psicóloga, mestranda em Saúde Pública e coordenadora executiva da Associação Cultural de Mulheres Negras
Tão importante quanto entender conceitos que hoje estão tendo uma maior visibilidade, como racismo estrutural, racismo institucional e racismo interpessoal, é buscar movimentos para que essa realidade de desigualdade racial vivida em nosso país seja alterada. Neste sentido, uma discussão que vem ganhando espaço timidamente no círculo acadêmico é a descolonização do pensamento. Essa discussão tem sua origem nos movimentos sociais que não mais acolhem (ou nunca acolheram) o saber eurocêntrico, ditado como regra, e passam a valorizar a narrativa coletiva dos povos que os compõem.
Embora a expansão da Europa pelo mundo tenha ocorrido cerca de 500 anos atrás, o rastro de dominação, violência e assassinatos ainda hoje afeta a forma como pensamos, nos relacionamos, nos vestimos, nos alimentamos, enfim nossas práticas de existência. Além de estruturarem as dinâmicas sociais a partir dos discursos validados pela produção do conhecimento eurocentrada.
O discurso de neutralidade da ciência foi mantido e validado por muito tempo e, embora já não seja mais legitimado pela maior parte das áreas do saber, produziu construções cientificas completamente enviesadas que justificaram práticas discriminatórias durante toda a história e ainda hoje reverberam no imaginário social/coletivo.
Uma recordação interessante de um fato que ocorreu durante minha formação, no curso de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), consiste no discurso de uma professora em uma disciplina que nos instruía sobre pesquisa científica. Recordo da insinuação da mestra em reforçar o quanto nós, enquanto pesquisadores, deveríamos ser distantes, não pertencentes ao público/comunidade/objeto que iríamos pesquisar. Minha reação foi de grande frustração, pois inviabilizava o objetivo de estudar a constituição psíquica de crianças negras atravessada pelo racismo estrutural, já que pertenci a essa categoria e me relacionava com sujeitos que seriam o objeto de pesquisa. Por sorte, encontrei outros docentes nesse processo que não mantiveram esse discurso, o que possibilitou a pesquisa.
Com esse exemplo, podemos adentrar em uma necessária reflexão: o discurso de neutralidade científica quando relacionado a estudos sobre as relações raciais e/ou sociais foi direcionado apenas a um segmento, ao dos oprimidos. O pesquisador branco/europeu não foi limitado quando buscou observar as dinâmicas raciais ou sociais, muito pelo contrário. No Brasil, por exemplo, obras como Casa Grande & Senzala (1933), de Gilberto Freyre, são objetos de críticas positivas e nomeados como grandes análises estruturais. Em contrapartida, a obra de Carolina Maria de Jesus, como o livro Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada (1960), não tem o mesmo reconhecimento e, embora sejam um retrato e análise fidedigna do contexto racial e social, não são validados enquanto conhecimento. Cabe informar aqui que Freyre era um homem branco da elite e Carolina, uma mulher negra e periférica, nascidos em 1900 e 1914 respectivamente.
A prática da descolonização do pensamento configura a possibilidade de construir um saber coletivo, resgatando a epistemologia dos povos que foram colonizados, respeitando a memória e a cultura dos povos ancestrais. No Brasil, o resultado do colonialismo foi o apagamento da cultura e história indígena e a marginalização, demonização e proibição da cultura trazida do continente africano.
O resgate dessas histórias e desse conhecimento valioso dos povos indígenas e africanos é ferramenta estratégica para a transformação da sociedade em que vivemos. Não se trata de invisibilizar ou silenciar narrativas, mas sim de construir espaços de saber que sejam compostos igualmente pela diversidade que compõe nosso país. Por fim, encerro com o pensamento do historiador Runoko Rashidi: “A história é uma luz que ilumina o passado e uma chave que abre a porta para o futuro”.