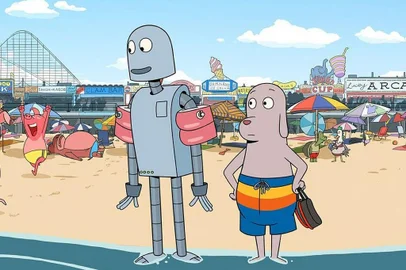Felliniano. Hitchcockiano. Bergmaniano. Não são muitos os cineastas que imprimem um estilo tão marcante em suas obras, com uma temática e/ou uma linguagem tão características, a ponto de se transformarem em adjetivos. Quentin Tarantino conseguiu.
Tarantinescos são os filmes que conjugam personagens amorais, mas com um código de ética muito particular, geralmente interpretados por um elenco que até então amargava o ostracismo, violência estilizada, referências mil à cultura pop (de quadrinhos de super-heróis às produções orientais de kung fu, do faroeste italiano aos seriados de TV), diálogos embebidos por frases de efeito, palavrões e banalidades, um senso de humor mórbido e uma trilha sonora descolada e classuda, que costuma dar margem a cenas de dança. Ultimamente, o diretor americano aprimorou uma característica narrativa de seus primeiros títulos. Se Cães de Aluguel (1992) e Pulp Fiction (1994) contavam uma história por diferentes pontos de vista, em Bastardos Inglórios (2009) e Django Livre (2012) Tarantino reescreve a História. Ah, sim, e ele tem um fetiche que ninguém se atreve a copiar: o de mostrar, detidamente, pés femininos.
Em maior ou menor grau, todos esses elementos estão presentes na mais recente obra de Tarantino, Era Uma Vez em... Hollywood (Once Upon a Time in... Hollywood), que venceu os Globos de Ouro de melhor filme – comédia ou musical, ator coadjuvante (Brad Pitt) e roteiro e que concorre a 10 Oscar: melhor filme, diretor, ator (Leonardo DiCaprio), ator coadjuvante (Brad Pitt), roteiro original, fotografia, design de produção, figurinos, mixagem de som e edição de som. É uma espécie de testamento antecipado do cineasta que, aos 56 anos, vem declarando que pretende se aposentar do cinema – lançando-se ao teatro ou à literatura – quando entregar seu 10º longa-metragem. Pelas suas contas (ele despreza a comédia independente My Best Friend's Birthday, de 1987, e considera os dois volumes de Kill Bill, de 2003 e 2004, como um filme só), este é o nono.
Embora Era Uma Vez em... Hollywood esteja degraus abaixo de seus trabalhos anteriores em matéria de criatividade, impacto e transcendência, talvez seja exagero dizer que nele se vê um realizador em fim de carreira. Mas é inegável que Tarantino adotou um tom mais reflexivo (vide a surpreendente quantidade de cenas sem diálogo), celebratório e nostálgico (tanto em relação à Hollywood de sua formação estética quanto em relação a si mesmo, dadas as autorreferências que pontuam o filme).
A trama se passa em 1969 e divide-se em dois ou três núcleos narrativos. Em uma ponta, estão o ator decadente Rick Dalton (outra esplêndida atuação de Leonardo DiCaprio) e seu dublê e faz-tudo, Cliff Booth (Brad Pitt, mais uma vez demonstrando seu talento dramático). Enquanto Rick, ex-astro de um seriado de faroeste, busca recolocação no mercado fazendo papéis de vilão (o que provoca um puxão de orelhas antológico do agente Marvin Schwarz, vivido por Al Pacino), Cliff envolve-se com uma estranha comunidade hippie. Paralelamente, acompanhamos um pouco do dia a dia de uma personagem real: a atriz e modelo Sharon Tate (Margot Robbie), esposa do cineasta Roman Polanski, morta a facadas em 9 de agosto de 1969, quando estava grávida de oito meses, por jovens que integravam a seita comandada por Charles Manson (encarnado por Damon Herriman).

O ritmo é bastante lento – não à toa, o filme tem duas horas e 45 minutos. Há longas sequências em que nada acontece, a câmera demora-se em passeios de carro por uma Hollywood plena de cartazes publicitários, anúncios radiofônicos, vinhetas de TV e marquises de cinema que traduzem a saudade de Tarantino, um ex-empregado de videolocadoras que conseguiu realizar seu sonho de estrelato. São os momentos em que o cineasta exercita sua vaidade, exibindo seus maneirismos visuais, seu gosto musical bastante singular, que se alterna entre o resgate de uma pérola e a promoção de uma obscuridade, e suas citações a outras obras cinematográficas ou televisivas – algumas dele mesmo: o seriado de Velho Oeste que deu fama a Rick Dalton, Bounty Law, é sobre um caçador de recompensas, como aquele encarnado por Christoph Waltz em Django Livre; seu filme mais elogiado, The 14 Fists of McCluskey, retrata uma missão para matar nazistas, como em Bastardos Inglórios. É Tarantino agradando sua legião de fãs, que depois vão inundar a internet com vídeos e textos em que catalogam todas as referências contidas em Era Uma Vez em... Hollywood – trata-se de uma mitologia baseada em detalhes pitorescos, e não em uma narrativa que busca compreender o mundo e a humanidade.
A propósito, tarantinesco também rima com cartunesco, portanto, não espere profundidade nem complexidade. Há um desfile um tanto inútil de coadjuvantes de luxo. Em uma caracterização física impressionante por Damian Lewis, o ator Steve McQueen (1930-1980) só abre a boca para explicar ao espectador a relação entre Polanski, Sharon e o cabeleireiro Jay Sebring (Emile Hirsch, subaproveitado). O mítico Bruce Lee (1940-1973), vivido por Mike Moh, é apenas uma caricatura, uma escada para Cliff Booth mostrar seus dotes de combate corpo a corpo. Seu retrato como um sujeito arrogante, falastrão e calcado em estereótipos, aliás, gerou críticas da filha do astro das artes marciais. A própria Sharon Tate não tem um desenvolvimento dramático. Surge como uma pin-up, dança numa festa, assiste, com os pés sobre a poltrona do cinema, aos próprios filmes (verdade seja dita, isso rende uma bela e silenciosa homenagem de Tarantino). Está no filme apenas para justificar o ato final.
SPOILERS À FRENTE. LEIA POR CONTA E RISCO.

O último quarto de Era Uma Vez em... Hollywood realça o sentido primordial do título escolhido por Tarantino. As referências a faroestes como o clássico Era Uma Vez no Oeste (1968), de Sergio Leone, impregnam o filme - da câmera contemplativa ao derradeiro duelo, passando pela aridez de algumas paisagens, pelo figurino de Rick e Cliff e, claro, pela carreira do ex-astro. Mas, ao longo da trama, o diretor também vai dando pistas de que este é um conto de fadas (ainda que não ortodoxo).
Temos um príncipe (alcoolista), Rick, que busca uma segunda chance; temos uma donzela (grávida) em apuros, Sharon, em seu castelo na Cielo Drive; temos um bruxo, Charles Manson, e seu séquito de fanáticos ridicularizados; temos um mocinho com uma mancha no passado, Cliff, que parece ter aprendido a domar seus impulsos para agir como um cavalheiro junto às damas – quando elas merecem; temos um final feliz, embora extremamente brutal e sangrento; temos até um dragão que cospe fogo – o lança-chamas guardado como uma carta na manga por Tarantino, que notoriamente tenta injetar comicidade em cenas hiperviolentas, para riso de muitos e espanto de outros (eu incluso). E temos, também, uma moral da história: a de que a ficção molda a realidade, a de que a ficção é maior do que a realidade. Na Hollywood sonhada pelo diretor, o assassinato de Sharon Tate é vingado antes mesmo de acontecer, e Charles Manson jamais virou um personagem de culto - um acerto do filme é não dar palco a ele, que mal aparece em cena. Apesar de previsível pelo andar da carruagem e repetitivo por parte do cineasta (afinal, se os bastardos inglórios mataram Hitler, seria fichinha evitar o massacre perpetrado pela seita), não deixa de ser um desfecho poderoso e até tocante. Quando a câmera revela o encontro de Rick com Sharon, Jay e mais dois amigos que foram mortos há 50 anos, nos flagramos comovidos diante de tantos futuros proibidos.
Pena que a empatia de Tarantino seja bem menor do que seu ego. Tão logo começam os letreiros, a autocelebração culmina em uma cena pós-créditos – é como se o diretor fosse um super-herói da Marvel, empresa que fez do recurso uma marca registrada. Na tal cena de Era Uma Vez em... Hollywood, Rick grava um comercial do fictício cigarro Red Apple, visto em Pulp Fiction, Kill Bill, Bastardos Inglórios e até em Os Oito Odiados. É a piscadinha do líder do culto a Quentin Tarantino – o próprio Quentin Tarantino – para os fiéis que já estavam deixando a igreja, mas que interrompem sua caminhada para assistir ao que se desenrola no altar, uns, quem sabe, na esperança de experienciar algo mais significativo do que um chiste autorreferente.