
Um dos mais experientes analistas internacionais brasileiros, Paulo Fagundes Visentini completa 42 anos de docência com o lançamento de um livro fundamental para a compreensão de um dos mais controversos capítulos do século 20: a ascensão e queda do socialismo.
Com mais de 30 obras publicadas, o coordenador do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais (Nerint), na UFRGS, desta vez refaz, por meio de documentos inéditos, memórias, estudos mais objetivos e menos emotivos, a estrada percorrida por esse regime político até a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética (URSS), que completa 30 anos neste domingo. Em "Por que o Socialismo Ruiu? De Berlim a Moscou (1989-1991)", Visentini derruba mitos construídos no calor daqueles dias intensos, conversando com o público não familiarizado às relações internacionais mas sem abrir mão do rigor científico. Nesta entrevista, ele detalha o longo processo de erosão interna, explica por que o Leste Europeu engenha uma guinada iliberal, analisa o papel da Rússia atual e lança hipóteses sobre a política internacional hoje.
Por que escrever um livro sobre a queda do socialismo agora, passados 30 anos do fim da União Soviética?
Além da efeméride, talvez essa seja a última década em que temos ainda um então líder vivo (Mikhail Gorbatchev). Vivi essa época como jovem professor que trabalhava na área internacional e recolhi muito material jornalístico, obras de análise que acho muito ruins, tanto as que eram extremamente críticas, as quais afirmavam que a dissolução era algo positivo, quanto aquelas que tentavam defender o regime que desaparecia, de uma forma também romantizada, ideológica. O assunto era quente demais para ser tratado com objetividade naquele momento. Decidi escrever um livro para o grande público, em termos de forma de linguagem, mas com as devidas reflexões mais profundas para um leitor que queira pensar o tema.
Na obra, o senhor se propõe a derrubar alguns mitos sobre a dissolução da URSS. Quais?
Tive de começar por uma questão conceitual. Atualmente, as pessoas usam indistintamente palavras, afirmam que fascismo e nazismo seriam de esquerda, por exemplo. As pessoas não têm mais informação sobre conceitos políticos. Vieram outras gerações e, com elas, o uso manipulativo desses termos. Então, trato de explicar o que é esquerdismo, marxismo, socialismo, comunismo, o que são esses conceitos, o que significam dentro da Ciência Política e da História. Depois, desmistifico a ideia de que haveria um sistema onipresente tanto dentro das fronteiras soviéticas quanto em seus desígnios expansionistas. Outro problema que, como historiador, acredito ser sério é que os países do Leste Europeu parecem não ter história, apenas decisões de determinadas personalidades. Não se fala da sociedade como agente histórico, tanto nos livros apologéticos quanto nos críticos. Não há muitas informações sobre a vida cotidiana. O que se revela, 30 anos depois, é uma riqueza de bibliografia. Várias traduções agora estão disponíveis. Trata-se de abordar a sério os documentos. Há também muita gente que não falava à época e passou a escrever seus livros de memórias. Observa-se o socialismo do bloco não como um sistema que funcionava como uma máquina perfeita, mas, ao contrário, com conflitos intra-burocráticos e rivalidades impressionantes.
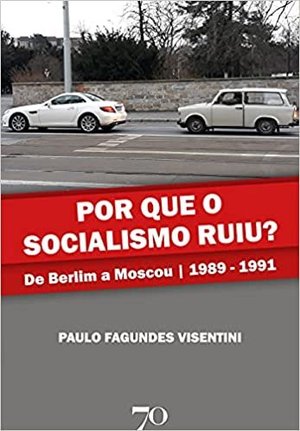
O senhor afirma na obra que não foram as revoluções que derrubaram o sistema soviético, mas as contradições internas. Por que, afinal, o bloco soviético caiu?
Os anos de 1989 a 1991 foram emblemáticos. O socialismo veio de Moscou e, na Segunda Guerra, chegou a Berlim. E sua derrocada parte de Berlim e chega a Moscou. Tive que explicar como se formou esse sistema, como os bolcheviques conseguiram conquistar o poder, sobreviver em isolamento e se industrializar. Como Lenin morreu cedo, Stalin foi o construtor da URSS. Há um período duro de construção, de sofrimentos, a coletivização da agricultura, com a industrialização, a Segunda Guerra Mundial, mas um período de realizações também, que criou uma identidade que durou até o momento em que Stalin foi desacreditado por Kruschev, no congresso de 1956. A tentativa de tornar o socialismo mais palatável, a partir dali, foi o início de seu desgaste. A burocracia se eternizou. Stalin prometeu acesso universal às políticas públicas: saúde, educação, aposentadoria, pleno emprego e muito trabalho. Da maneira dele, cumpriu. Já Kruschev prometeu algo que seria impossível: competir com o Ocidente, oferecendo mais consumo que o capitalismo. Ali começa o declínio, porque ele quebra a crença que havia no sistema. Para se legitimar, concentrou-se na crítica ao seu ex-chefe e fez trapalhadas internacionais, que levaram à separação com a China e a sua derrubada. E os países do Leste Europeu, que enfoco bastante, são pouco conhecidos. Esses também entraram no processo de consumo como forma de se legitimar, tentar ganhar autonomia, ser mais “nacionais”. Só que entraram em uma lógica que não controlavam, porque passaram a depender de taxa de juro, cotação do dólar. Isso levou ao endividamento e ao colapso. Aí entra Gorbachev.
Trinta anos depois, com esse distanciamento histórico, qual foi o papel de Gorbachev no colapso soviético?
A URSS também fez um pouco essa política. Só que tinha uma base geográfica imensa, recursos naturais. O comprometimento deles com dívida era menor. Países que tinham dificuldades políticas, como a Polônia, que precisavam mostrar alguma coisa a seu povo, mergulharam em uma industrialização megalomaníaca, com dinheiro internacional. Gorbachev assumiu com a ideia de renovação do socialismo, melhoria do sistema, que passava por uma questão urgente: terminar com a corrida armamentista (com os EUA). Ele passou a cortar a ajuda ao Leste Europeu, tinha o conceito de Casa Comum Europeia, assim como a Rússia tem hoje, e, na Alemanha, um grande parceiro. Ele acreditava que a paz seria com os EUA e as relações econômicas maiores, com a Europa. Para isso, estava disposto a abandonar o Leste Europeu. Hoje, sabe-se que todas as formas foram utilizadas para pressionar aqueles regimes a ceder. Havia um grupo jovem de gestores da área econômica que tinha conexões com organizações financeiras internacionais durante a Coexistência Pacífica. Eles sabiam que o liberalismo retornava para superar a crise dos anos 1970 no Ocidente e nele se inspiraram. Mas tinha o problema da URSS. E aí a figura de Gorbachev é controversa: a ele se atribuem todas as boas intenções e todas as traições. Ele vai se revelando uma figura patética. Era uma pessoa com limitações, de uma província onde está Sochi, uma zona rural com praias. Ele era o anfitrião das elites soviéticas de Moscou, muito bom de conversa. E, assim, foi levado a Moscou e foi subindo, na base de relações sociais. Gorbachev tinha uma tendência psicológica curiosa: quando surgia um problema, a maneira de resolvê-lo não era pela negociação, mas cedendo antecipadamente. Nas questões do Leste Europeu, ele deu o empurrão final. Retirou as tropas e deixou aqueles países tomarem seu rumo. Acreditou que isso pararia na fronteira da URSS. Mas não parou. E ele foi perdendo o controle, sobretudo ao separar partido e Estado, perdendo-o para Ieltsin.
E hoje: por que esses países do Leste Europeu como Polônia e Hungria, depois desse tempo, se tornaram autoritários?
Em todos esses acontecimentos do Leste Europeu não houve uma revolução popular. Quando as massas saíram às ruas, aqueles movimentos pacifistas, liberais, tiveram uma duração efêmera. Quase todos se perderam ou se dissolveram. Porque, na verdade, já havia sido pactuada uma transição. O caso da Polônia é interessante porque o regime chamou o Solidariedade para a negociação, e entregaram o poder e o ônus da crise. Assim, Solidariedade chegou ao poder, em troca de uma anistia recíproca: “Ninguém vai perseguir os gestores do antigo regime, uns vão se aposentar e os demais vão ficar nos seus postos”, e muitos se tornaram empresários. A narrativa era de que o povo saiu às ruas e conseguiu derrubar regimes monolíticos. E, na verdade, hoje, sabe-se das negociações que ocorreram, com apoio de Gorbachev. Houve um acordo, e, por isso, não houve repressão maciça. Havia a possibilidade de solução chinesa. No momento em que a transição ocorreu na Polônia e na Hungria, os chineses resolveram esvaziar a Praça da Paz Celestial, em Pequim, pois ficaram assustados. A narrativa para os países do Leste era: “Saímos de algo que não deu certo e que nos prendia e agora poderemos entrar na prosperidade”, a adesão à União Europeia (UE). Só que a forma como aquelas economias estavam interconectadas era muito prejudicial. Havia um protocolo a seguir para ingressar na UE: corte de gastos etc. Isso atingiu de forma desigual a sociedade. As pessoas mais velhas não sabiam competir. As do campo também. Com o tempo, já na UE, foram trabalhar em outros países, mandavam dinheiro para casa, mas veio a crise de 2008. E muitos voltaram ao Leste Europeu, sobrecarregando o sistema de políticas públicas, a saúde etc. A atitude do Banco Central Europeu foi: “Vocês vão ter de fazer sacrifícios”. E eles: “Mais?”.
As chamadas medidas de austeridade.
Houve uma frustração. E aí temos uma situação paradoxal: Polônia, Hungria, são países que estão muito associados aos EUA na questão da defesa, que defendem a Otan, que apoiam o discurso anti-Rússia, mas cuja maior parte dos negócios hoje é feita com China e Rússia. E o modelo político que estão adotando é basicamente focado na Rússia de Putin, na Turquia de Erdogan. Isso está se difundido. A cada eleição, as outras forças políticas têm de fazer uma coalizão maior para evitar que os nacionais-populistas vençam.
Inclusive fora do Leste Europeu, na Alemanha, na França e na Áustria.
Aí vemos episódios desagradáveis. Com a redução do dinheiro para as políticas públicas, refugiados ou populações minoritárias são vistos quase como inimigos, algo desafiador para a UE. Já houve a saída do Reino Unido do bloco, e o Václav Klaus, que era o primeiro-ministro da República Tcheca, considerado um dos países mais liberais, quando assumiu por seis meses a direção da UE, disse que ela era um órgão “comunizante”.
A Rússia tem um modelo político mais centralizado que é uma resposta à globalização. É uma resposta à reordenação do mundo nesta década.
O ressurgimento da Rússia como ator político e os interesses de Putin de criar um colchão de proteção na antiga área de influência da URSS, deslocando inclusive tropas para a Ucrânia, podem levar o mundo a uma guerra contra a Otan?
Tanto para o Ocidente quanto para a Rússia, a Ucrânia é uma forma de fazer pressão. Não se pode criar um foco de tensão totalmente artificial. É preciso explorar um que já exista. A Rússia criou a União Econômica Eurasiática, na qual entraram Belarus, Cazaquistão, Armênia e Quirguistão. A Ucrânia estava para entrar. Naquele momento, com o preço do petróleo alto, Putin ia colocar dinheiro, que a UE não estava oferecendo. A entrada estava condicionada a mais reformas estruturais, o que comprometia a governabilidade da Ucrânia. Por isso, o governo do país cancelou essa negociação e aceitou a proposta de Putin, e a reação aconteceu. Para a Rússia, a entrada dos países bálticos na Otan já foi uma ameaça. A Rússia, ao contrário da China, não tem mais um partido que sirva de aglutinador da sociedade. Isso leva a um problema, porque Putin tem uma bancada (no parlamento), não um partido. E inclusive tem de fazer muitas concessões para a Igreja Ortodoxa. Ou seja, busca uma mescla, de elementos do antigo Império czarista e da época soviética, tentando criar uma imagem. E como solução o que há é um modelo político mais centralizado, que é uma resposta à globalização, mais nacionalista. Esse modelo ganhou força em outros locais do planeta, como nos EUA de Trump. Isso é mais do que um problema de uma pessoa, de um partido ou de um país. É uma resposta possível à reordenação do mundo.
O que há de socialismo hoje? Cuba, China, Coreia do Norte ainda podem ser consideradas assim?
O que caiu em 1989 foi o socialismo de tipo soviético-europeu. E caíram os regimes que, nos anos 1970, haviam se constituído em vários locais: Angola, Moçambique, Nicarágua, Afeganistão durou quatro meses mais do que a URSS. Eram países apoiados e mantidos pela URSS. Sobraram os asiáticos, Laos, Vietnã, China e Coreia do Norte, e Cuba. Cuba tem uma forma interessante de nunca se definir bem: é uma revolução socialista, nacionalista, terceiro-mundista, e joga em cada conjuntura de forma diferente, se reinventa. Já os países asiáticos que citei têm uma cultura confuciana, em que o comunismo não precisou desorganizar uma sociedade que existia, pôde se adaptar. A China até pouco tempo era dita como um sucesso porque era economia de mercado. Só de uns anos para cá, principalmente quando Trump começou a combater o déficit de comércio dos EUA, passou-se a dizer que ela é comunista, que não cumpre as boas regras da economia de mercado, usa corrupção no Exterior para conseguir contratos, usa mecanismos autoritários.
E esse ponto de atrito entre China e EUA pode levar a um conflito?
O ataque à Polônia, que deflagrou a Segunda Guerra Mundial, não era para valer. Foi um blefe que escapou do controle e virou uma guerra. A gente nunca sabe. O limite racional é não ir à guerra. A política tentada é essa, e Joe Biden está sendo mais duro do que Trump com a China e com a Rússia. Mas é mais fácil cutucar a Rússia porque ela é mais frágil, tem o PIB da Espanha. Na Rússia, só em 2020, no primeiro ano da pandemia, a população decresceu em meio milhão de pessoas. Vem declinando e envelhecendo. Para essas pessoas do leste da Ucrânia, Putin deu vacina e passaporte para todos. Isso quer dizer que, mais do que conquistar um pedaço de terra, para ele é fundamental ter gente.
O senhor concorda com a expressão “nova Guerra Fria” ou “Guerra Fria 2.0” para tratar da disputa entre EUA e China?
Não gostaria de usar essa expressão, porque aquela era mais ideológica e militar. Hoje a disputa é econômica. Há pressões, e os meios militares superiores são invocados a toda hora. Mas é uma questão de mercado. Ao longo da história, houve mais cooperação entre esses dois países do que conflito. Só que hoje os chineses querem um lugar de destaque. Isso pode acabar em uma negociação ou em tensão prolongada que pode levar ao conflito. O que seria terrível. Neste momento, é necessário um acordo para recuperar o crescimento econômico mundial pós-pandemia.
O que significa esse livro após 42 anos de docência?
Comecei lecionar cedo, tinha 24 anos. A ideia de falar de forma acessível ao público vem da experiência que adquiri lecionando História a quem não gostava de História em uma escola de Ensino Médio da UFRGS. Considero este um livro de maturidade. Tento trazer algo sensato para as pessoas recuperarem seu norte. Estou muito preocupado com a forma com que está havendo um suposto debate. Hoje não há debate, só confronto, e as pessoas mudam de opinião conforme a necessidade tática. Goya dizia: “O sono da razão engendra monstros”. Este livro é um ode à razão, ao racionalismo, tento explicar as coisas como são, e cada um vai julgar como quiser.
Governos dizem à população: ‘Vou lhes dar mais consumo’. Ao mesmo tempo, firmam pactos de proteção ao meio ambiente. Isso não dá certo.
O senhor testemunhou da queda do socialismo ao 11 de Setembro, passando por várias crises econômicas. Como vê as relações internacionais pós-pandemia?
Tivemos um período de mais de três séculos para formar o sistema no qual vivemos. Aí houve 50 anos de crise, até o fim da Segunda Guerra, quando não havia uma potência hegemônica, um modelo definido de sociedade. Foi quando os EUA, com inúmeros atributos, o principal deles um modelo econômico keynesiano aplicado a sua base industrial, tornou-se dominante. Agora atravessamos uma turbulência. O 11 de Setembro é consequência do fim da URSS, desequilibrou as relações internacionais. Elas eram previsíveis na Guerra Fria, e esse é outro motivo pelo qual não gosto de repetir o conceito. Vivemos um paradigma segundo o qual o mundo do trabalho foi revolucionado pela tecnologia. A política, que era estruturada naquele antigo mundo do trabalho, no qual a esquerda tinha seus sindicatos, montava um partido, uma agenda de gestão do sistema, desmoronou. A questão do meio ambiente e o hiperconsumo não são casáveis. Os governos dizem à população: “Vou lhes dar mais consumo”. Ao mesmo tempo, firmam pactos de proteção ao meio ambiente. Isso não dá certo. Há um conjunto de problemas que têm de ser revolvidos. Acho que a pandemia ajudou a colocar as questões na mesa para se encontrar uma solução societária: qual é o modelo social deste século? Como serão as relações entre as diversas partes do mundo com problemas que se tornaram globais, como a mudança climática? Esse é um foco de tensão muito maior: imagine cinco anos de seca no Paquistão e na Índia, duas potências atômicas. O que poderiam fazer para conseguir manter seus sistemas funcionando? Mas há mecanismos para se resolver isso. Cada um vai jogar cartas na mesa até o limite, e aí vai ter de haver um acordo. Não sou pessimista.








