
Durante um plantão na periferia de São Paulo, Joel Silva pediu autorização a uma senhora para fotografar o corpo do neto assassinado.
– É meu trabalho – justificou.
A mulher respondeu:
– Se vai fotografar só para fazer o seu trabalho, melhor não tirar a foto. Mas, se for mostrar para o mundo que meu neto morreu por causa das drogas, eu deixo.
Ali nascia o fotógrafo de guerra hoje aos 53 anos e 18 de carreira. Sua trajetória pelos principais palcos de conflito pelo planeta como profissional da Folha de S. Paulo, está no livro recém-lançado “Uma fresta de luz no porão da sociedade”.
À coluna, Joel falou sobre a obra e os bastidores de coberturas da Colômbia à Lìbia de Muamar Kadafi.

Como surgiu a ideia para o título?
De uma frase que falei em uma palestra, de uma reflexão: “Qual é a nossa função como jornalistas, como repórteres e fotógrafos?”. É exatamente essa: descer no porão da sociedade e trazer à luz aquilo que ela não consegue enxergar. Começo o primeiro capítulo falando de um crime na periferia que me despertou para mudar de ramo. Queria ser um fotógrafo de Copa do Mundo, de Olimpíada, e acabei seguindo por um lado mais social, de entender um pouco os problemas sociais do nosso país, do mundo.
Que crime foi esse?
Foi durante meu primeiro plantão no Notícias Populares. Um jovem de 14 anos foi assassinado por traficantes. A vó dele estava de frente para o corpo. Foi essa senhora que me despertou para fazer perguntas mais profundas. Eu pedi autorização para fotografar o neto dela morto. Ela perguntou: “Por que você quer fotografar meu neto morto?” Como forma de aliviar minha culpa, falei: “É meu trabalho, sou do jornal”. Ela falou: “Se você vai fotografar meu neto morto só para fazer o seu trabalho, melhor não tirar a foto. Mas se você for mostrar para o mundo que meu neto morreu por causa das drogas, eu deixo”. Essa frase foi marcante na minha carreira. A gente não tem de meramente ir ali fazer uma foto, publicar na primeira página e não se preocupar com aquilo. Como jornalistas, temos de ir mais fundo. Essa história me forçou a ir para o segundo capítulo, que é o da guerrilha colombiana, porque as drogas vêm da Colômbia. Foi minha primeira cobertura densa de conflito. Nesse segundo capítulo, que choro toda vez que leio, começo a me aprofundar nas questões pessoais. O livro é um mergulho no porão e em como isso afeta a gente.


O Brasil não tem tradição em jornalismo de guerra. Isso nos torna mais vulneráveis em uma cobertura no front?
Sim, acabamos adquirindo pouca experiência e treinamento. Nos EUA, os jornalistas vão muito mais preparados para uma situação de guerra: na questão tática, entender o que é o meio militar, como funciona. Até mesmo o exército americano tem abertura muito maior com a imprensa. Você pode acompanhar uma tropa americana em uma incursão no Iraque. Basta falar com um coronel ou general, e ele autoriza. É um procedimento mais simples. No Brasil, você vai ser constantemente vigiado. O Exército Brasileiro não tem essa habilidade com a imprensa. A gente passou por um regime militar, nossa relação ainda não é tão aberta. Na questão ética, tivemos poucas experiências: Joel Silveira (cobriu a II Guerra Mundial para os Diários Associados), José Hamilton Ribeiro (foi enviado ao Vietnã pela Revista Realidade). Com exceção desse tipo de cobertura que alguns jornais fazem esporadicamente, a gente não tem a cultura de coberturas internacionais. Inclusive passamos por um momento agora no qual estão fechando as correspondências mundo afora. Isso acaba prejudicando o jornalismo porque a gente não está lá com nossos olhos. Como você vai falar de uma guerra longe daqui se não tem um brasileiro para traduzir isso?
Qual a cobertura mais difícil?
O mundo árabe é muito mais complexo do que qualquer outro tipo de cobertura. No Oriente Médio, no Cairo (Egito) e na Líbia, foram extremamente complexas. A da Líbia foi a mais tensa por conta de vários fatores. Tivemos de sair correndo, os bombardeios aconteciam ao nosso lado.
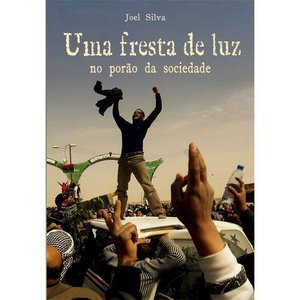
Qual é mais perigoso para um jornalista, o Oriente Médio ou o Complexo do Alemão?
O traficante não tem ética. Em uma guerra, existem leis que protegem os jornalistas. Se você for preso, tem o direito de ser tratado de uma certa forma. Isso é mais ou menos respeitado. A gente foi pego na Líbia pelo exército. Citamos nossos direitos, ok, foram aceitos e liberaram a gente sem muito trabalho. No Rio de Janeiro, a ética do traficante é a seguinte: se há uma incursão militar subindo o morro e houver um civil ao lado do soldado, ele vai atirar no civil, porque, atirando no civil, eles cessam o combate. É uma guerra muito mais injusta para os jornalistas. Tenho mais medo de cobrir os morros cariocas do que ir para a Síria. Nos morros cariocas ou na guerra urbana do Brasil, vejo que os bandidos matam uma pessoa para dar tempo de fugir.
Como foi o episódio em que você foi ferido no Egito?
No dia seguinte ao que cheguei em Israel, houve o massacre de 800 pessoas durante um protesto no Cairo. Embarquei, cobri o velório e, no outro dia, haveria o Dia de Fúria. É como manifestação no Brasil. Começou a ganhar corpo, começaram a jogar pedras. Resolvi ir para debaixo de um viaduto e comecei a fazer minha cobertura. Apoiei a câmera no concreto e dei aquela curvada no corpo, deixando um pedacinho da testa para fora. Começaram os tiros. Estava muito calor, 40ºC, colete, o capacete. Eu estava filmando quando um egípcio puxou minha calça e me mostrou uma bala. Ela ricocheteou no concreto, bateu na minha testa e no concreto atrás de mim e caiu no pé dele. Foi aí que eu percebi que estava ferido. Pensei que era suor, mas passei a mão e vi sangue escorrendo. Havia uma jornalista da CNN que viu tudo, estava vindo com a câmera na minha direção para me entrevistar. Meu reflexo foi tapar o rosto, meu primeiro medo foi de que aquela imagem chegasse logo à CNN. Eles iam distribuir aquilo e chegaria ao Brasil sem que eu tivesse tempo de avisar minha família de que estava bem.

Na Líbia, você quase foi atingido por uma bomba.
Encontramos um check-point. Desci do carro e subi em um morro de areia para ter uma visão mais ampla. Nisso, um caça rasgou o céu, fez um mergulho na cidade e despejou uma bomba. Eu fiz a foto do cogumelo bem pequeno. Pensei: “Já tem uma imagem que comprova que Kadafi estava bombardeando.” Até aquele momento ele negava. O caça já tinha dado a volta e despejou outra bomba bem na minha frente. Houve uma onda de choque. Consegui só ouvir o estrondo e o Abdulla (o tradutor e motorista da equipe) gritando: “Corre para o carro!”. Fui o último a entrar com o carro já andando. Só então olhei para a câmera. Em reflexo de fotógrafo, tinha captado quatro fotogramas. Percebi que havia feito uma foto sensacional. Não pela questão estética. Mas porque Kadafi negava para o mundo que estivesse bombardeando.
Não se trata de correr risco pelo risco em si, é preciso acreditar em algo maior?
É exatamente isso que o livro traz. O cara não vai colocar a vida em risco meramente porque gosta e acha aquilo glamouroso. A gente tem uma necessidade. O jornalista tem de carregar indignação com ele. Ela faz irmos a lugares mais difíceis para mostrar o que está acontecendo. O jornalista vai em busca dessa verdade. Quando digo descer no porão da sociedade é exatamente isso. Você vai descer lá e dizer para a sociedade o que está errado nela. Você atravessa fronteira de madrugada, vai acampar na selva colombiana, cobre golpe em Honduras, vai ao Haiti. Não é viagem de turismo. É uma viagem que você está colocando a sua vida em risco porque você tem uma necessidade de trazer uma verdade ou pelo menos parte desta verdade.

O livro é vendido apenas online, no site Livraria Bok2






