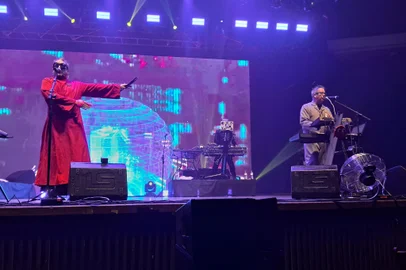O Brasil viveu, no período pré-pandemia, uma fase de assumido entusiasmo com a doação de órgãos, e a revisão estatística de diferentes programas de transplantes mostrou um crescimento promissor nos índices de transplantes. Em alguns Estados, com números mais expressivos, o que sempre dependeu do entusiasmo maior ou menor das respectivas coordenadorias, mas na média nacional o crescimento era inconteste.
Com a ocupação maciça das UTIs pelas vítimas da covid, os pacientes admitidos com diagnóstico de morte encefálica foram, compreensivelmente, entregues às famílias, abrindo vaga para muitos pacientes potencialmente recuperáveis da pandemia. Nesse cotejo entre o paciente irrecuperável por morte encefálica e o paciente com insuficiência respiratória por covid, que tinha pelo menos 50% de chance de sobreviver, a escolha parecia médica e eticamente adequada. E nem havia tempo de discutir o quanto o desperdício daquele doador potencial significava de morte anunciada para os desesperados receptores, que assim engrossavam as estatísticas de perdas não contabilizadas.
No programa de transplantes pulmonares da Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, responsável pela metade dos transplantes de pulmão feitos até hoje no Brasil, os números foram chocantes: depois de um ano glorioso, em 2018, quando chegamos a fazer 52 transplantes no ano, ou seja, um transplante por semana, os números despencaram para apenas 17 transplantes por ano em 2020 e 2021. Pela primeira vez, perdemos mais pacientes em listas de espera do que conseguimos transplantar.
É comovente o quanto um candidato a transplante se alimenta de esperança, e como a falta dela mexe com sua condição, comprometendo a relação afetiva.
Como recebemos brasileiros de muitos lugares onde o transplante pulmonar ainda é uma quimera, o comentário mais massacrante que ouvi nesses dois anos medonhos foi: "Doutor, seja sincero comigo. Se o senhor achar que não tenho chance real de ser transplantado, eu prefiro ir embora e pelo menos morrer perto dos meus".
Uma das questões mais deprimentes para um médico — e um exercício de impotência insuportável. Sem contar o efeito devastador na condição anímica da lista de espera: cada vez que morria um parceiro de infortúnio, derrotado na luta implacável contra o tempo, cada dia perdido sem conseguir doador aumentava a sensação de que não conseguiria.
É comovente o quanto um candidato a transplante se alimenta de esperança, e como a falta dela mexe com sua condição, comprometendo a relação afetiva, mesmo com as pessoas que representam a sua base de apoio emocional. Um candidato, completamente desesperado, desenvolveu um ritual de rezas que incluía vários santos e, quando se convenceu que não seria contemplado, atribuiu à má vontade divina, que "nunca me ajudou em nada", ter ficado para trás enquanto todos seus colegas de fisioterapia já tinham sido transplantados. E desabafou: "Depois que me chamaram ao hospital pela quarta vez, e como sempre os testes mostraram incompatibilidade, suspendi as rezas. Se Ele não quer me ajudar, que me esqueça".
Há cerca de 20 anos, o índice de doadores de órgãos por milhão de habitantes por ano passou a ser incluído nos parâmetros de desenvolvimento social de um Estado ou país, confirmando que, como somos uma sociedade gregária, não há possibilidade de estruturarmos uma vida feliz se o entorno estiver saturado de desespero, angústia, tristeza e solidão.
O atual índice de negativa familiar ao redor de 50% é assustador, especialmente depois da experiência recente de fragilidade coletiva diante da pandemia, que devia ter-nos ensinado o quando, individualmente, somos frágeis e insignificantes. A despreocupação com o sofrimento do outro é, por todos os parâmetros de pobreza, o mais eloquente, porque revela a tola pretensão de que a felicidade de cada um possa ser uma conquista isolada.
Louvando os movimentos sociais para recuperação de índices antigos, desencadeados pelo Ministério Público do RS, liderados pela doutora Gisele Monteiro, entristece perceber que o anúncio de que existem 66 mil brasileiros dependendo do transplante para viver parece impressionar menos do que antes. Como se a perda de 700 mil vítimas da pandemia tivesse anestesiado a sociedade, pela banalização da morte.