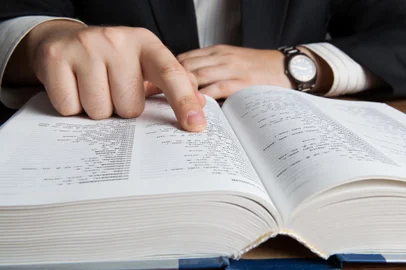A consulta vem de um leitor que não deseja ver seu nome publicado: “Professor, já passei da casa dos 90 e devo ser um dos mais antigos cruciverbalistas deste estado. Meu neto joga xadrez comigo, mas nunca se entusiasmou pelas palavras-cruzadas que resolvo, porque diz que são muito difíceis – e acho que são mesmo, pois essas novas gerações não sabem mais nem as capitais do mundo! Esses dias, porém, fui eu que me apertei: estava explicando que a palavra de cinco letras correspondente à definição “Flagelo de Deus” era Átila, o rei dos Hunos, e ele perguntou quem tinha dado esse título a ele. Nunca tinha pensado nisso: quem inventa esses nomes? Eu conheço centenas desses títulos, mas nunca me ocorreu perguntar quem, por exemplo, chamou José Bonifácio de “Patriarca da Independência”. Tem como saber a origem, ou é assim coisa trazida pelo vento?”.
Em primeiro lugar, parabéns pela metáfora – “coisa trazida pelo vento”. É mais ou menos isso. Os ventos espalham esses nomes – vamos chamá-los de epítetos – que foram se cristalizando espontaneamente na tradição cultural. Sua criação sempre obedece a uma relação lógica (por exemplo, na óptica da velha Europa, nada mais adequado que chamar as Américas recém-descobertas de Novo Mundo), mas pouquíssimos têm uma origem ou uma autoria conhecida. No caso de Átila, este personagem foi um bicho-papão do cristianismo medieval, o que lhe valeu a comparação com um flagelo (aqui no seu sentido primário de “chicote, açoite”). Há uma lenda de que o próprio Átila teria se apresentado assim a São Lupo, o bispo de Troyes, na França, que o demoveu de destruir a cidade. A hipótese mais plausível, no entanto, é a de Santo Isidoro de Sevilha (séc. VII): “Os hunos são o açoite da fúria divina. Cada vez que a cólera do Senhor se abate sobre os fiéis, são os hunos que vão se encarregar de castigá-los”. Quase tudo o que escreveu esse santo homem (hoje o maior candidato ao título de padroeiro da Internet) deve ser lido cum grano salis (literalmente, “com uma pedrinha de sal” – o equivalente erudito ao nosso plebeíssimo “com um pé atrás”), mas neste caso, ao menos, a lógica está a seu favor.
O problema é que esses epítetos, como o senhor mesmo notou, só funcionam quando o conteúdo cultural em que eles se baseiam é conhecido por todos. É necessário saber um pouco de História para entender que a Donzela de Orleães é Joana d’Arc, que o Grande Timoneiro é Mao Tsé-Tung (vou usar a transliteração tradicional, porque Mao Zedong é de amargar) e que a Dama de Ferro é Margareth Thatcher. Mesmo os mais fáceis vão perdendo o seu valor: qual o brasileirinho de doze anos saberia hoje que Planeta Vermelho é Marte, que Paris é a Cidade Luz e que Ouro Negro é o petróleo, e não um novo bombom da Lacta?
Infelizmente – ou não, para alguns –, as novas gerações não foram alimentadas com esses dados, ou, como o senhor mesmo lamentou, “não sabem nem as capitais do mundo”! Dessa forma, esses epítetos, outrora consagrados, vão perdendo inexoravelmente o seu valor como moeda de troca linguística. Isso fica muito claro naquelas pitorescas apelações que nossas cidades orgulhosamente atribuíam a si mesmas. Um visitante que não saiba que Rio Grande, a minha cidade, se autodenomina a Noiva do Mar pode estranhar que tantos estabelecimentos comerciais rio-grandinos, de borracharias a restaurantes, usem esse nome fantasia. Saber que Caxias do Sul se considera a Pérola das Colônias vai justificar, para os estudiosos, que ali se tenha produzido durante anos a famosa cerveja Pérola.
Além disso, a ação do tempo sobre a vida cultural e econômica também termina obscurecendo a lógica que presidiu a criação do epíteto. A situação geográfica fez algum ufanista apelidar Recife de Veneza Brasileira; sem querer desmerecer da capital de Pernambuco, digamos que a comparação chega a ser cruel. Levada pelo mesmo arroubo, São Luís, no Maranhão pré-Sarney, se autointitulou de Atenas Brasileira... Credo! E para não dizer que só falo dos outros, o que dizer então de Porto Alegre, que responde pelo enigmático nome de Cidade Sorriso?