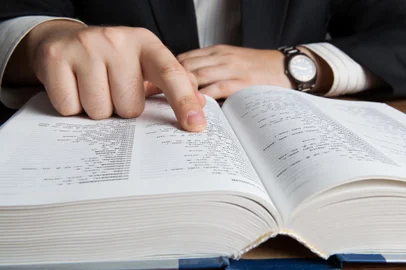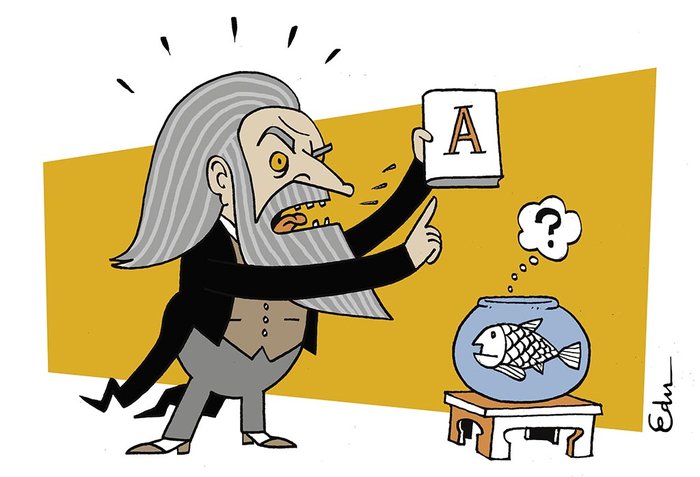
Em 1882, na abertura de seus Papéis Avulsos, dirigindo-se ao leitor, como de costume, Machado de Assis encerra assim sua apresentação: “Deste modo, venha donde vier o reproche, espero que daí mesmo virá a absolvição”. Ah, não deu outra: na edição seguinte, ele se sente na obrigação de acrescentar uma nota ao final, onde informa, com sua habitual elegância: “Cerca de dois anos para cá, recebi duas cartas anônimas, escritas por pessoa inteligente e simpática, em que me foi notado o uso do vocábulo reproche. Não sabendo como responda ao meu estimável correspondente, aproveito esta ocasião. Reproche não é galicismo” – e segue a explicação, citando autores clássicos e respeitáveis. Duas cartas em dois anos! E de um correspondente educado! Que inveja! Penso no frenético Facebook e imagino hoje o pobre Machado enfrentando aquela lista interminável de opiniões tiradas do oco do umbigo (para não citar outro oco mais ao sul) e de bordões como “Fora Temer” e “Lula na prisão”...
Mas a que se deve essa manifestação de Machado? Por que acusar o recebimento de uma banal carta anônima? A quem se dirigia, realmente, esta justificativa? Ora, sem dúvida alguma, ao clã dos puristas: no final do 2º Império, a extraordinária (e benéfica, a meu ver) influência da França em nossa cultura e em nossa língua começou a receber a oposição de uma seita de radicais conservadores, absolutamente xiitas, que bradavam, com muita vontade e pouca ciência, contra a adoção desses galicismos, termo despectivo com que tentavam fulminar os vocábulos franceses. Este grupo militante, é claro, pregava aos peixes, exaurindo-se numa causa equivocada, travada bem no momento em que mais forte foi sentida a influência do Francês em nossa vida (é significativo que um simpósio sobre a influência da cultura francesa no Brasil Imperial, ocorrido na USP em 2009, tenha escolhido como mote “O Século 19: um imenso galicismo”. Já o século 20, com as duas guerras e o cinema, traria, como sabemos, a ascensão vertiginosa do Inglês).
Para avaliar a extensão do equívoco dos puristas, imagine o amigo leitor que numa noite trágica nosso léxico fosse banhado por um raio desgalicizador, que eliminasse todos esses intrusos: ao acordar de manhã, você não poderia mais falar em abajur, avalanche, batom, bege, bijuteria, boate, boné, bufê, buquê, cachê, camelô, cassetete, chalé, chantagem, chique, chofer, creche, croquete, cupom, dossiê, filé, garagem, garçom, greve, guichê, lingerie, maiô, maionese, maquete, marrom, menu, omelete, placar, raquete, reprise, revanche, sutiã, toalete, tricô – e isso seria apenas a entrada, porque ainda faltariam os pratos quentes, a sobremesa e o licor. Alguns desses empréstimos eram desnecessários e apenas duplicavam palavras que já tínhamos; o tempo os eliminou, e só os consagrados sobreviveram.
Um caso curioso é rastaquera, que serve de título a esta coluna. Na aparência, poderia ser tomada por uma daquelas expressões de origem obscura, como brega ou mocorongo, por exemplo; no entanto, ela nos veio do Francês rastaquouère, termo usado para designar os novo-ricos latino-americanos que ostentavam sua riqueza e seu mau gosto na Paris no final do séc. 19. Incultos, ruidosos, inconvenientes, eles se carregavam “profusamente de joias – para faiscarem de longe”, diz Eça de Queirós (ele escreve rastaquère mesmo, despachando aqueles ditongos incômodos). Os dicionários mais rigorosos da França, no entanto, dizem que o termo é uma adaptação francesa do Espanhol rastracueros, literalmente “arrasta couros”, uma referência ao fato de que esses milionários da América Latina deviam sua fortuna principalmente ao comércio de couro. Não é para nos gabar, mas brasileiro foi usado por muito tempo na Europa como sinônimo para rastaquera, principalmente por causa dos emigrados que voltavam para o Velho Mundo com suas riquezas bem ou mal havidas, dispostos a tudo para “brilhar” na sociedade – até mesmo a enrolar um guardanapo na cabeça para executar, num restaurante grã-fino, aquela constrangedora dancinha que marcou, simbolicamente, o fim de Sérgio Cabral e sua quadrilha.