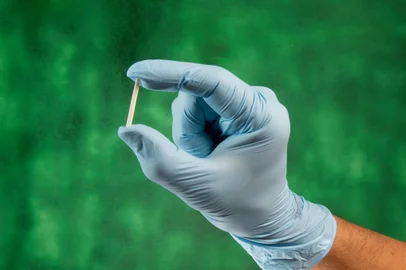Líder há cinco anos de um hospital que mais parece uma cidade, com quase 7 mil colaboradores e cerca de 18 mil pessoas circulando em suas dependências diariamente, a cardiologista Nadine Clausell não para. A médica concilia a rotina de diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) com as aulas que leciona para os estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e suas próprias pesquisas, na área de insuficiência cardíaca. Mesmo diante de uma rotina exaustiva, somada a cortes orçamentários na área de pesquisa, diz que não se arrepende de ter voltado do Canadá para trilhar sua carreira no Brasil – e segue acreditando em um futuro mais pujante para a ciência brasileira. Nesta entrevista, detalha as dificuldades de fazer pesquisa hoje, quadro agravado com a pandemia, e comenta sobre o desgaste causado pelo negacionismo.
Como têm sido os últimos dois anos? A rotina administrativa do hospital mudou muito?
Esses dois anos foram realmente uma surpresa, num certo sentido, porque ninguém havia passado por algo assim. Tivemos que aprender a lidar com a pandemia e os números de pacientes crescentes no Clínicas, que se tornou um hospital de referência aqui no Sul, ao mesmo tempo em que fazíamos uma grande reorganização, para que o hospital redirecionasse sua energia para atender essa demanda nova. Tivemos um desafio adicional no início da pandemia, que foi o de montar mais de cem novos leitos de CTI na nova área do hospital em questão de 40 dias, entre março e abril de 2020. Fazer com que tudo continuasse a contento e nos prepararmos para aquilo que até o momento era incerto e não sabido, em termos de intensidade, tempo e complexidade. Foi um aprendizado muito grande para as equipes e, o lado positivo, fez com que houvesse um sentimento de união enorme, de solidariedade, com grupos se organizando para ajudar os colegas. Um crescimento institucional, que veio junto com o estresse, o sofrimento, o medo e as perdas por que nós todos passamos.
Lidar com a saúde mental das equipes nesse contexto é desafiador?
Muito. No início, havia muito receio do desconhecido. Rapidamente, com a nossa área de psicologia e de gerenciamento de risco, montaram-se grupos que foram visitando as áreas onde havia os primeiros funcionários e pacientes internados, para lidar com aquela situação de insegurança. Isso desenvolveu um senso de pertencer a uma instituição que se mobilizou muito para cuidar de quem estava cuidando dos pacientes, o que acho que é um ganho, um legado. Essas pessoas foram reconhecidas em diversas instâncias pelos seus próprios colegas.
Pessoalmente, como tem sido a sua rotina no período?
Eu enxergo minha função de diretora-presidente do hospital como uma missão, um dever, e estou junto com todos o tempo inteiro, desde o início da pandemia, participando, cuidando das coisas da gestão, trabalhando com os pacientes, com os residentes. Os alunos foram afastados por algum tempo, mas, mais recentemente, voltaram, e eu reassumi as atividades de graduação. Para mim, o cansaço fica abstraído dentro daquilo que considero mesmo uma missão dentro da minha trajetória. Isso fica em segundo plano. Meu objetivo é dar o máximo pelo hospital, ajudar meus colegas e fazer com que todos se sintam amparados, com energia para superar tudo isso. É nisso que eu venho pensando nestes últimos quase dois anos. Não quero olhar para trás e me arrepender de não ter feito alguma coisa, então eu prefiro seguir com o pé no acelerador o tempo inteiro, e é isso que me move.
De que forma tem sido possível manter o ânimo das milhares de pessoas que trabalham no Clínicas, diante de uma pandemia que não tem data para terminar?
Existe inegavelmente um burnout muito grande entre os profissionais de saúde, não só no Hospital de Clínicas. Houve esforços muito grandes no ano passado de tentar de alguma maneira reorganizar as equipes para que alguns pudessem tirar férias. Fizemos organizações internas e rodízios para as pessoas se exporem um pouco menos. Nos esforçamos para estarmos muito disponíveis para a escuta. Na direção, dizemos que estamos em uma guerra: às vezes, tem pessoas que ficam feridas e a gente tem que trazer outras pessoas, que estão um pouco mais em segundo plano, para a frente. Acho que a ideia de que tentamos acolher o cansaço de todos é uma maneira de dar um pouco de energia, dizer “descansa um pouquinho, vamos respirar fundo”. O “descansa um pouquinho” pode ser um ou dois dias e tem que voltar de novo, mas o fato de estar atento para isso talvez seja uma maneira de mostrar solidariedade, e aí as pessoas relevam e vão adiante.
Existe inegavelmente um burnout muito grande entre os profissionais de saúde, não só no Hospital de Clínicas. Na direção, dizemos que estamos em uma guerra: às vezes, tem pessoas que ficam feridas e a gente tem que trazer outras pessoas, que estão um pouco mais em segundo plano, para a frente.
Como vocês têm lidado com o negacionismo? Afeta muito o trabalho dentro do hospital?
Ficamos tristes e preocupados, porque o negacionismo, do ponto de vista da vacina, ultrapassa o nível individual de decisão de vacinar-se ou não, e nós, profissionais da saúde, lidamos com isso o dia inteiro. Causa um certo desânimo ver que há pessoas que não conseguem enxergar o seu papel na sociedade. A vacina é uma questão de solidariedade, de entender que a minha decisão pode afetar o outro e, ao afetar o outro, eu posso sobrecarregar um sistema de saúde que vem muito assoberbado. Mas acho que não adianta o embate. Os dados estão aí, da ciência, da técnica. Aqui no Brasil, a tradição da vacina é muito forte, ainda bem. Mas o movimento antivax existe no mundo inteiro. O curioso é que talvez ele exista na medida em que as outras vacinas se tornaram tão parte do dia a dia de todos, desde criança, se vacinando para tudo, que muitas doenças foram praticamente erradicadas, então há gerações que nunca viveram o sarampo, os surtos de rubéola, a varíola. Aí as taxas de vacinação podem cair, e isso já está demonstrado em outras partes do mundo, essas doenças voltam e aí volta a taxa de vacinação a subir. Só que é uma discussão em que eu evito entrar, porque não é produtivo. A gente tem que seguir trabalhando sério e mostrando a importância da vacinação. Eu preciso botar o meu tempo para fazer as coisas funcionarem para o bem. Entrar em discussões ideológicas a respeito de vacina, de medicação, acho que não é produtivo. Os dados estão aí, eu e todos os meus colegas da área científica sempre repetimos os mesmos dados e a imprensa tem sido muito parceira em reproduzir aquilo que está bem embasado na ciência, e acho que é isso que vai nos fazer vencer essa pandemia.
Com todo esse aumento no debate público sobre ciência, há um interesse maior das pessoas em fazer pesquisa?
Não sei se há uma mudança nesse nível. Na área da saúde, das universidades e dos hospitais não há muita dúvida sobre onde reside a melhor evidência e o que tem que ser feito em termos de saúde pública durante uma pandemia. Isso é feito com tranquilidade clínica, e aqui somos mais um hospital seguindo essa cartilha, então quem está se formando na área da Medicina ou na área da Enfermagem já tem essa noção de para que lado é o norte da verdade científica. Isso não mudou agora. Não aumentou a procura por residência, por exemplo, em um hospital como o Clínicas. Os alunos viveram muito tudo isso que está acontecendo e eles são os primeiros defensores de vacina, das evidências, do distanciamento, da máscara, porque viveram na pele o afastamento imposto a eles durante esse período. Não mudou para eles o interesse em buscar uma carreira pautada pela evidência científica. Essa é a trincheira certa de lutar nessa guerra e eles estão do lado certo, pelo simples fato de que estão em uma escola de Medicina, de Enfermagem, de Farmácia, da área técnica, bem formados em boas universidades.
Causa um certo desânimo ver que há pessoas que não conseguem enxergar o seu papel na sociedade. A vacina é uma questão de solidariedade, de entender que a minha decisão pode afetar o outro. Mas acho que não adianta o embate. Os dados estão aí, da ciência, da técnica.
A senhora foi um exemplo de pessoa que saiu do Brasil para buscar uma formação e retornou. Por que a senhora voltou?
Essa é uma dúvida que eu não me permito mais ter, do porquê de eu ter voltado. Fiquei cinco anos fora, no Canadá, fiz minha formação de pesquisa em insuficiência cardíaca, transplante, meu PhD, tudo em Toronto. Minha volta se baseou em achar que eu tinha muito mais a contribuir aqui, em tentar trazer o que aprendi lá fora e ajudar a melhorar o meu meio, como forma de retribuição, porque eu fui com uma bolsa da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, entidade vinculada ao Ministério da Educação), em um primeiro momento, para fazer meu doutorado. Sempre achei que deveria voltar para implementar coisas novas e melhores aqui. Se eu olhar para trás, não me arrependo. Claro que é um caminho muito difícil. Talvez eu tenha implantado muito pouco do que aprendi lá fora até hoje, e já faz mais de 20 anos que voltei. Mas alguma coisinha eu acho que ajudei.
Como evitar a famosa “fuga de cérebros” do Brasil?
É uma missão difícil. É difícil convencer um jovem da área científica de que vale a pena apostar no Brasil em um momento de redução muito grande de financiamento de pesquisa, de bolsas de estudo, de fomentos para a inovação, de aquisição de novos equipamentos e de bolsas de doutorado e de mestrado, que é o que alimenta a ciência e é o que esses cérebros precisam desenvolver. O Brasil está passando por um período de perspectivas muito sombrias na área científica, e eu entendo que as pessoas queiram buscar em outros lugares do mundo a chance de se desenvolverem melhor, serem mais realizados profissional e socialmente. Eu gostaria de que ficassem para nos ajudar, porque, assim como eu, outros voltaram e continuam aqui tentando fazer mudanças. Tem gente que continua, mas tem gente que está terminando sua faculdade e não quer dar esse tempo de esperar. Porque as coisas são cíclicas e podem melhorar. Temos que olhar para frente, esperar passar um pouco essa pandemia e ter um pouco de esperança. Eu entendo que as pessoas sejam céticas com relação a isso, porque a realidade tem sido muito dura.
O momento é de cortes financeiros na área científica, mas, ao longo do tempo, o Brasil foi se tornando um país reconhecido cientificamente. Está melhor ou pior de fazer pesquisa hoje no Brasil, se comparado com quando a senhora iniciou?
Agora está pior. Houve cortes importantes na Capes, no CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Não se consegue avançar na ciência sem investimento em educação. Este período é muito difícil. Hoje, comparado com 20 anos atrás, está muito pior para avançar em projetos novos, buscar publicações internacionais. O Brasil tem um papel fundamental na América do Sul nas pesquisas na área de saúde e já teve um destaque maior. Hoje, o que tem são esforços individuais de grupos de excelência que não desistem do país e inclusive buscam fomento internacional e parcerias público-privadas para seguir com as pesquisas. A gente tem que ter energia para seguir apostando, para que os jovens enxerguem uma perspectiva. Sem isso, eles aplicam para uma bolsa no Exterior. Eu fiz isso também, mas decidi rapidamente que meu papel era voltar e, digo de novo, não me arrependo. Acho que muita gente pensa como eu, porque a maioria fica, aposta, segue investindo. São fases cíclicas. Espero enxergar um momento no Brasil de novamente ter uma ciência mais pujante. Temos que mostrar a importância disso, não só para a pesquisa, mas para o país como um todo.
O Brasil está passando por um período de perspectivas muito sombrias na área científica, e eu entendo que as pessoas queiram buscar em outros lugares do mundo a chance de se desenvolverem melhor. Eu gostaria de que ficassem para nos ajudar, porque, assim como eu, outros voltaram e continuam aqui tentando fazer mudanças.
Com os cortes, houve redução de pesquisas desenvolvidas no Clínicas ou a diminuição foi compensada com estudos sobre a pandemia?
Houve redução, sim, de número de projetos novos com fomentos públicos, especialmente. Houve redução de número de bolsistas, o pessoal um pouco cético de embarcar num mestrado ou doutorado, com receio de as coisas não andarem a contento. É um período de ceticismo em relação a isso. Temos no Clínicas uma área de pesquisa muito forte. Enquanto os projetos de covid-19 cresceram, e acho que isso é importante e foi uma oportunidade de desenvolver uma área significativa, como a de vacinas, outras áreas foram ficando mais acanhadas. O balanço geral é de uma redução nas atividades de pesquisa. Mas acredito que isso é transitório. Continuo mantendo um certo otimismo, de que vamos encontrar saídas e voltar a ter um papel mais importante na área da ciência.
A senhora foi reconduzida ao cargo de diretora-presidente do Clínicas em julho de 2020. Nesse tempo, deixou algum projeto parado por conta da sobrecarga ligada à pandemia?
Alguns alunos de mestrado e doutorado tiveram dificuldade de continuar algumas coletas de dados e atrasos, porque todo mundo ficou assoberbado, o que não tem necessariamente a ver com o fomento. Acho que direcionamos muito a atenção para a pandemia, o que também fez com que houvesse certo sofrimento e retração nas defesas de mestrado e doutorado. Comigo não foi diferente. Eu também me direcionei bastante para isso. Eu estava recém assumindo a direção no início da pandemia e isso impactou. Minha energia ficou muito voltada para o aspecto covid-19. Eu esperava poder retomar isso agora, desde o final do ano. Mas ainda não conseguimos nos organizar suficientemente para retomar o que ficou para trás, do ponto de vista de projetos e artigos para escrever. É uma certa frustração que fica, mas eu quero crer que a gente vai acabar retomando em algum momento. Espero que a gente consiga, neste ano ainda, dar uma respirada e fazer outras coisas que não covid-19.
Que tipos de projetos?
Eu trabalho especificamente na área de insuficiência cardíaca e transplante de coração. A pandemia impactou nos nossos projetos de coleta de dados, levantamento de perfil de risco dos pacientes com insuficiência cardíaca, o que poderíamos ter de queixas de pacientes que tinham complicações, pré-transplante com hipertensão pulmonar, então tínhamos todo um projeto de avaliar esses pacientes, fazer intervenções com alguns tipos de cateterismo. Isso tudo foi muito impactado. São exames que demoram para ser feitos, a gente precisou desativar algumas áreas do hospital. Assim como ocorreu comigo, com outros também precisaram abrir espaço para aquilo que a covid-19 nos demandou. Nossa área de projetos de pesquisa, do meu grupo, especificamente, ficou impactada. Já a nossa área de atuação especificamente em transplante se reduziu muito, se tornou praticamente a metade do que vínhamos fazendo antes. Isso desmotiva o grupo. Foi bastante frustrante tudo o que a covid-19 impactou nas nossas atividades que eram o nosso dia a dia no hospital.
Passamos mais de um ano com os alunos afastados do hospital, com aulas online e trabalhando com modelos de simulação. Essa é uma perda importante na formação, que eles não vão recuperar nunca mais.
Como se concilia a função hospitalar de atender pacientes com covid-19 e a função de hospital-escola que o Clínicas acumula?
Especialmente na Medicina, que tem alunos no hospital desde o quarto semestre, os estudantes foram bastante impactados. Passamos mais de um ano com os alunos afastados do hospital, com aulas online e trabalhando com modelos de simulação. Essa é uma perda importante na formação, que eles não vão recuperar nunca mais. Infelizmente, vai ficar uma lacuna na formação de uma geração, pelo menos na área médica. A residência médica também foi bastante impactada, porque reduzimos muito as atividades ambulatoriais e as cirurgias. Teve residente que passou quase dois anos de uma residência que tem no total dois anos envolvido com covid-19 e teve um contato com sua área de interesse primária muito restrito. Na área cirúrgica, nem se fala. O residente da cirurgia precisa operar, e o nosso bloco cirúrgico foi seriamente impactado. Isso também não se retoma. Por outro lado, trabalhou-se bem mais com modelos de simulação, que é algo bastante contemporâneo e muito utilizado em várias outras universidades mundo afora, e com a área de teleatendimento.
O que fica de reflexão para o futuro, pensando no que houve nos dois últimos anos?
À parte todo o cansaço que estamos sentindo, não podemos perder de vista que estamos no meio de uma batalha, que ainda é preciso trabalhar muito, mas quero acreditar que vamos sair com aprendizados de tudo isso. Que vamos nos recuperar e voltar a ter um investimento forte em educação, saúde, ciência e o Brasil vai voltar a ser um país que vai poder encantar com essas coisas e fazer as pessoas quererem ficar aqui para seguirem ajudando no desenvolvimento. Essa fase vai passar, a pandemia vai passar. Nós temos que seguir firmes nas nossas convicções e seguir trabalhando seriamente.