
Desavença que levou ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot a planejar a morte do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é mais uma entre dezenas de episódios sangrentos que marcam a trajetória da política brasileira. Janot não disparou, mas a história está bordada por casos em que o sangue foi derramado:
A morte do pai de Brizola
Um dos mais antigos episódios de desavenças pessoais e políticas resolvidas à bala aconteceu na região norte do Rio Grande do Sul, em 1923. À época, o Estado era conduzido com mão de ferro por Borges de Medeiros, o homem que por mais tempo exerceu o cargo de governador gaúcho: 25 anos. Ele era o líder do Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), cujos adeptos usavam lenços brancos e eram conhecidos como chimangos. Em 1923, os maiores adversários desse grupo, os maragatos do Partido Libertador (famosos por usarem lenços vermelhos) desencadearam uma revolução, com apoio de alguns dissidentes republicanos. Foi a segunda guerra gaúcha em 30 anos — a primeira foi entre 1893 e 1895, tendo os mesmos grupos em lados opostos.
Os maragatos perderam no campo de batalha, mas conseguiram uma vitória política ao convencer Borges a não se candidatar à reeleição em 1928. E assim foi pacificado o Rio Grande.
Antes do acordo de paz, porém, ocorreram diversos acertos de conta. Um deles foi no interior de Carazinho, em outubro de 1923. Tropas do coronel chimango Vitor Dumoncel, o Tutucha, natural de Santa Bárbara do Sul, decidiram se vingar de um desafeto maragato, o pequeno fazendeiro José Brizola, o Bejo. Ele teria atacado propriedades dos Dumoncel durante a guerra civil. A versão foi confirmada a GaúchaZH por descendentes dos Dumoncel.
José Brizola foi cercado por um piquete dos chimangos e se entregou. Junto a ele estava sua família, incluindo o filho menor, Leonel Itagiba Brizola, que seria futuro governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Os guerreiros do lenço branco amarraram Bejo a um pé de laranjeira e o fuzilaram. Outras versões, nunca comprovadas, falam em degola. Quando vivo, o governador Brizola evitava falar no assunto, embora confirmasse a morte do pai por fuzilamento.
Assassinato no Congresso
Em 4 de dezembro de 1963, o então senador Arnon de Melo (PDC de Alagoas) disparou três tiros contra um inimigo político, o senador Silvestre Péricles (Partido Social Trabalhista, também de Alagoas), dentro do Senado Federal. Errou todos. Péricles estava na tribuna, a cinco metros de distância, e também sacou sua arma, mas teve seu braço desviado por um colega. Não foi atingido e nem atingiu ninguém. Os disparos de Arnon de Melo, porém, acertaram no peito do senador José Kairala (PSD do Acre), que morreu em seu último dia de trabalho, sem sequer ter qualquer envolvimento com a briga.
Logo após os tiros, o senador Arnon e seu desafeto Péricles foram presos em flagrante. Mesmo com o homicídio e as testemunhas, ficaram presos pouco tempo e foram inocentados pelo Tribunal do Júri de Brasília, já que ambos alegaram legítima defesa.
Apesar do assassinato, e ainda que tenha sido dentro do Senado Federal, na presença de inúmeras autoridades, Arnon de Melo não teve seu mandato cassado nem qualquer punição imposta pela Mesa Diretora. Arnon migrou para o partido do regime militar, a Arena, e foi senador até 1982, quando morreu. Já Péricles se mudou para o MDB e tentou diversas vezes ser deputado federal, sem sucesso. Morreu em 1972.
Governador tenta matar ex-governador
Em 5 de novembro de 1993, dois coronéis da política nordestina se enfrentaram e um levou a pior. O episódio aconteceu na Paraíba. O então governador Ronaldo Cunha Lima (PMDB) disparou três tiros contra o seu antecessor, o ex-governador Tarcísio Burity (então no PFL), quando este almoçava com amigos no Restaurante Gulliver, em João Pessoa. Os disparos atingiram a boca e o tórax do político.
O episódio sangrento aconteceu porque Cunha Lima não aceitou as duras críticas e acusações que Burity fez ao seu filho Cássio Cunha Lima, na época titular da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em um programa de televisão local.
Tarcísio Burity ficou vários dias em coma, mas conseguiu sobreviver ao atentado. Ele morreu 10 anos depois, vítima de falência múltipla dos órgãos e de parada cardiocirculatória.
Ronaldo Cunha Lima nunca chegou a ser preso. Após ser governador, ele se elegeu deputado federal. Ao renunciar ao cargo, o caso criminal voltou à estaca zero, na Justiça de primeira instância. Antes que acontecesse qualquer julgamento, Cunha Lima morreu, de câncer, em 2012.
Dois assassinatos a mando de ex-deputado
Dois crimes de sangue marcaram a história de Soledade, cidade do Planalto Médio gaúcho, em meados da década de 2000.
O primeiro aconteceu em plena Câmara de Vereadores, em 12 de setembro de 2003. O ex-deputado do Partido Libertador e ex-presidente da Assembleia Legislativa Gudbem Borges Castanheira e seu irmão de criação, Elpídio Ferreira, estavam decididos a interromper o depoimento de um ex-amigo do político, Antônio Carlos Moraes Casagrande. Esse teria ameaçado contar segredos de Gudbem, inclusive sobre suas desavenças de campanha e assassinatos políticos.
Elpídio sacou um revólver e descarregou diversos tiros contra Casagrande, à luz do dia e na frente dos frequentadores da Câmara. A vítima morreu no local. Ele foi preso em flagrante, e Gudbem também foi indiciado pelo crime.
As investigações mostraram que ambos planejaram a morte de Casagrande. Os dois irmãos foram condenados — Elpídio a 14 anos de reclusão, Gudbem a 18 anos.
Quando foi condenado pela morte de Casagrande, Gudbem já estava preso por outro assassinato, do advogado Júlio César Serrano, também desafeto político. Esse crime foi em setembro de 2005.
Serrano foi surpreendido em frente a uma das praças principais de Soledade. Sem proferir qualquer palavra, o pistoleiro Aniceto Almeida atirou contra a vítima e fugiu. O advogado costumava circular com colete à prova de balas, mas naquela noite não estava com essa proteção. Morreu no local.
A Polícia Civil logo localizou e prendeu o pistoleiro, que confessou fazer parte de um complô liderado por Gudbem. Até um pistoleiro em Foz do Iguaçu (PR) teria sido contratado para o serviço, que custou R$ 22 mil. As investigações resultaram na prisão de quatro homens, que acabaram condenados: dois contratantes do crime, um executor e o ex-deputado Gudbem.
O ex-deputado cumpriu três anos e meio de prisão, um sexto da pena, antes de voltar livre à sua terra natal. Morreu num acidente doméstico, ele caiu de uma escada, em 2012, aos 86 anos.
Duelo termina com duas mortes em Bagé
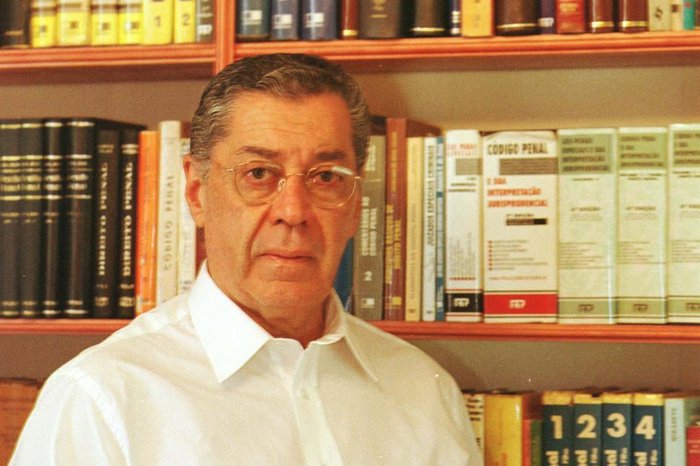
Ligado ao trabalhismo, Mathias Nagelstein voltou a morar em Bagé após o golpe civil-militar de 1964, quando foi cassado das suas funções de procurador federal concursado. De volta à fronteira gaúcha, passou a fazer política e se elegeu vereador na cidade pelo MDB. Sua notoriedade era crescente, sobretudo pela habilidade para discursar e desafiar o regime da tribuna.
Ao mesmo tempo em que sua popularidade era alavancada, subia também a temperatura de uma ferrenha disputa com os militares locais. O principal desafeto de Nagelstein, à época, era o coronel Jackson Reed Costa. O ano era 1970, tempos em que a honra ainda era lavada com sangue, o que sugeria um final trágico para a querela.
— No dia do fato, o coronel fez um anúncio a pedido no jornal, escrevendo coisas horríveis, com ofensas inclusive aos meus avós, algumas até de caráter racial. O meu pai ficou indignado com aquilo e saiu. Eles acabaram se encontrando na rua e ambos estavam armados — conta Valter Nagelstein, vereador de Porto Alegre e filho de Mathias.
O duelo aconteceu no centro de Bagé, em frente ao Cine Teatro Capitólio. O coronel estava acompanhado de um aliado chamado Lourival Bueno. Apenas Mathias restou vivo do tiroteio.
— Uma bala pegou na boca e outra no ombro. Uma delas atravessou o corpo do coronel e acertou o coração deste aliado, que estava atrás. Não era algo do qual o pai se orgulhava, mas também não se envergonhava. Foi uma circunstância que, infelizmente, aconteceu — rememora Valter.
Terminada a batalha, Mathias voltou para casa, relatou à família o que tinha acontecido e ligou para o delegado, se colocando à disposição. Pouco depois, em vez da Polícia Civil, o Exército batia à porta para levar Mathias preso. Foram dois anos e três meses de cárcere. Logo no princípio, enclausurado em um batalhão das Forças Armadas, Mathias recebeu a dica de um soldado simpatizante: outros militares planejavam lhe matar em vingança.
O homem pediu ao soldado que lhe arrumasse papel e caneta para redigir uma carta. O próprio soldado se encarregou de levar a missiva aos familiares do detento. Um tio se deslocou de forma urgente por toda a madrugada até Porto Alegre para apelar ao então Secretário de Justiça, Octávio Germano, o qual telefonou imediatamente ao comando do Exército para determinar a transferência de Mathias para uma prisão civil em Bagé. Dias depois, um engenheiro da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) supervisionou a construção de uma cela especial para Mathias na intenção de resguardar sua vida.
— Ele acabou virando advogado de tudo quanto era preso em Bagé, andava armado dentro da cadeia e, quando ia tomar banho, deixava um apenado de confiança na porta fazendo guarda — relata Valter.
Mathias foi a júri popular duas vezes, fazendo sua própria sustentação oral de defesa, sendo absolvido. Prevaleceu o entendimento da legítima defesa. Mathias faleceu em julho de 2018, em Porto Alegre, aos 81 anos.
O juiz que deu voz de prisão ao chefe de Polícia
Na primeira metade dos anos 80, um juiz lotado em Sapucaia do Sul, Luiz Francisco Corrêa Barbosa, passou a se notabilizar por determinar apreensões de bens e valores de grupos criminosos ligados ao tráfico de entorpecentes. Dinheiro, pequenos aviões, embarcações. Tudo estava bloqueado e sob guarda da Justiça, nos chamados depósitos judiciais.
O próprio Barbosinha, como o personagem é conhecido, conta que, paralelamente às ações, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) celebrou um convênio com a extinta Caixa Econômica Estadual permitindo que a Justiça "carreasse recursos de depósitos judiciais para a Caixa Estadual, os quais poderiam ser usados na concessão de empréstimos aos magistrados".
— Eu era do conselho deliberativo da Ajuris e fui contra isso. Estavam usando dinheiro das partes para benefício pessoal. Eu me rebelei, votei contra, mas só fui acompanhado por um conselheiro — recorda Barbosinha.
Ele recorreu à Assembleia-Geral da Ajuris, quando foi novamente derrotado. Ele disse, então, que ingressaria com ação popular contra o convênio entre Ajuris e Caixa Estadual.
— De fato, entrei com a ação. E fui expulso da associação. Queriam acesso aos depósitos judiciais que estavam sob meu controle, mas eu tirei tudo da Caixa Estadual e mandei para o Banco do Brasil — diz.
Barbosinha rememora que, depois disso, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça determinou o seu afastamento das funções.
— Um corregedor foi lá me notificar. Eu disse que não aceitaria. Fizeram uma sessão secreta e determinaram a minha prisão por crime de exercício funcional ilegalmente prolongado. Isso porque eu me recusava a cumprir o afastamento — relata.
A partir disso, forças policiais foram mobilizadas para encarcerar o então juiz Barbosinha em Sapucaia do Sul.
— Mandaram a polícia me prender no gabinete. E eu prendi a polícia. Dei voz de prisão e ficamos trancados dentro do gabinete. Quem foi lá era o chefe de Polícia da época, o Antônio Diniz Alves de Oliveira. Tinha batalhão de choque, cavalaria, toda a imprensa e o raio que o parta. Foi um fiasco — recorda.
Tudo isso se arrastou desde o início de uma tarde de trabalho até as 5h do dia seguinte. Barbosinha, alegando estar preocupado com "uma tragédia", encaminhou um acordo: pediu que a população que acompanhava o rebu no local dissipasse e que o batalhão de choque fosse retirado.
— Às cinco da manhã, eu me declarei preso. Fui para o regimento Bento Gonçalves, na Avenida Aparício Borges, e fiquei lá por um dia e meio preso. Aí o tribunal revogou a prisão — conta.
No final, Barbosinha foi colocado em "indisponibilidade remunerada". Recebia o salário de juiz, mas não podia atuar. Se dedicou à política, virou prefeito de Sapucaia do Sul pelo PTB nos anos 90, e depois direcionou o fico à advocacia.
Assassinato transmitido ao vivo na rádio
O deputado estadual Euclides Kliemann (PSD) desafiou adversários políticos para um debate ao vivo na Rádio Santa Cruz, homônima ao município do Vale do Rio Pardo. O tema era o financiamento da pavimentação de uma avenida da cidade. Somente um parlamentar topou o debate: o vereador Floriano Peixoto Karan Menezes (PTB).
Era 1963. Kliemann fez o seu pronunciamento primeiro e, depois, se retirou do estúdio, embora ainda estivesse nas dependências da emissora. Ouvia o seu desafeto promover ataques contundentes. Até que, dado momento, Menezes associou Kliemann à morte de sua esposa, que tinha acontecido meses antes.
O deputado se descontrolou e invadiu o estúdio gritando, transtornado, "essa não" e gesticulando com a mão. O fato desconhecido era que Menezes portava um revólver no casaco. O petebista sacou a arma e passou fogo, atingindo o pulmão de Kliemann. A rádio transmitiu a morte ao vivo.
O homem da Capa Preta

Tenório Cavalcanti, alagoano de nascimento, dominou a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, nos anos 50 e 60. Foi deputado estadual e federal pelo Rio, tendo concorrido ainda ao governo estadual. Ao longo da história, foram atribuídos a Tenório pelo menos 25 crimes violentos. Ele ficou notabilizado por andar sempre armado com uma submetralhadora, apelidada por ele de "Lurdinha". Como mantinha a arma escondida sob uma capa, ficou conhecido pela alcunha como "o homem da capa preta". Com esse perfil violento, aterrorizava adversários políticos.
Um dos casos mais rumorosos atribuídos a ele foi o assassinato do delegado Albino Imparato, que comandava uma caçada policial a Tenório nos anos 50. Acabou assassinado a tiros de metralhadora. As investigações comprovaram a participação de Tenório no caso, mas ele jamais foi indiciado pelo crime, o que historicamente é imputado às amizades políticas do pistoleiro. A trajetória de Tenório inspirou o filme "O homem da capa preta", de 1986, tendo José Wilker no papel do político matador.




