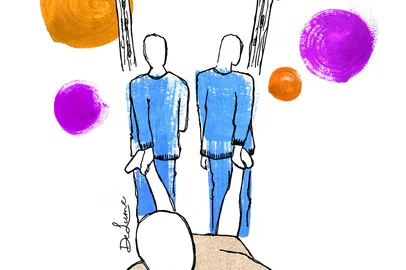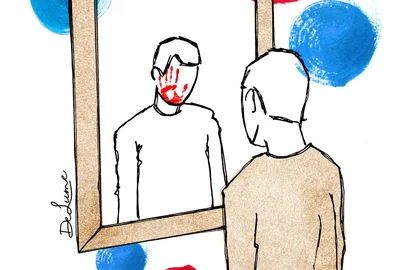Pensei muito sobre o texto que faria esta semana. Sendo a crônica um gênero pautado no cotidiano, eu poderia escrever sobre o avião que caiu e deixou dezenas de mortos em São Paulo, ou até mesmo sobre o falecimento de um dos maiores comunicadores do país, Sílvio Santos. Entretanto, a minha decisão foi escrever sobre decidir não escrever sobre nada disso — porque de textos póstumos piegas e pedantes o mundo já está cheio.
Essa sensação me acompanha há mais de uma década, aliás. Foram diversas as vezes que pensei que seria deveras mais fácil escrever algo tocante e trivial sobre um fato recente, despertando lágrimas e consequentemente compartilhamentos, do que falar sobre o inesperado. O mesmo acontece com livros — basta ver que os romances mais vendidos, ou até mesmo as obras de autoajuda, são reciclagens de algo que já foi feito e espremido ao máximo, só que agora com uma capa diferente. É fácil fazer algo que venda e atraia leitores despreocupados com a profundidade — tão fácil que a escrita assistencialista sempre funcionou e vai continuar funcionando.
Aqui, o caminho bifurca. Há sim o lado da escrita que serve apenas para colocar em palavras aquilo que a grande massa, não tão apta ao exercício de escrever, também sente. É a escrita como um serviço prestado, e talvez todas as escritas no mundo se encaixem nesse quesito. O que difere, então, é o propósito com o qual determinadas palavras foram empregadas — escreve-se porque se sente, ou se escreve porque a venda é garantida?
Existe escritor que espera uma tragédia para escolher meia dúzia de palavras bonitas e discorrer sobre, de um modus operandi que qualquer chat de inteligência artificial faria (ainda melhor, aliás). As linhas floreadas trazem uma poesia de botequim que transforma as manchetes sangrentas de programa policialesco em uma homenagem que devora as redes sociais das tias que desejam prestar condolências. “E se eu estivesse em tal avião que caiu? E se essa tragédia fosse minha?” — é a escrita de identificação em sua forma mais mesquinha.
Contudo, a verdade é uma só: todo mundo gosta de feijão com arroz. Quase todo mundo, aliás. Sendo assim, é mais fácil apostar no garantido do que inventar moda. “Por que não falar sobre o que todo mundo está falando?”, pensa o escritor que está constantemente crente de que todos estão à espera de seu pitaco superficial regado a uma dose extra de drama — este, exportado diretamente daquela novela mexicana que ninguém assiste mais porque, assim como tudo, existiu e se repetiu tanto que cansou.