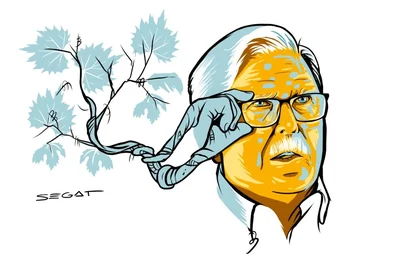Assim que vi a cena, dei-lhe um nome, como a um filme inteiro: A Esperança Equilibrista. Mas a minha associação, fruto da fina metáfora da letra de Aldir Blanc, era mais literal ali, no show de um artista de rua em cima de um frágil tamborete num cruzamento urbano de Caxias do Sul. Diante dos carros parados pelo semáforo, ele fazia malabarismos com três bastões em chamas. Findo o número, descia do diminuto palco, apagava o fogo no asfalto e ia de chapéu em punho, em busca de moedas que não vieram de nenhum dos condutores. E chovia e chovia, por isso pude ver a mesma cena se repetir várias vezes de meu oportuno abrigo sob uma marquise.
Malabares de fogo numa hora dessas, meu rapaz? Talvez esse meu julgamento tenha sido o mesmo dos tantos motoristas que sequer abriram o vidro ao artista molhado. E talvez minha rejeição imediata já viesse moldada pela irritação que eu sentia por ter confiado no sempre traiçoeiro clima caxiense e deixado o guarda-chuva em casa. Ah, quando a gente tem um compromisso nalgum lugar e chove no caminho, não há Fernando Pessoa que nos convença da beleza de um dia chuvoso. A gente quer é reclamar desse entrave aos nossos sempre urgentes propósitos. Foi nesse estado emocional ranzinza que eu notei o jovem com seus malabares na chuva.
E foi com clara ironia que chamei a cena de A Esperança Equilibrista. O show era ruim. Eu já tinha deparado com apresentações assim noutras esquinas, sob tempo bom e à noite, quando tudo fica realmente espetacular. Por isso achei aquela atuação bem pobrezinha, não por culpa do artista, mas pelas circunstâncias. Um homem molhado em cima de um banquinho, chamas mixurucas em luta com a chuva oblíqua, o trânsito sob os nervos de uma segunda-feira às onze da manhã... Não, não era hora daquele show. E cobrei silenciosamente do artista mambembe um mínimo de bom senso, quase dando razão à indiferença dos motoristas.
E a chuva continuou, e a cena se repetiu a cada sinal vermelho, e o homem nem aí para as águas frias do céu nem para o chapéu sempre vazio. E fui ficando hipnotizado por aquele inusitado ritual, pela expressão até contente do artista, alheio a tudo o que o podia frustrar – mas não frustrava. Foi aí que meu título para a cena foi perdendo o veneno. E fui me enredando na sutil beleza daquele inusitado e até comovente confronto entre o mau tempo a irritar o entorno e a alegre dedicação de um homem num palquinho fazendo arte mesmo com fogo fraco. De tanto olhar, olhei melhor, até olhar diferente. No fim, já sentia compaixão por aquele doido que se fazia gigante diante da pequenez a que reduzimos a vida quando não a controlamos!
Não que eu tenha processado as coisas assim na hora. Mal a chuva amainou, saí ligeiro dali, esquecendo artista e cruzamento, rumo ao meu compromisso. Cheguei a tempo, o resultado do que seria tratado foi ótimo. No caminho para casa, de espírito leve e lavado, é que fiquei a ruminar a experiência de ter passado da ironia maldosa a um sincero elogio no nome que dei à cena do artista na chuva. Sim, respeitável público, a esperança é equilibrista. Caiu? Machucou? Azar! Sobe de novo e retoma o show. Ninguém atirou um níquel? Azar! Outras pessoas hão de chegar. O tempo piorou? Azar! O show de todo verdadeiro artista sempre precisa continuar.
Esperança é essa magia que nos lança sem proteção no fluxo do tempo com a promessa de um sucesso futuro, mesmo que tudo sinalize o contrário. E vez em quando a danada se revela em luzinhas acesas na próxima esquina.