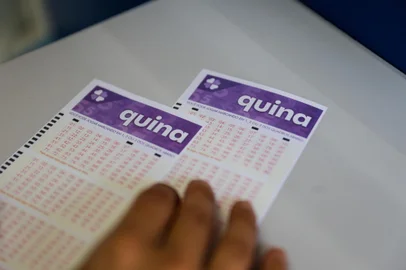As herbemont, que a família chamava de champanhe, eram as minhas preferidas. Era uma alegria quando os grãos miúdos caíam e rolavam pelos desníveis do pátio da casa do nono e da nona. Pareciam bolinhas de gude que eu nunca aprendi a jogar. Alguém dizia que aquela não era a melhor variedade. A Isabel, sim, que era boa.
A pequena produção de uvas — pequena mesmo — era dividida entre os vizinhos. O vô Fermino enchia uma cesta e batia de porta em porta oferecendo a fruta do seu mini parreiral. Ele fazia o mesmo com as verduras da horta cultivada nos fundos de casa, em um terreno cedido por onde eu gostava de correr com meu vestido branco com fitas amarelas.
No verão, a videira trazia sombra refrescante. Era embaixo dela que a família e os amigos se reuniam para jogar conversa fora. E comer uva, claro! Quando o outono chegava, vó Gusta reclamava. É que sempre sobrava para ela varrer e recolher as folhas que caíam e deixavam nossa parreira nua.
Apesar das queixas, no final do inverno começava a mobilização para o ritual que garantiria a próxima safra. A poda era tarefa do meu avô e depois foi repassada ao tio Nelson, o irmão mais novo dele. Isso até o tio Nelson errar o corte e acertar o fio de energia elétrica. Levou um choque, mas, felizmente, não foi nada grave. Porém, acharam melhor não chamá-lo novamente.
Foi num dia ensolarado de primavera que a vó me confidenciou, com nossa videira como testemunha, a dor de ser a última de dez irmãos a morrer. "Todos já se foram e eu aqui". Lembrou ainda dos namoradinhos e amigos que também já haviam partido. Fiquei triste e a abracei.
A parreira já não está mais lá. Cumpriu seu ciclo. Assim como meu vô e minha vó.
* Aproveito a época de vindima para compartilhar essa crônica, escrita em junho de 2021. Hoje, uma nova videira, plantada por minha mãe no mesmo local, garante a módica safra da família.