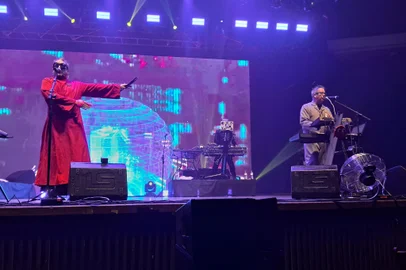Um dos cinco brasileiros a ocupar por duas vezes o cargo de ministro das Relações Exteriores durante a República, Celso Amorim foi o que ficou por mais tempo no cargo. Computados os 18 meses sob a presidência de Itamar Franco e os oito anos do governo Luiz Inácio Lula da Silva, o embaixador nascido em Santos (SP) permaneceu por quase uma década à frente do Itamaraty. Deixa para trás até mesmo José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, patriarca da diplomacia brasileira.
O título do mais recente livro de Amorim, Teerã, Ramalá e Doha - Memórias da Política Externa Ativa e Altiva, lançado este ano, é uma síntese de seu legado. Após palestra na UniRitter, em Porto Alegre, no dia 12, o diplomata símbolo dos anos Lula (também foi ministro da Defesa no primeiro governo de Dilma Rousseff) fez um balanço da política externa brasileira e avaliou o cenário de crise que cerca o Palácio do Planalto.
Quais foram os principais acertos e erros do Brasil no período que o senhor define como de política externa "ativa e altiva"?
Vou ficar nos acertos, porque dos erros vocês já trataram abundantemente! O Brasil trabalhou de maneira intensa pela integração da América do Sul, o que é uma coisa muito importante, não só na parte econômica, mas na parte política: uma criação de confiança entre os países (e eu me permito dizer que, mesmo como ministro da Defesa continuei trabalhando nisso, ou seja, remover a hipótese do conflito do horizonte das nossas considerações) que o Brasil já não tinha, outros países também. A aproximação com os países africanos, uma redescoberta - não fomos os primeiros, mas, assim, com ênfase - das nossas raízes. Além de ser a região que mais cresce no mundo, a África, ao contrário do que se possa pensar, é uma região que tem futuro também econômico, apesar das dificuldades. Enfim, a abertura do Brasil para outros horizontes - os países árabes, parte do livro, que ocupam hoje uma posição importante no nosso comércio. Se você for verificar, essas estatísticas foram feitas depois da minha gestão e mostram que, apesar do que os críticos dizem, os países onde o Brasil abriu embaixada recentemente foram os países onde o comércio mais cresceu proporcionalmente. Claro que o comércio total com os Estados Unidos já é maior, e mesmo outros em que nós reforçamos a presença. Tudo isso é no terreno da cooperação Sul-Sul, que não exclui a cooperação com o Norte. Ao contrário, foi durante esse período que o Brasil ofereceu um diálogo estratégico aos Estados Unidos, coisa que não havia. Estratégico significa não conversar apenas sobre bilateral ou regional, mas sobre o mundo. Estabeleceu-se uma parceria estratégica com a União Europeia. Ela a tem com poucos países, talvez uma meia dúzia - e a pedido deles! Eu acho que foi um período de desenvolvimento enorme de relações com países como a China e a Índia. Claro que a China cresceu muito, então isso talvez se desenvolvesse de qualquer maneira, mas "surfamos" um pouco essa onda também. Então é difícil você reduzir a poucas coisas, em poucas palavras, a política externa. Eu diria que, de modo mais geral - e por isso a expressão "ativa e altiva" - não ter medo de dizer não, mesmo para uma grande potência, quando é necessário dizer por defesa do seu interesse. Não temer fazer agrupamentos de países que possam reforçar uma posição de maior independência. E também, digamos, não ficar inibido de não só reagir à agenda, mas de fazer a agenda internacional.
Uma crítica à política externa dos anos Lula tem sido a de que tentamos dar o passo maior do que a perna, ou seja, não teríamos densidade diplomática e estratégica para participar de iniciativas como a negociação em Teerã, da qual o senhor foi um dos protagonistas.
Essa crítica é infantil, porque não nos voluntariamos, fomos instados, como eu disse, a participar. Fomos instados por várias personalidades e países, como, por exemplo, o ex-diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Mohammed El-Baradei, que eu conhecia de longa data, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz - ele foi um dos que nos incentivaram a participar. E, diga-se de passagem, depois que houve o resultado, ele disse: "Se os países proponentes do acordo não aceitarem isso, é porque não querem aceitar um sim como resposta". É uma brincadeira com a expressão inglesa "não aceitar um não como resposta". Então, quer dizer, esse é o El-Baradei, obviamente muito qualificado. O mesmo comportamento teve, sobretudo no incentivo, a alta representante da União Europeia, Catherine Ashton, e fundamentalmente o presidente americano, Barack Obama, que foi quem nos pediu! Agora, se as condições políticas nos Estados Unidos foram outras e eles preferiram não fazer, é uma coisa que acontece. Mesmo assim, nós mostramos uma coisa muito importante: mostramos que era possível. Eu cito sempre, está mencionado no meu livro, um artigo de uma pessoa que não conheço chamada Anne-Marie Slaughter, que foi a chefe da Assessoria de Planejamento da Hillary Clinton, que era secretária de Estado na época em que o Brasil assinou a Declaração de Teerã junto com a Turquia e com o Irã. Em 2002, mais ou menos, quando o risco de uma solução militar parecia muito iminente, com pressão sobre os Estados Unidos - ou para bombardear, ou para aceitar que Israel bombardeasse - que parecia muito forte, muita gente começou novamente a dizer: "Olha, será que tem uma saída?". E ela escreveu um artigo no Financial Times em que disse: "Está na hora de a gente voltar a olhar aquele acordo que a Turquia e o Brasil propuseram". Então não vejo, de maneira nenhuma, como uma diminuição do Brasil - aliás, isso só ocorre no Brasil! Mesmo os comentaristas internacionais, nessa época, mesmo os que não concordavam com o acordo, que achavam que ele era ineficiente, afirmavam o contrário. Eles diziam: "Bom, de qualquer maneira, Brasil e Turquia se afirmaram como atores internacionais importantes". Então, sinceramente, eu acho essas críticas... bom, vamos dizer que são infantis, porque não chegam a ser ofensivas.
Não teria havido uma manobra americana no sentido de utilizar o Brasil para iniciar um processo de diálogo e depois, no momento decisivo, afastá-lo e deixar o assunto nas mãos dos EUA e da União Europeia?
Não estou dentro da cabeça das pessoas, mas não tenho razões para crer que um presidente dos Estados Unidos fosse escrever uma carta para o presidente do Brasil, país grande, do mesmo hemisfério, digamos assim, e para o primeiro-ministro da Turquia, país membro da Otan, com uma malandragem dessas. Não é possível. Acho que, quando ele escreveu a carta, estava sendo sincero. E a carta foi três semanas antes do acordo. Se houve alguma outra contingência e depois pesaram outras... Você sabe que, no governo, se jogam muitas batalhas ao mesmo tempo. De repente, ele próprio achou melhor não seguir essa batalha naquele momento, ele tinha o Obamacare, tinha outras coisas, e até eleição legislativa. Não sei que considerações terão passado pela cabeça dele. Agora, mesmo que isso fosse verdade, o Brasil não foi lá a fim de glória, foi a fim de cooperar pela paz. Se isso aconteceu e isso ajudou a mostrar que o acordo era possível, e se, dois a três anos depois, as conversações foram retomadas, ótimo!
Não caberia, da parte do Brasil, uma posição mais ofensiva em favor da paz na guerra civil na Síria?
Olha, o Brasil é a favor da paz. Qual era a posição mais dura? Armar os rebeldes. Muitas armas que foram entregues aos "rebeldes moderados", se é que eles existiam na época, acabaram na mão do Estado Islâmico (EI). Isso é sabido, não estou inventando, isso está em qualquer jornal americano. Então, quer dizer, o que é ser a favor da paz? Se o Brasil tivesse sido chamado para ajudar no diálogo, acho que deveria participar. Já disse isso, acho que foi uma pena o Brasil não ter enviado - não é que isso fosse decisivo naquele ano, mas, digamos, no final de 2013, início de 2014, não me lembro mais, eu não era ministro do Exterior, era ministro da Defesa. O ministro brasileiro foi convidado a participar e não foi, foi o secretário-geral. Acho que foi até com uma boa intenção, mas obviamente faz uma diferença nessas reuniões se você tem o titular ou se você tem o substituto. Então, acho que isso, na minha modesta opinião, foi um erro, mas um erro tático, um erro que será corrigível a longo prazo. Nas votações, o Brasil reagiu bem. Você ter países como o Brasil, a Índia, a África do Sul, que não apoiam facilmente um ataque militar, mas que, pelo contrário, propõem o diálogo, até ajuda num diálogo entre o "Ocidente" (se quiser, a gente pode falar dessa maneira) e países como Rússia e China, que talvez sejam ainda mais intransigentes do que nós em relação a certas soluções. Não faço críticas à posição brasileira. Bem, no período em que eu estava lá, o presidente Bashar al-Assad era um ator fundamental. Então, o Brasil estava empenhado em ajudar no diálogo, como outras pessoas estavam empenhadas em ajudar no diálogo. Infelizmente, digamos, na questão da Síria, há várias questões que não têm a ver com um problema só de democracia. Se você perguntar a opinião da maioria dos cristãos na Síria, eles vão defender o Assad, porque é um governo laico. Embora ele seja alauíta, é um governo laico. Então, se eu for perguntar à maioria das pessoas descendentes de sírios que moram no Brasil, a maioria, pelo menos os que eu conheço, preferia Al-Assad. Não quer dizer que esteja certo, mas é uma coisa complexa, não é tão simples, não é uma discussão entre democracia e ditadura. Havia ali problemas de facções religiosas, de outras ligações muito complexas. Claro que o ideal teria sido também, digamos, o governo sírio se prontificar ao diálogo, mas houve uma aposta nisso? Não creio que tenha havido. A ausência total, na época, de diálogo com o Irã tornava isso impossível. Quem sabe agora ajuda. Pena que já morreram 200 mil pessoas, e nem sei se é possível reconstituir. Não sei, não posso me pronunciar sobre isso. Reconstituir a Síria como uma nação vai exigir um grande esforço, não é simples.
A descoberta de operações de espionagem de uma agência americana em relação ao Brasil deixou sequelas nas relações bilaterais entre os dois países?
Eu estava no governo na época em que isso aconteceu, era ministro da Defesa. Vi a reação da presidenta Dilma Rousseff, muito apropriada e correta, de não ter ido a Washington naquele momento, quando o próprio telefone dela tinha sido vasculhado, objeto de espionagem, além da Petrobras e do Ministério de Minas e Energia. Como não estou participando agora, não sei o que terá sido dito a ela que inspira confiança de que isso não voltará a ocorrer ou pelo menos não vai ocorrer da mesma maneira. Isso só sei pela imprensa, de modo que não posso discutir. Agora, é claro que a espionagem, na escala em que foi praticada - considero que, pelo que sei, continua sendo praticada -, não ajuda nas boas relações entre os países. Acho que você, na busca por uma segurança absoluta, acaba criando uma insegurança absoluta, porque você gera inimigos, gera rivais.
Como o senhor vê o quadro na Venezuela?
O quadro obviamente inspira alguma preocupação pela divisão que existe na Venezuela entre governo e oposição. Posso falar só a partir de minha experiência que foi a situação que nós encontramos em 2003, aliás, já no final de 2002 quando houve a transição de governo. Aliás, os presidentes Lula e Fernando Henrique se entenderam sobre certas medidas que tinham de ser tomadas naquela transição, como, por exemplo, o envio de um navio com combustível, porque houve uma greve que impedia a entrega do petróleo da PDVSA (Petróleos de Venezuela, estatal venezuelana de petróleo). Desde então nos ocupamos muito naquela época, criamos o Grupo de Amigos da Venezuela, um grupo de amigos mais próximos do governo e outros países que eram mais próximos da oposição e esse processo que durou muito tempo chegou a bom termo. A Venezuela tem uma cláusula que não sei se muitos países têm, mas é a cláusula peculiar do referendo revogatório, o Chávez permitiu que essa cláusula fosse usada, houve uma votação, e ele ficou, com observação do Brasil, da OEA e do Centro Carter. Durante todo esse tempo estimulamos o diálogo. Falei com várias pessoas, gente do governo obviamente muitas vezes, mas falei com gente da oposição. Esse diálogo é muito necessário. É muito importante que se dê segurança à Venezuela de que ninguém está querendo derrubar um governo que foi constitucionalmente eleito. Agora, as eleições têm que ocorrer bem. Isso é fundamental. Qual é a medida que se tem que tomar? Não posso dizer, pois isso é com quem está vendo o dia a dia, sei que a Unasul tem tratado do assunto. Todos os países são muito zelosos da sua soberania. Como é que você consegue soberania com, digamos, uma visibilidade internacional, que evite o seu isolamento, evite outras ações, é sempre uma questão complexa que tem que ser resolvida. Não tem uma receita. Agora, não faz sentido, no momento em que os Estados Unidos estão se aproximando de Cuba, abrindo sua embaixada lá, que haja uma relação hostil com a Venezuela. Isso é uma coisa que tem que ser superada. E tenho certeza de que existe no governo americano muita gente que pensa dessa forma também. Acho que, da parte da Venezuela, também tem de haver uma disposição do governo venezuelano, uma disposição ao diálogo com a oposição. Isso é a nossa posição, sempre foi.
Isso inclui libertação de presos políticos como Leopoldo López e o prefeito de Caracas, Antonio Ledesma?
Acho que presos políticos são algo meio incompatível com a democracia. Não conheço todas as acusações que existem sobre Leopoldo López.
A jornalista brasileira Amanda Rossi publicou o livro Moçambique - O Brasil é Aqui, no qual faz um panorama da presença brasileira em Moçambique. Diz que o Brasil se aproximou de Moçambique com um discurso de solidariedade e hoje seria visto por uma parte da sociedade moçambicana, como "igual aos outros", ou seja, às velhas potências. Qual é a sua opinião?
Acho que a questão dos investimentos em países africanos é complexa, evidentemente, e tem muitos aspectos. Há relatos de que eles estão um pouco com saudades do tempo em que o Brasil tinha recursos para emprestar para que obras pudessem ser feitas. Então, essa reação contrária não é unânime, pode ser de uns certos setores. Concordo que é preciso ter todos os cuidados. Lembro que visitei, em uma das vezes em que estive em Moçambique com o presidente Lula. Não me recordo se eram as casas dos operários ou das pessoas que foram deslocadas feitas pela empresa que não nos pareciam adequadas. Isso foi dito à própria empresa: "Olha, essas casinhas estão muito modestas, vocês têm de fazer uma coisinha um pouco melhor". Bom, é o que a gente pode fazer e no que a gente pode influir positivamente. De um modo geral, estive em Moçambique recentemente como ministro da Defesa, mais ou menos um ano atrás, talvez até um pouco menos, quando o ministro da Defesa virou presidente da República. Não senti essa hostilidade. Pode ser que em alguns casos tenha havido. Bom, como ocorre dentro do Brasil, né? Quer dizer então, essas coisas são polêmicas em qualquer lugar. É complexo em Belo Monte, e é complexo no Vale do Zambeze. Muitas obras eram desejadas pelos moçambicanos ardentemente. Quer dizer, portos de água profunda, hidrelétricas. Não é uma coisa assim que o Brasil chegou lá e inventou umas obras para ganhar dinheiro.
As relações entre o Ministério das Relações Exteriores e empresas como Odebrecht, Mendes Júnior e outras ocorreram de forma adequada nesses países?
Tanto quanto eu sei, sim. O que posso assegurar é que nunca houve promiscuidade nessas relações. Apoio as empresas brasileiras como qualquer governante ou ex-governante apoia as empresas de seu país. Quando a Raytheon Company foi candidata aos radares do Sivam, o presidente (dos Estados Unidos), acho que era o Bush pai, mandou uma carta para o presidente Itamar. É uma coisa totalmente descabida as pessoas acharem que apoiar as empresas brasileiras é contra o interesse nacional ou contra a lei. Apoiar as empresas é uma coisa absolutamente normal, é até um dever da diplomacia brasileira, do governo brasileiro, dos governantes e até mesmo dos ex-governantes. Não vejo nenhum problema nisso. Se você apoiar uma coisa ilegal, sabendo que é ilegal, aí é outra questão. Eu não conheço nenhum caso desse tipo. Não vamos misturar as coisas. Os erros, os ilícitos cometidos, devem ser apurados tanto aqui como em qualquer outro lugar. Agora, partir daí para uma dedução de que o Brasil tem de deixar de apoiar, isso seria a delícia de nossos concorrentes.
Como o senhor definiria a crise política brasileira atual?
O Brasil amadureceu muito na sua visão democrática. Isso tem que ser o fator predominante. Claro que existem sempre alguns setores mais raivosos. Pedem até intervenção militar. Seria o pior mal que se faria aos militares. Os militares brasileiros querem ser profissionais, desempenhar suas funções, defender a pátria, estar nas fronteiras, fazer Operação Ágata, ir ao Haiti, ter uma fragata no Líbano ajudando a Unafil. Com relação ao, digamos, mainstream da política, tem de prevalecer o bom senso. Temos de aprender a conviver com a diferença. Tem de haver diálogo entre Executivo e Legislativo em benefício do país. Pode haver crítica, mas não pode haver atitudes combativas, de ser contra só porque foi proposto pelo governo. Há essas denúncias de corrupção e de propina que devem ser investigadas até o fim pela Justiça. Mas também a Justiça tem de ter os princípios de equidade, direito de defesa, essas coisas que nós todos conhecemos. Não podemos deixar que isso contamine o diálogo político. É um oportunismo você tentar usar isso para manobras anticonstitucionais. Antecipar eleições, fazer coisas que não estão previstas na nossa Constituição? Tem de haver diálogo, e o tempo vai decantando. Confio muito que a presidenta Dilma é uma pessoa honesta, correta, e acho que ela tem intenção de fazer o melhor pelo país.