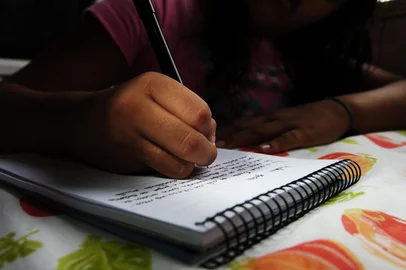Pesquisador e professor da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, o brasileiro Paulo Blikstein, 50 anos, se impôs o desafio de dedicar a vida a estudar como a tecnologia pode propiciar uma aprendizagem emancipatória e democrática. Apesar de acreditar no potencial das ferramentas tecnológicas como via de acesso a novos sonhos e projetos de vida, o estudioso defende que elas devem sempre vir acompanhadas de um investimento ainda maior na formação de professores para esses recursos, e que ensinos remotos ou híbridos na Educação Básica só funcionam como complemento. Ele será um dos palestrantes da Mostra Sesi Com@Ciência, que ocorrerá nos dias 5 e 6 de outubro, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre (inscrições em gzh.rs/SesiCom).
Na pandemia, foram feitas experiências com o uso de tecnologias no ensino. Mas, ao mesmo tempo, os estudantes apontam uma grande dificuldade e até um desinteresse no modelo remoto. É possível um ensino remoto que seja interessante e de qualidade?
A resposta mais curta é não. Eu acho que o ensino remoto só se justifica em situações de muita emergência, quando você tem um desastre ambiental, uma pandemia etc. A gente sabe pelas pesquisas que, principalmente na Educação Básica, a presença física na escola é muito importante. A criança precisa estar lá, com professores, humanos, da convivência social e até da escola como um espaço que a ajude a focar a própria atenção. Na Educação Básica, a gente tem que ter muito cuidado com essas ideias, por exemplo, de que é melhor porque é digital. Agora, é claro, há exceções. Muitas vezes, no Ensino Superior, você pode usar o ensino remoto em mais situações. Quando você combina o ensino presencial e algumas coisas remotas, desde que essas coisas remotas também sejam bem desenhadas, pode ter um benefício. Mas uma escola que é primordialmente remota, ou metade remota, a evidência que a gente tem hoje é de que não funciona.
O que pode ser remoto?
O que eu defendo é o ensino remoto não como substituição à hora-aula na escola, mas como um complemento para permitir outros tipos de coisas. Imagine que você tem uma aula de Química e aí você vai para casa e o professor te dá instruções para fazer um experimento, por exemplo, medindo a qualidade da água da torneira. Há essas possibilidades interessantes de se expandir o aprendizado em casa, mas que não são aprendizado remoto, no sentido de assistir a uma aula em casa, no celular. Hoje em dia não só adolescentes, mas adultos vivem uma crise de atenção. Os próprios adultos têm dificuldade de sair do telefone para trabalhar, de serem interrompidos a cada dois minutos com mensagens. Hoje é muito mais difícil você se concentrar em uma tarefa, então imagine para uma criança, que ainda não desenvolveu essas habilidades metacognitivas de concentração, de monitoramento da própria aprendizagem, assistir a uma aula de, por exemplo, Matemática, que é um tema difícil, no celular, sendo interrompida por 35 mensagens por minuto. A gente tem que pensar mais em novas possibilidades que têm mais a ver com projeto, com experimentação, mais do que em aulas remotas. Até porque uma coisa é falar de ensino remoto ou ensino a distância num lugar como a Finlândia, onde 90% das famílias têm internet banda larga e computadores. No Brasil, esse número é de 40%, mais ou menos. Então, quando a gente pensa em educação remota ou híbrida como política pública num país como o Brasil, é uma coisa preocupante e até irresponsável, porque você está excluindo metade das crianças de uma experiência básica de aprendizagem.
Como democratizar o acesso à educação?
Quando você pensa em política pública, tem de que pensar em como prover acesso à internet e a equipamentos para as crianças poderem acessar esses materiais. A gente tem essa ilusão de que, por uma coisa estar na internet de graça, automaticamente está democratizada, mas não é verdade, porque pode ter um vídeo, uma aula de Matemática na internet de graça, mas, para você acessar esse vídeo, precisa de banda larga, um equipamento, uma estrutura em casa, um quarto com silêncio... O fato de haver coisas de graça na internet não significa que a gente democratizou a educação, porque você precisa ter as condições certas de consumo desse material, e essas condições são distribuídas de forma desigual na sociedade. É o papel do Estado prover essas condições de forma mais igualitária.
O fato de haver coisas de graça na internet não significa que a gente democratizou a educação, porque você precisa ter as condições certas de consumo desse material, e essas condições são distribuídas de forma desigual na sociedade.
Há tendência, com essa necessidade crescente de tecnologias para a educação, de que essa desigualdade entre escola pública e privada aumente?
Sim, e exatamente por esse equívoco, de achar que colocar coisas na internet já democratizou. Você não vai à escola só para assistir a uma aula. Vai para, muitas vezes, ter apoio de alimentação, de saúde, o apoio humano dos professores, que te conhecem e que vão te ajudando a aprender. A escola é um lugar onde há várias outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. E isso é muito importante principalmente para crianças que vêm de famílias com mais dificuldades.
O Brasil é um país com muitos problemas financeiros, muitas dificuldades de garantir até o mínimo. Como um país assim consegue investir em educação?
Podemos pensar no exemplo da saúde. Hoje, a gente não fala mais no Brasil que, se a pessoa tem uma doença cardíaca e precisa de uma cirurgia extremamente cara e não tem dinheiro, deve-se deixar a pessoa morrer. É um pouco isso que temos que pensar na educação. Claro, a educação é cara, exige cada vez mais equipamentos e pessoas bem treinadas, mas a gente vive num mundo em que dá muito valor para a igualdade de oportunidades. É uma questão também ética e moral de uma sociedade que diz para si mesma que não vai deixar ninguém morrer de uma doença curável, e a gente não vai deixar uma criança sem ser educada. E daí a gente faz as decisões de organização social para fazer isso acontecer. A gente cobra impostos das pessoas, das empresas, para fazer esse país acontecer. Ao mesmo tempo, em alguns lugares, às vezes há secretarias de Educação com recursos, mas que acabam investindo mal. Tem empresas que chegam lá e falam “ah, compra essa lousa eletrônica aqui que é muito legal”, mas não tem nenhuma pesquisa mostrando que ela é efetiva, e muitas secretarias acabam sendo levadas a gastar recursos preciosos em coisas que não têm efetividade.
Investir bem seria gastar em metodologias com o uso de tecnologias que tenham uma comprovação pedagógica mais forte?
Seria gastar em coisas que têm pesquisas, evidências de que funcionam, e não nas coisas que estão na moda. A gente vê muitas secretarias que compram equipamentos que não são muito adequados para educação, para criança, um pouco enganadas por empresas ou organizações que querem simplesmente vender. Um caso clássico são as lousas eletrônicas. Tem umas que são caríssimas, às vezes custam R$ 50 mil, e há cidades onde elas nunca saíram da caixa, porque os professores nunca foram treinados e porque não há comprovação em pesquisa de que elas são tão melhores do que as lousas normais. E não é só no Brasil. Há outros países onde se comprou muita tecnologia educacional sem nenhuma pesquisa ou comprovação de eficácia e aquilo fica encaixotado. Outra coisa importante é que, para cada real ou dólar gasto em um novo equipamento, você precisa em média de oito ou nove gastos em treinamento e na parte humana. E não é o que a gente normalmente vê. Normalmente, a pessoa compra o equipamento e acha que o projeto já terminou. Imagina se você compra num hospital uma máquina de ressonância magnética de milhões de reais e não ensina o médico a usar?
Um dos principais investimentos tem sido em robótica. Qual é a importância da robótica no ensino e como os órgãos públicos podem incentivar essas atividades nas escolas públicas?
A robótica hoje vai muito além de construir robôs. Ela é mais sobre construir invenções, diferentes dispositivos para resolver problemas do dia a dia. O importante na robótica é que você está aprendendo a programar, a engenharia de criar os mecanismos, as diferentes partes físicas do projeto, e também está aprendendo o processo de desenho e resolução de problemas. Então você quer resolver um problema, você cria uma primeira solução, testa, não funciona, daí você redesenha e assim por diante. É uma atividade em que você aprende muitas coisas: as coisas mais técnicas de computação, de engenharia, e as coisas de resolução de problemas, de prototipagem, de design. É uma atividade superinteressante, mas tem um modelo de colocar robótica na escola que é você comprar cinco kits extremamente caros e importados e aqueles kits ficam lá, cinco kits para 1,5 mil alunos. E daí quem usa aqueles kits é um clubinho de 10 alunos que já gostam de robótica, de engenharia, de exatas. Esse é um modelo que eu acho que, hoje, já não tem muito lugar na escola pública. Outro modelo é você comprar coisas de mais baixo custo para poder ter mais unidades, e daí, em vez de ser um clube de robótica, você incorpora esses equipamentos na aula normal. Você tem aula de Ciências que faz uma atividade com sensores, motores, por exemplo. É importante a gente quebrar um pouco esse fenômeno de clube do Bolinha, do clube da robótica, que normalmente são meninos, brancos, que já têm pais engenheiros, e fazer uma coisa mais inclusiva. E, para fazer de uma forma inclusiva, você precisa fazer para a sala toda. Hoje a gente tem muitas tecnologias de baixo custo de robótica pelo mundo, algumas também no Brasil. Aí inclui as meninas, que às vezes falam que não são boas em robótica, pela construção histórica da divisão de gênero com as profissões, ou uma criança negra que fala que não é boa em robótica porque nunca viu um engenheiro negro. Às vezes a pessoa nunca teve a oportunidade de se apaixonar por aquela área. Tem todas essas construções históricas sexistas e racistas sobre as profissões, de qual a imagem do engenheiro, do cientista que hoje, no mundo todo, as pessoas estão lutando muito para diversificar. Para a menina falar: “Não, eu quero ser engenheira, eu quero programar”.
O Novo Ensino Médio, implementado a partir deste ano, surgiu com a ideia de trazer mais o mercado de trabalho e o conhecimento do século 21 para a sala de aula. O que o senhor acha desse modelo?
Eu acho que um Ensino Médio mais flexível é positivo, mas tem uma questão de equidade muito importante que ainda não foi equacionada. Nos Estados mais pobres e nas escolas com menos infraestrutura, você possivelmente vai ter só um itinerário, que é o básico, e, nas regiões mais ricas, com mais condições, terá vários itinerários. Essa desigualdade é uma coisa que o Estado precisa consertar. Só porque a criança teve o azar de nascer numa cidade onde não tem, por exemplo, itinerário formativo de engenharia, ou de exatas, ou de cultura digital, ela não vai poder fazer esse itinerário. Precisamos urgentemente atacar isso, senão as regiões que já têm uma educação melhor vão ficar com uma educação ainda melhor e as que não têm, com uma educação ainda pior. E esse Ensino Médio precisa apontar para as profissões do futuro, e não do passado. Vão ser oferecidos cursos profissionalizantes como itinerários formativos, mas esses cursos têm que ser para as profissões que os jovens querem, as profissões do futuro, e não para as profissões do passado ou para profissões que logo vão ser substituídas por máquinas ou por inteligência artificial. Tem que ser um Ensino Médio que permita ao jovem sonhar. A gente não pode falar “olha, você nasceu na cidade X, então você só tem essa possibilidade na vida de carreira”. A gente tem que ter políticas públicas que permitam que o jovem possa seguir a carreira, o sonho, e aprender o que ele ou ela queira aprender, independentemente de onde esteja geograficamente. É um modelo que tem coisas interessantes, mas que ainda precisa ser refinado e consertado, porque, do jeito que está, pode aprofundar alguns aspectos de desigualdade educacional e de oportunidades.
A desigualdade é uma coisa que o Estado precisa consertar. Só porque a criança teve o azar de nascer numa cidade onde não tem, por exemplo, itinerário formativo de engenharia, ou de exatas, ou de cultura digital, ela não vai poder fazer esse itinerário. Precisamos urgentemente atacar isso, senão as regiões que já têm uma educação melhor vão ficar com uma educação ainda melhor e as que não têm, com uma educação ainda pior.
O senhor vai dar uma palestra na Mostra Sesi Com@Ciência, onde haverá muitos alunos. Estamos em um momento em que há relatos de alunos desesperançosos, pessimistas com o futuro. Como se “reativa” no jovem a esperança no futuro?
Tenho trabalhado muito com o Sesi do Rio Grande do Sul, visitei as escolas do Sesi e é um trabalho belíssimo que eles fazem de oferecer um Ensino Médio de alta qualidade para uma população que muito precisa dessa educação. É um exemplo para o Brasil e até para o mundo. Dito isso, nessas escolas que visitei, eu fui, por exemplo, a aulas de Ciências e de Matemática em que você praticamente não via nenhuma diferença de interesse entre meninas e meninos. Ou mesmo na aula de robótica. Isso mostra que essas questões de gênero são puramente uma construção histórica: não existe obviamente nenhuma diferença que as justifiquem. As escolas do Sesi primeiro me deram muita esperança de que, com um trabalho consistente, a gente pode diminuir todas essas diferenças. É uma sala de aula diferente de muitos outros ambientes escolares. As meninas estão fazendo também os trabalhos de Ciências, de Matemática, em vez de ficarem intimidadas com os meninos, que historicamente são considerados “bons” em Matemática. Existe evidência e muita pesquisa mostrando que a gente pode quebrar essas barreiras que impedem o jovem de se realizar intelectualmente, profissionalmente. O cérebro humano é infinitamente flexível, e qualquer criança já nasce com talento para fazer qualquer coisa. Hoje, a escola precisa ouvir mais o jovem. Fico surpreso que em todas essas reformas no Ensino Médio e em tudo mais o aluno nunca é ouvido. Os estudantes secundaristas nunca são ouvidos, são sempre os adultos achando que sabem o que é melhor para eles e desenhando um sistema sem a participação deles.
Temos que ouvir o que os alunos gostam, o que querem aprender, que tipo de escola querem. Isso está faltando muito em todas essas reformas do ensino. Outra coisa é entender que, a cada 10, 20 anos, o jovem muda. Na década de 1980, ele gostava de algumas coisas. Na de 2000, de outras. Hoje, do que ele gosta?
Em que questões devemos consultar os jovens?
Temos que ouvir o que os alunos gostam, o que querem aprender, que tipo de escola querem. Isso é uma coisa que está faltando muito em todas essas reformas. Outra coisa é entender que, a cada 10, 20 anos, o jovem muda. Na década de 1980, os jovens gostavam de algumas coisas. Na década de 2000, de outras. Hoje, do que eles gostam? Como gostam de interagir? Quais as profissões que sonham seguir? A gente precisa ter essa escuta, reestruturar a escola para que ela converse melhor com o aluno, porque quanto mais ela está distante do aluno, menos o aluno se interessa e menos se vê identificado com a escola. Hoje a gente tem todos esses testes nacionais que medem as escolas, mas medem com métricas muito antigas. Essas métricas que a gente usa para avaliar os alunos para entrar na faculdade, a qualidade de ensino, quais são as melhores escolas, deveriam mudar também. A gente deveria ter, por exemplo, uma métrica do quanto a escola estimula a criatividade. Quantas horas de atividades criativas você tem na escola. E isso deveria ser uma métrica pública, para os alunos e seus pais olharem. Eu quero uma escola que estimule a criatividade, que dê cinco horas por semana de projetos de coisas criativas, mais do que essa escola em que o desempenho no Enem é X, que é uma medida um pouco antiga também. E acho que é igualmente importante tirar um pouco a centralidade da escola como um lugar que é puramente para o mercado de trabalho, de que você tem que ir para a escola para conseguir um emprego, para conseguir um salário, para sustentar sua família. Um jovem de 14 anos não está nem aí para quanto dinheiro ele vai ganhar. Ele quer aprender coisas, brincar, fazer amigos. Ele não está pensando como ele vai pagar o aluguel dali a 10 anos, e a gente ainda estrutura muito a escola com essa cabeça de que precisa formar para o emprego. Claro que, se o jovem tem 16 anos, talvez ele já comece a pensar nisso, mas uma criança de 12 anos, não. Ela está pensando em coisas interessantes, em projetos interessantes, em colaborar com amigos. A gente precisa construir uma escola que seja menos obcecada com o que o mercado está querendo, quais as profissões do futuro. Isso vem na idade certa, não pode ser todo o sistema estruturado só para isso. E acho que a gente vê que as escolas de elite já são um pouco assim.
Quais os principais desafios a curto prazo na educação?
Integrar novas tecnologias e metodologias na escola de forma democrática para não aumentar a desigualdade. Não fazer disso uma coisa para poucos e poucas. A gente sabe o que funciona hoje em dia. A gente quer ter experimentos, projeto, robótica, todas essas experiências enriquecedoras para os alunos, mas a gente quer que isso seja para todos e todas. Deve ter robótica na escola? Deve ter projetos? Deve. Mas é mais como a gente democratiza e como a gente faz ser uma oportunidade para todos.