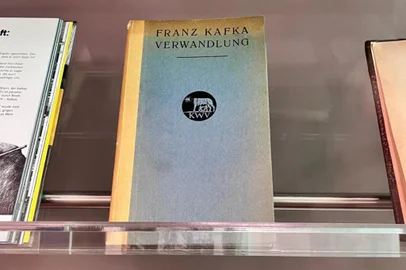Por José Francisco Botelho
Jornalista, autor de “Cavalos de Cronos” e tradutor de Shakespeare no Brasil
Durante uma noite de tempestade na cidade de New Haven, em algum momento na segunda metade do século 20, o crítico literário Harold Bloom (falecido na segunda-feira, aos 89 anos) sentou-se em seu gabinete para reler O Paraíso Perdido, de John Milton. Em alguns dias, daria uma conferência sobre o assunto em Harvard. Já lera a obra-prima de Milton muitas vezes; agora, no entanto, queria voltar ao início: desfrutar o poema como se não o conhecesse, ou como se nenhuma pessoa o houvesse lido antes.
“Para fazer isso, era necessário descartar de minha cabeça toda uma biblioteca crítica sobre Milton, o que seria virtualmente impossível. Mesmo assim, tentei, pois queria a experiência de ler O Paraíso Perdido como o lera pela primeira vez, uns 40 anos atrás”, escreveria Bloom anos mais tarde. “E, enquanto eu lia, até adormecer no meio da noite, a familiaridade inicial do poema começou a se dissolver. Continuou a dissolver-se nos dias seguintes, à medida que me aproximava do final, e fiquei curiosamente chocado, um pouco alienado e ainda assim terrivelmente absorto. O que eu estava lendo?”
Além dessa terrível e deliciosa estranheza, Bloom foi invadido pela sensação de testemunhar um duelo gigantesco: nas páginas do poema, Milton lutava contra todos os autores e textos que vieram antes dele, no afã de superá-los e reescrevê-los. Em vez de uma colaboração amigável, a história da literatura surgia como uma guerra ao mesmo tempo bárbara e refinada entre os mortos, os vivos e os não nascidos.
Esse eloquente relato de leitura se encontra no prólogo de O Cânone Ocidental, de 1994, e resume de forma esclarecedora as personalíssimas concepções literárias de Bloom. Para ele, a experiência estética não era uma construção social, nem uma manifestação caridosa de interesse pelo bem comum – mas uma empreitada individual, quase selvagem, quase mística, de afirmação da vida e da mente humana. Por isso, o encontro com os clássicos deve ter sempre um toque de estranheza iluminadora.
Nascido em uma família de proletários judeus no East Bronx, em Nova York, Bloom teve uma infância pobre. Mas o destino presenteara o rotundo rapazinho com uma mente extraordinária. Aprendeu iídiche aos três anos e o hebraico aos quatro, sem professor. Adulto, tornou-se um leitor pantagruélico: consumia grossos volumes no espaço de uma hora e podia recitar epopeias inteiras de memória.
Apaixonado por poesia inglesa desde a infância, começou a dar aulas na universidade de Yale na década de 1950; depois, passou a lecionar também em Nova York. Conhecido inicialmente como estudioso do romantismo inglês, galgou os degraus da fama com a publicação de A Angústia da Influência, em 1973. Nessa obra, argumentava que o motor secreto da literatura é o “agon” – palavra grega que, na obra de Bloom, designa o esforço dos grandes escritores por sobrepujar os gênios do passado.
Em O Cânone Ocidental, defendeu ferozmente a autonomia estética da literatura contra os avanços da chamada “Escola do Ressentimento” – termo hoje célebre, mas nem sempre corretamente compreendido ou aplicado. Os “ressentidos”, para Bloom, são aqueles que colocam a teoria acima da própria literatura e submetem o furor estético a outras considerações – políticas, econômicas, ideológicas e o que mais seja. A literatura, para Bloom, era infinitamente mais importante do que os discursos teóricos que a cercam e às vezes a sufocam: os calhamaços de comentadores e estudiosos deveriam se curvar ante a possibilidade de gozo e descoberta que as páginas de um grande livro nos proporciona.
Outro título indispensável a quem quiser conhecer seu pensamento é Shakespeare: a Invenção do Humano, de 1998, contendo análises surpreendentes, e às vezes hiperbólicas, das peças shakespearianas. Adepto da “bardolatria” (termo meio brincalhão, meio sério, que designa o culto a Shakespeare enquanto “deus” literário), Bloom defende a ideia de que o autor de Hamlet não apenas foi o maior de todos os poetas do Ocidente, mas também inventou a consciência humana como a entendemos hoje.
Bloom sempre foi um polemista, mas é um equívoco reduzi-lo a intelectual conservador. Sua primeira batalha, quando começou a lecionar, foi contra o conservadorismo cristão da chamada Nova Crítica, que então dominava Yale. Na essência, seu pensamento tem um poderoso traço em comum com o do “sublime Oscar Wilde”: o repúdio a toda sufocação moralista da arte, venha esse moralismo de onde vier. “Tudo o que o Cânone Ocidental pode fazer”, escreveu Bloom, “é nos levar ao uso apropriado de nossa solidão, aquela solidão cuja forma final é a confrontação com nossa própria mortalidade”.
E o resto, como diria Hamlet, é silêncio. Good night, sweet prince.