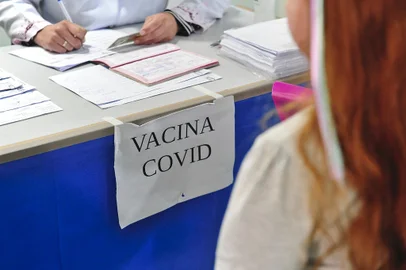Infectologista do Hospital Universitário Getúlio Vargas, da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Guilherme Augusto Pivoto João, 36 anos, é uma testemunha do colapso do sistema de saúde em Manaus, onde o coronavírus avança sem trégua.
Em um mês, o Amazonas saltou de um caso da doença para a lista de emergência do Ministério da Saúde. Em razão da explosão de enterros, o maior cemitério da capital do Estado teve de abrir valas comuns e receber câmaras frigoríficas, em cenas que chocaram o país. Até a última segunda-feira (20), a região somava 2.160 casos confirmados e 185 óbitos. Manaus era o município mais afetado, com 1.772 infectados e 156 mortes.
Em entrevista por WhatsApp, com oito mensagens de áudio gravadas em meio ao trabalho na linha de frente da pandemia, João descreve a situação como "crítica". Além de infectologista do hospital universitário, ele é médico intensivista (atua em UTIs) e supervisor do programa de residência médica em Medicina Tropical da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado. Tem 12 anos de carreira.
Preocupado diante das dificuldades, João diz, com voz firme e frases diretas, que as pessoas estão morrendo antes de conseguir ter acesso a cuidados de terapia intensiva. Embora reconheça que, mais cedo ou mais tarde, ocorrerá a flexibilização do isolamento social, o médico teme que a medida — dependendo de como for conduzida — possa replicar a crise enfrentada na região amazônica para outras unidades da federação.
— O risco de que aconteça o mesmo que está acontecendo no Amazonas, de que haja colapso de leitos e as pessoas deixem de morrer de covid e morram porque não tiveram acesso às tecnologias em saúde, é grande — adverte.
A seguir, leia os principais trechos da conversa com o especialista.
Qual é a situação hoje no Amazonas e, em particular, em Manaus?
A situação é crítica. Na eminência de um colapso por falta de leitos em UTI, houve inicialmente uma estratégia de atendimento que definiu algumas unidades específicas para a covid-19. Houve uma tentativa de abertura de mais leitos, mas surgiram dificuldades por falta de ventilador mecânico e de mão de obra. Acabou que, agora, praticamente todas as unidades atendem covid, com algumas ilhas. A estratégia parecia boa, porque incluía duas medidas: dar o atendimento à população e evitar que novos casos ocorressem, isolando (os infectados) em certas unidades, mas a demanda foi muito grande e não deu certo.
Daqui, vemos a abertura de valas coletivas, filas de carros frigoríficos, desespero de famílias e sensação de impotência entre os médicos. Em sua carreira, já havia testemunhado algo assim?
É chocante. A quantidade de óbitos e internações que a gente faz em um mês, está acontecendo em poucos dias. A maior parte dos óbitos está ocorrendo no atendimento básico, primário, das UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) e UBSs (Unidades Básicas de Saúde), e, muitas vezes, o doente não tem acesso a um pronto-socorro grande, a um cuidado mais específico de terapia intensiva.
O que provocou o colapso do sistema de saúde?
Na Amazônia ocidental, existe a peculiaridade do inverno amazônico. A amplitude térmica varia pouquíssimo durante o ano, de 24 a 40°C. Mas o comportamento humano nesse inverno amazônico é como nos outros invernos: as pessoas se aglomeram mais. Então estamos na época de sazonalidade de infecções respiratórias e de meningite, por exemplo. Há uma tendência a ter um maior número de casos. Além disso, principalmente nas áreas periféricas, nos comércios periféricos, é muito difícil controlar o isolamento social. Apesar de ser uma cidade extremamente horizontal, nesses nichos de periferia é que houve a aceleração do número de casos. Enquanto era nos bairros de classe média, ainda havia uma certa contenção. Mas o problema explodiu, e o sistema se preparou de uma forma que não deu conta. Você abre uma UTI de 20 leitos e, em dois dias, já está lotada. Esses pacientes ficam muito tempo na ventilação. A rotatividade de leitos é pequena se comparada a outras doenças.
Como infectologista, o senhor esperava que isso pudesse acontecer? Havia uma preocupação?
Sim. A gente sempre está preparado para a próxima pandemia. Já trabalhei em epidemias de dengue, zika e chikungunya, surtos de hantavirose, malária, sarampo. Sempre que a gente lida com doenças de transmissão por vetor (geralmente por animais ou insetos), a gente consegue controlar, porque o comportamento humano tem impacto, mas é menor. Quando você lida com doenças de transmissão por gotículas (como a covid-19), é muito mais difícil. A gente teve experiência com a gripe suína e sempre se preparou para outras doenças. Até então, o sistema deu conta. Agora, com essa explosão, os sistemas de saúde e de vigilância colapsaram.
Qual é a saída?
É muito difícil responder a essa pergunta, porque, até agora, as prévias dos ensaios clínicos prospectivos, que vão dizer quais drogas são seguras e têm algum benefício, não são conclusivas. As pessoas não estão respeitando o isolamento social e há um movimento para que acabe e apenas alguns grupos de risco fiquem isolados. Isso vai acabar quando a população atingir um nível de contágio que dê imunidade de rebanho, como nas vacinas, e aí o pico da curva vai descer. Quanto mais rápido isso acontecer, mais rápido a situação vai melhorar. Contudo, se adotou a estratégia de isolamento, porque justamente houve experiências negativas na Europa, onde os sistemas entraram em colapso, e nos Estados Unidos, onde também há um colapso de leitos. O sistema não aguenta a estratégia de deixar o pico acontecer.
Muitos Estados, entre eles o Rio Grande do Sul, estão flexibilizando o distanciamento social. Qual é a sua avaliação sobre isso?
A flexibilização uma hora vai acontecer, mas não pode ser uníssona no Brasil, que é tão heterogêneo. Nos Estados com incidência baixa (da doença), em que há um certo controle e uma reserva de leitos, talvez seja factível uma quebra de isolamento progressiva. Mas é bem arriscado. O risco de que aconteça o mesmo que está acontecendo no Amazonas, de que haja colapso de leitos e as pessoas deixam de morrer de covid e morram porque não tiveram acesso às tecnologias em saúde, é grande.
Que lição fica do caso de Manaus?
Acho que a lição que fica é de que, para você fazer uma estratégia de controle, é necessário que haja testagem em massa da população, medidas de isolamento social e acesso à saúde com planejamento de mais leitos, muitos leitos.