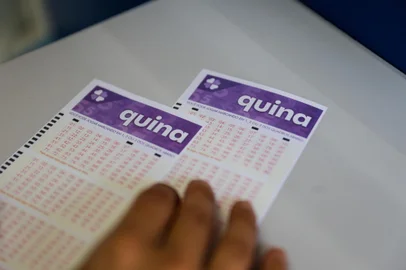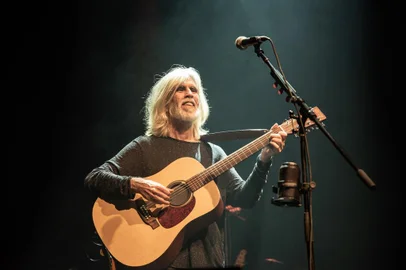Grande parte das respostas sobre o que somos estão no lugar e nas pessoas de onde viemos. É uma jornada pela mais particular de nossas referências, ambiente de afeto e também de hostilidade, que a psicanalista paulistana Thais Basile empreende no livro Atravessando o Deserto Emocional – Os Impactos de Fazer Parte de uma Família Emocionalmente Adoecida (ed. Paidós, 256 páginas, R$ 55, em média) A autora analisa os principais personagens desse universo e disserta sobre relações problemáticas, que impactam gerações.
– A família emocionalmente adoecida é, primordialmente, aquela que não consegue nem fazer um questionamento sobre a cultura adoecida em que vive e vai repassar apagamento. Alguém vai ter que ser apagado para alguém ali se sobressair – define.
Confira a entrevista:
O que faz uma família adoecer emocionalmente? Como reconhecer um núcleo assim?
É um tema bem complexo. Por isso falo que são três livros em um. A família não é uma ilha. A família é um subproduto da cultura em que a gente vive. A psicanálise se propõe a falar da subjetividade dos sujeitos, que são essencialmente culturais. Somos feitos da alteridade, do olhar do outro sobre nós, dessas pessoas que nos criam, que nos cuidam, que nos dão nomes, que nos dão rótulos, que têm expectativas sobre nós. Então, não tem como a gente falar de subjetividade pura. Somos forjados sempre numa cultura, e tem que olhar se a cultura é adoecida ou não antes de falar que uma família está adoecida. A família é criada nesse caldo cultural, nessa cultura neoliberal, nessa cultura onde heterossexuais valem mais do que homossexuais, onde homens brancos têm poder em todas as instituições. No livro, falo de modos de violência que a família pratica, do apagamento, de como a família é um lugar de compressão de poder, de acúmulo de poder. Somos uma sociedade judaico-cristã, os dogmas colocam o pai em primeiro, no comando, e a mãe como segunda. A mãe nessa função de repassar a cultura, a lei, que ainda é patriarcal. Regra e leis de conduta, de comportamento, de papéis sociais dos quais nem os filhos vão se beneficiar, nem ela se beneficia: é o pai que manda, ele tem a última palavra, ele é mais bravo, ele tem poder, e a menina tem que ser doce, boazinha, e o menino pode ter um lugar de abertura sexual, vai ficando adolescente e já pode sair para onde quiser. Ele é desresponsabilizado das tarefas domésticas. A família está dentro de uma cultura adoecida e vai ter um certo adoecimento se não fizer uma crítica e um contraponto a isso. Então, a família emocionalmente adoecida é, primordialmente, aquela que não consegue nem fazer um questionamento sobre a cultura em que vive e vai repassar apagamento. Alguém vai ter que ser apagado para alguém ali se sobressair. Essa disparidade de poder vai ser usada e repassada dentro desses papéis sociais. E, a partir daí, há múltiplas violências.
De que tipo?
As crianças são criadas na expectativa de que não demandem colo da mãe porque ela precisa estar disponível para cuidar do homem. A mulher é adestrada por contos de fada, por filmes, por livros, pela mídia. Já se espera que as crianças não chorem muito, não demonstrem raiva. A violência já está embrenhada na forma de criar crianças. A sociedade dá um aval indireto, ninguém questiona que se quebrem crianças para facilitar a vida dessa mãe, para que essa mãe facilite a vida desse homem. O adoecimento é da família, mas também vem dessa cultura machista, racista, classista. Todas essas opressões vão criar esse caldo. Muitas vezes as pessoas estão tão mergulhadas nesse caldo cultural que não conseguem olhar para cima, respirar fora desse caldo, são bombardeadas a todo momento com histórias do que é ser feliz, completo, bem-sucedido. Uma mulher tem que ser doce, bonita, magra, eurocêntrica, branca. Se demonstrar raiva, vai ser chamada de dramática, raivosa, louca. A violência que se faz na família contra a criança, em geral, é uma continuação da violência que a mulher sofre. A criança é vista como continuação da mulher. Se for uma menina, mais ainda.
A família não é uma ilha. A família é um subproduto da cultura em que a gente vive. A família está dentro de uma cultura adoecida e vai ter um certo adoecimento se não fizer uma crítica e um contraponto a isso.
Você fala bastante do papel da filha mulher. O que mais impacta a trajetória de uma menina desde a infância?
O que impacta é justamente essa relação de espelho que ela vai ter com a mãe. A relação de mãe e filho é muito mais fácil porque a mãe não se vê diretamente nesse filho. Com a menina, ela quase que pariu outra vítima. Ao mesmo tempo em que quer que a menina tenha outras oportunidades, ela também se ressente se essa menina tiver, porque ela vai ser vista como uma mãe e uma mulher que não deu certo. Olha que ambivalente. As relações femininas, no patriarcado, são permeadas por rivalidade, por raiva deslocada, porque a mulher sente que não pode nomear as opressões, as violências, até as mais sutis, que vive no dia a dia. A maternidade é compulsória, é empurrada para a mulher como uma via única de realização. Já é imaginado que a menina terá que ser escolhida por um homem e ser mãe, vai precisar cuidar de um homem e cuidar do filho desse homem para ter sucesso na vida. Carreira, viagens, amigas, hobbies, ideais, paixões, nada disso vai ser considerado sucesso socialmente. Então essa mulher vai parir uma vítima como ela foi, e tudo inconscientemente, muitas vezes. Ela não está nem sabendo nomear isso, mas os afetos que vêm são esses. Tem rivalidade, tem ciúme, tem puxada de tapete. Nas relações mais perversas, tem todo o repasse do ódio que essa mulher nunca pôde mostrar por esse sistema e por esses homens, por tudo o que ela sofre, até por um arrependimento de ser mãe. Esse residual de raiva vai ser deslocado, muitas vezes, para essa filha, então ela vai ser impedida, rivalizada, hipercriticada.
Você menciona que a família “tem toda a permissão social para abusar da autoridade e do poder diante das pessoas mais vulneráveis do grupo e chamar isso de amor, cuidado, disciplina ou educação”. Pessoas que passaram por isso “sobreviveram fisicamente à sua infância, mas por dentro se sentem mortas, sem esperança, sem criatividade, sem espontaneidade e sem confiança em si e nos outros, paralisadas no deserto da própria existência, sem conseguir enfrentar os desafios da vida”. E você reconhece que é quase socialmente proibido falar da família que machuca, é uma instituição sagrada, acredito que especialmente a figura da mãe. Pode comentar?
Gosto muito da bell hooks (Gloria Jean Watkins, mais conhecida pelo pseudônimo bell hooks, escritora feminista americana) e a cito bastante no livro. Ela diz que temos uma dificuldade grande em definir o amor porque o amor que recebemos da família está cheio de abuso e violência dentro. Quando começamos a definir o amor sem o abuso, isso para nós é insuportável. A sociedade acomoda o abuso e chama isso de outras coisas. No livro, digo que alguns grupos sociais têm o poder de nomear as narrativas. Quem pratica a violência não chama aquilo de violência, chama de outra coisa, de educação, de disciplina. Tem um senso comum de que, para preparar para a vida, precisa de uma educação castradora. Aí, quando confrontadas, as pessoas dizem “mas é amor a intenção”. Os meios nunca são vistos porque os fins justificam os meios. Se a família fala que ama, está amado, não importa o que ela faça, não importa os verbos que ela use: maltratar, controlar, invadir, surrar. A nossa noção de amor está completamente borrada, e isso é muito perigoso.
A independência precoce é muito valorizada na criança, mas sabemos que essa (a independência precoce) é uma das variáveis que mostram que não está legal aquele ambiente (em que ela está inserida).
Tem muito de fantasia nas nossas lembranças de infância? Queremos ter memórias de uma família de comercial de margarina? Você escreve que a romantização das relações familiares é o caminho mais aceito socialmente, “desejamos que nossa família seja vista somente como boa e saudável, porque nossa própria identidade está atrelada a isso”.
Queremos ter boas histórias para contar sobre nós. Percebo, na clínica, que as histórias contêm narrativas que não são nossas. São narrativas, em geral, dos nossos pais. Minhas analisandas chegam falando: “Tive uma infância ótima, não sei por que estou com esses sintomas todos, não sei por que tenho ansiedade, não sei por que tenho muita vontade de bater nos meus filhos, a minha infância foi ótima, eu apanhei mas foi bem pouquinho, foi com amor”. É impossível que haja violência física e não haja algum tipo de trauma. A gente não sabe exatamente como vai chegar esse trauma, qual a intensidade dele, mas nenhuma criança sai disso ilesa. Violência física, violência emocional, pais com adições, pobreza, racismo, tudo isso somado vai trazer danos no futuro. As pessoas adultas carregam sintomas que, muitas vezes, nem conseguem relacionar com a própria infância. Nenhuma infância foi 100% terrível, senão nem estaríamos aqui, estaríamos colapsados, e nenhuma infância foi 100% ótima, mas a narrativa dos nossos pais é que foi ótima: “Eu fiz tudo, me esforcei demais”. As duas coisas podem ser verdadeiras, os pais podem ter se esforçado e mesmo assim ter havido traumas, ter havido coisas prejudiciais para aquela criança. Temos que narrar nossa história em primeira pessoa, sentir as raivas que são necessárias para poder melhorar a relação com o pai, com a mãe, se for preciso.
Quanto dos comportamentos das nossas relações familiares são repetidos nas outras relações que temos ao longo da vida, como as amorosas?
O que a gente sabe é que as dinâmicas tendem a se repetir. Somos seres de referência e de repetição. Nosso ambiente primordial principal, como a gente foi cuidado, por quem a gente foi cuidado e como a gente foi cuidado é que vão formar esses padrões de como nos relacionamos com os outros, com a gente mesmo, como cuidamos dos outros, como cuidamos de nós mesmos, como comparecemos nas relações, como nos protegemos nas relações, como amamos, como nos defendemos e fugimos. Isso tudo são padrões aprendidos com os nossos primeiros cuidadores. No livro, conto que muitas maneiras que usamos para sobreviver na infância acabam sendo um grande tiro no pé no futuro. A criança que não tinha um cuidado muito próximo e precisou fazer o cuidado de si, às vezes sozinha, e ficar muito inteligente, precisou desenvolver muita inteligência para cuidar de si sozinha, é chamada de alma madura, alma velha. A independência precoce é muito valorizada na criança, mas sabemos que essa é uma das variáveis que mostram que não está legal aquele ambiente. Se a criança precisou ser muito independente antes da hora, é porque ela não pôde depender de alguém. E se ela não pôde depender de alguém, ela não criou confiança e segurança dentro de si. Se ela não cria confiança e segurança suficientemente boas dentro de si, em grande quantidade, ela não vai crescer com confiança e segurança dentro de si. Então ela pode vir a ser uma pessoa que vai vagar por um deserto emocional, que não vai confiar nas suas decisões, que não vai sentir esperança na vida, nas pessoas, que vai fugir de pessoas, que não vai mostrar o seu eu mais autêntico porque tem medo de ser descoberta na sua fraude, medo de que a sua raiva seja descoberta. Isso tudo vai virar um medo, um grande bololô lá na frente, ela não vai conseguir se relacionar. Tudo está no ambiente inicial, que não precisa ser perfeito, precisa estar identificado com a criança. Se tenho identificação com a criança, se gosto de estar cuidando, se gosto de estar com a criança, se tenho alguma identificação, se gosto minimamente daquela função de cuidado, se me vejo um pouco naquela criança, se projeto um pouquinho meu narcisismo nela, se idealizo um pouco ela no início, e depois eu consigo desidealizar... A criança precisa ver que ela é desejada, que alguém esperou algo dela, que ela precisa comparecer também. Só que, ao longo do tempo, quando a criança começa a nos decepcionar, porque ela é uma outra pessoa, a gente vai ter que se adaptar a isso. O adulto se adapta à criança, não a criança se adapta ao adulto, ao que ele precisa dela. Só que, na nossa cultura, como é completamente adoecida, os adultos estão, muitas vezes, carentes de cuidado. Então, a criança tem que se adaptar ao adulto. Percebe?
Quanto da sua própria infância a motivou a escrever esse livro? Pode contar um pouco do que você descreveu como “pagar com juros altos o preço de uma infância hiperadequada e desconectada de mim”. Você fala em “buscar sentido” escrevendo esse livro.
Acho que sou uma boa analista porque sofri muito na infância, e eu não acho que é um pré-requisito, tá? Acho que tem muitos analistas muito bons que não sofreram como sofri. Sempre fui muito ávida por entender as coisas, não só porque tive um pai que era adicto, viciado em bebidas alcoólicas. Eles perderam uma filha depois de mim, e a minha mãe se fechou numa concha, foi para a negação da realidade. Tudo, para ela, estava sempre muito bom, e ela sempre escondia a raiva e os medos, se adequou muito a esse pai que era agressivo, violento. Fui uma criança que precisou ser hiperfacilitadora da família e me tornei um pouco invisível. Tentava apaziguar o meu pai, ao mesmo tempo tentava dar realizações para a minha mãe, com notas. Cuidei do meu irmão quando ele chegou, não pude ter ciúmes, ao mesmo tempo me sentia talvez culpada, porque a irmã que veio depois de mim foi embora e eu devo, com cinco, seis anos de idade, ter desejado que ela fosse embora, porque as crianças mais velhas não querem perder o pouco espaço que têm na família. Lidei com muita coisa. Lidei com luto, que não foi cuidado em mim, não foi nem cuidado neles. Tive transtorno obsessivo compulsivo (TOC), que é muito menos fofinho do que a gente vê nos filmes. É muito incapacitante. Eu não queria sair de casa com a minha filha, não queria que as pessoas botassem a mão nela, tinha medo de sangue, de tudo que podia contaminar. Tinha que limpar e lavar a mão 200 vezes. Comecei a questionar a realidade também: será que fechei a porta? Será que tal pessoa entrou aqui? Minha mãe negava a realidade. Ela falava: “Seu pai não está bêbado, seu pai só está cansado”. No puerpério, acontece uma certa regressão da mãe, justamente para se identificar com aquela criança em algum nível. Parte minha teve que regredir, e esse sintoma veio à tona. Busquei análise, precisei tomar remédio, comecei a questionar minha história, entender meu contexto, narrar minha história em primeira pessoa. Isso é muito importante.
Por que você não gosta de quando dizem “os pais fizeram o melhor que puderam” em relação à criação dos filhos?
Primeiro, é uma grande generalização com base nessa cultura judaico-cristã e do dogma: a família vai sempre querer fazer o melhor para os filhos, e os filhos precisam honrar pai e mãe. Uma maneira de honrar pai e mãe distorcida é dizer que os pais sempre fizeram o melhor que puderam, né? Como é que eu vou saber? Tem quem usa a criança como bode expiatório da própria história: uma mulher que é hiperboazinha, por exemplo, com todo mundo, ajuda todo mundo, é maravilhosa para a sociedade, está lá na igreja, está trabalhando pelos outros, caridosa, mas chega em casa e vai surrar a filha todos os dias. Como é que vou dizer para essa filha que a mãe dela fez o melhor por ela? Não tenho como falar isso. Estou falando agora de uma mãe perversa, mas nem que essa mãe não seja uma perversa, que ela tenha a melhor das intenções ali, mas só que tenha feito grandes invasões, grandes controles, grandes quebras de vínculo e não tenha sabido reparar esse vínculo e essa filha tenha ficado ali sozinha. Como vou falar para um filho cujo pai o abandonou com dois anos de idade ou abandonou sua mãe grávida e nunca quis saber dele, que isso que o pai fez foi o melhor? Não tem como. Acho que é uma violência falar isso para as pessoas de forma generalizada. Cada caso vai ser um caso, e é muito melhor que a gente diga que os adultos têm responsabilidade sobre o que eles fazem, não importa se foi o melhor ou não. Perceba como mudou, né? Porque se eu falo que os pais fizeram o melhor que puderam, eu estou jogando a responsabilidade para os filhos de aceitar o que vem. Agora, se eu falo que não importa a intenção, se foi boa ou ruim, que os adultos têm responsabilidade sobre o que eles fazem, olha como muda o foco. Acho importante essa mudança de foco.