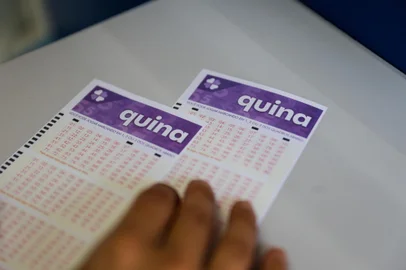Por Armindo Trevisan
Poeta, professor e crítico de arte
O fenômeno Luc Ferry, filósofo militante e escritor, está sacudindo o mundo ocidental. Ele já publicou uma vintena de livros, alguns traduzidos para aproximadamente 30 línguas. Diante de tal popularidade, um intelectual cristão é conduzido a uma indagação: qual a relação que posso ter, na minha condição de escritor, com minha Fé? Poderei, a exemplo de Ferry, fazer algo para que a Boa Nova de Cristo se torne uma realidade existencial para as pessoas da sociedade em que vivo?
Luc Ferry nunca se deixa inflar pela própria “sabedoria”. A despeito disso, tem consciência viva de oferecer uma doutrina de salvação. Noutras palavras, quer persuadir-nos de que a Filosofia – ou ao menos, a sua Filosofia – pode substituir as religiões do mundo.
Logo nas primeiras páginas de Do Amor – Uma Filosofia para o Século XXI, expõe, com concisão e elegância, “as quatro grandes definições de vida boa” ou da salvação sem Deus que precederam a Revolução do Amor (este um copyright seu), das quais somos “as testemunhas e os atores”. Para Ferry, é certo que esses quatro grandes princípios dominaram, na história do pensamento ocidental, as épocas passadas. São eles o princípio Cosmológico, o Teológico, o Humanista e o da Desconstrução.
Eis como os define: “A crise mundial na qual estamos mergulhados acentuou o sentimento de que o curso do mundo nos escapa, de que os remédios políticos, da esquerda e da direita, não conseguem mais atuar sobre a realidade, de que os valores que defendemos adequam-se cada vez menos à nossa maneira de viver”.
A seguir, expõe, didaticamente, “o novo princípio de sentido”, que vai nos permitir reassumir o controle do nosso destino, reatribuir coerência ao nosso modo de ver o mundo, suscitar ideais nos quais possamos acreditar e também analisar as profundas modificações que, como consequência, ocorrem nos grandes domínios da existência individual e coletiva: a família, a política, a educação, a arte.
Penso que há afinidades curiosas entre Luc Ferry e o polemista católico convertido do anglicanismo Gilbert Keith Chesterton. Imaginemos um Chesterton menos humorista, mais pascaliano, que retornasse ao ateísmo, tendo nele plena confiança e que nele, de repente, injetasse um humor não agressivo, antes permeabilizante, que o impedisse de fluir à superfície.
Ferry nunca é insistente. É apenas claro, incisivo, percutente, serpejante, por vezes saboroso nas suas farpas à nossa sociedade consumista, insaciável na sua sede de prazer. Leiamos uma afirmação fundamental de seu projeto: “Todos os grandes ideais que davam um sentido à vida (Deus, a Pátria, a Revolução) estão hoje fragilizados na Europa: o amor é doravante o único valor no qual todos acreditamos sem reserva”.
Chamo a atenção dos leitores para as palavras de seu colaborador, Claude Capelier, citado à mesma obra: “Pela primeira vez em décadas, para não dizer um século inteiro, propõe-se um fundamento e uma maneira de desenvolvê-lo, que permite construir um verdadeiro sistema filosófico, ou seja, uma maneira de dar real coerência à diversidade de nossas experiências, portanto, de dar um sentido de conjunto à nossa vida”.
Ferry nunca é insistente. É apenas claro, incisivo, percutente, serpejante, por vezes saboroso nas suas farpas à nossa sociedade consumista, insaciável na sua sede de prazer.
Dei a entender ao leitor que Ferry é autoconfiante e que suas lições não são as de um filósofo habituado às salas de aula (de resto, ele foi um professor de sucesso), mas as de um conferencista habituado aos grandes anfiteatros. Vejamos, por exemplo, uma de suas afirmações (aliás, com mais precisão: uma das sentenças que ele faz questão de considerar “dívida admirativa” para com Stendhal): “O amor sempre foi para mim a maior das questões... Ou talvez a única”.
Sejamos justos: Ferry não é nada arrogante, nem se pavoneia de Profeta. Ele simplesmente assume a posição de um profeta civil. Afirma tudo em tom menor, como se estivesse falando com um amigo num bar. Fala sem ênfase, o que o torna, paradoxalmente, enfático. É um falso tímido que se desculpa de sentar-se ao nosso lado. No fim da conversa, porém, pode sair com nosso chapéu e nossa carteira...
Dou mais um exemplo de sua incrível modernidade, de sua sem cerimônia intelectual, de sua contagiosa simpatia: “Por isso eu, à guisa de preâmbulo, farei o que não fiz até o presente, mostrar claramente o elo existente entre dois temas principais que desenvolvi nos meus livros precedentes: de um lado, a definição de filosofia como busca da vida boa, da sabedoria ou da espiritualidade laica, ou seja, a ideia de que, como a religião, a filosofia visa definir a vida bem-afortunada, para os mortais que nós somos, mas sem passar por Deus nem pela fé de outro, o que chamei de Revolução do Amor, que acompanha justamente a passagem, na Europa moderna, do casamento arranjado e da família tradicional para o casamento por amor, fundador da família de hoje”.
Que lição para os escritores cristãos! Quem seria capaz de fascinar um leitor não armado de um aparelho desarticulador de sofismas? Na sua despretensiosa afirmação, contudo, adivinha-se uma bomba-relógio.
À nossa timidez de “ensinados por Deus” (Isaías: 54,13), Ferry, bem-humorado, contrapõe sua desenvoltura, superior à de Voltaire. Ele é capaz não só de aliciar adeptos, como de os tornar deslumbrados. Por outro lado, com que divertida performance despacha, com um pontapé no traseiro, duas tradições como as seguintes: “A tradição liberal e a tradição socialista, duas linhas de pensamento e de ação que dominaram a história da Europa moderna desde a Revolução Francesa, tiveram com efeito dois pontos comuns: o primeiro foi relegar o campo da política nobre, tudo o que pertencia à esfera privada, à ‘sociedade civil’; o segundo foi não considerar a política senão como uma forma de gestão de interesses privados em nome do interesse geral, sabendo-se que, como mostrarei no que se segue, as paixões têm com frequência um papel infinitamente mais eminente na História do que os interesses propriamente ditos”.
Teria sido alguém capaz, nos últimos tempos, de expressar o que, no fundo, já era intuído por todo o mundo? Ele o faz com evidência solar, que dispensa até óculos de sombra...
Ferry tem o dom de encontrar em cada leitor um autor e de conversar com esse autor como se estivesse à sua altura. Esse filósofo é um exemplo para nós, autores cristãos, que não temos nem um décimo de sua clareza, menos ainda, de sua amável lucidez.
Ferry nunca se nega a mostrar o pau com o qual supõe ter matado a serpente – a velha Serpente que enganou nossos Primeiros Pais. Ele parece ignorar não só os maiores defensores do monoteísmo, como Maimônides: ignora também Jesus, que foi capaz de ir além de Maimônides, quando no alto de um monte da Judeia pronunciou suas Bem-aventuranças. O culto e fino Ferry, em alguns tópicos de sua obra, chega a acenar para as Bem-aventuranças, porém, não as leva a sério.
Tenho a impressão de que Ferry parece esquecer suas dívidas com alguns dos mestres de sua cultura, entre os quais Albert Camus. Cito um pensamento de Camus que Ferry julga ser invenção sua: “Sentido da minha obra: tantos homens estão privados da graça. Como viver sem a graça? Temos de nos pôr à obra e fazer o que o Cristianismo nunca fez: ocupar-se dos danados” (em Cadernos II).
Alguém traduziu tal pensamento do “autor da Peste” (ou foi o próprio Camus quem lhe deu essa formulação?) num aforismo: “Como ser santo sem Deus”. Ignoro se Ferry leu os Cadernos de Camus. Talvez não, e seja coincidência ter pensado – como Camus – a forma de chegar à vida boa, à sabedoria, permanecendo no ateísmo.
Outro texto de Ferry pode ser aparentado aos textos de Camus: “Tendo atingido o absurdo, ensaiando viver à medida do absurdo, o homem acaba sempre por se aperceber de que a consciência é a coisa mais difícil de manter. As circunstâncias opõem-se quase sempre. Trata-se de viver a lucidez num mundo onde a dispersão é de regra”. Quem mais do que Ferry pretende ser lúcido?
Certos textos de Camus me parecem antecipar os de Ferry, ao menos no estilo: “Ajudamos mais uma pessoa dando dela própria uma imagem favorável do que apontando seus defeitos. As pessoas esforçam-se por assemelhar-se à sua melhor imagem. Ideia que pode alargar-se à pedagogia, à história, à filosofia, à política. Somos, por exemplo, o resultado de 20 séculos de iconografia cristã”.
Um cristão sente esse autor como uma espécie de irmão que, de repente, se embriagou numa reunião social! Temos vontade de socorrê-lo, de abraçá-lo, de conduzi-lo à nossa casa, à Casa do Pai do Filho Pródigo... E obrigá-lo, aí, a passar por uma ducha de água quente, após o que lhe ofereceremos um bule de café.
Ferry, porém, possui uma virtude que Camus nunca possuiu: a humildade. Todo o livro Do Amor a revela ao leitor atento. Apesar de Ferry, às vezes, ter um osso duro de roer na boca, ele sabe disfarçá-lo: “A filosofia tenta indiscutivelmente definir o sentido supremo de nossas vidas, mas sem passar por Deus e pela fé...”. Digamos como conclusão: um cristão sente esse autor como uma espécie de irmão que, de repente, se embriagou numa reunião social! Temos vontade de socorrê-lo, de abraçá-lo, de conduzi-lo à nossa casa, à Casa do Pai do Filho Pródigo... E obrigá-lo, aí, a passar por uma ducha de água quente, após o que lhe ofereceremos um bule de café.
Amável Ferry! Nada tem da sobranceria de um Camus! Leia-se, por exemplo, o último capítulo do livro, onde ele já não fala de Eros, Philia e Ágape, nem tece loas à sua Revolução do Amor, porém, se defronta, como Sansão, com um verdadeiro leão fugido da jaula: a morte. Se o leitor é um homem ocupadíssimo, vá diretamente a esse capítulo: “Conclusão: a Morte, única objeção? O Amor, uma utopia?”.
Desafio qualquer um a não simpatizar com o autor! O capítulo final é de uma autenticidade humana invulgar, um sentimento radioso de honestidade, uma atitude rara de solidariedade e grandeza, que me lembra as palavras de Camus: “Desconfiar de cada palavra. Não a pronunciar com demasiada pressa. Se tirássemos a literatura dos grandes escritores, roubar-lhes-íamos provavelmente o que lhes é mais pessoal”.
Nunca esquecer que Ferry é um extraordinário literato. Ou, se quiserem, ele escreve muito bem!
Nas páginas conclusivas de seu ensaio, após evocar a Epopeia de Gilgamesh, redigida no século 18 a.C.; e depois de alfinetar “pessoas que se dizem cristãs e não creem mais verdadeiramente na ressurreição dos mortos, nas promessas de reencontros com os que amam nesta vida”, ele declara com lisura que “os estoicos, os epicuristas e até Schopenhauer, passando pelos pensadores budistas, esforçam-se sem sucesso para demonstrar que a morte não é nada para o sábio”. Nessa altura, tem a intrepidez de comentar o fracasso das filosofias da morte. Reproduz para o leitor uma emotiva confissão de Jacques Derrida ao Le Monde, quando este já estava lutando com o câncer que iria levá-lo meses depois: “Aprender a viver deveria significar aprender a morrer, a levar em conta, para aceitar, a mortalidade absoluta (sem salvação, sem ressurreição nem redenção, nem para si nem para os outros). Desde Platão, é a velha injunção filosófica: filosofar é aprender a morrer. Acredito nessa verdade, submeto-me a ela cada vez menos. Não aprendi a evitar a morte. (...) Continuo ineducável quanto à sabedoria do saber morrer. Não aprendi nem incorporei nada a respeito”.
Sobre tão emocionante depoimento, tece considerações respeitosas sobre o que denomina “A Tentação Religiosa”. Termina com outra abordagem: sentido na vida contra sentido da vida – que me pareceu, infelizmente, um placebo. De qualquer modo, seu “Novo Imperativo Categórico” à Kant é um fecho maravilhoso e surpreendente: “Aja de maneira a desejar ver as decisões que você toma se aplicarem também aos seres que mais ama”.
Como escritor cristão, considero Luc Ferry não só um filósofo original, malgrado sua obsessiva confiança na Razão, mas um coirmão na fé, que ainda prefere as palavras dos sábios deste mundo à Palavra do Verbo que se fez Carne.