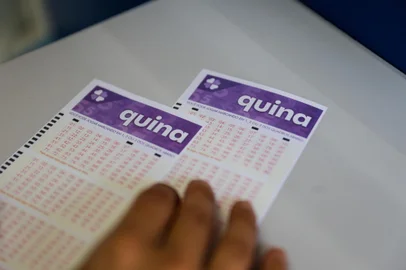Aos 72 anos, Paul Auster é um dos grandes autores norte-americanos em atividade. Escritor, roteirista e ele próprio diretor independente de filmes, já escreveu quase três dezenas de livros, entre memórias, romances, novelas e poemas. Algumas de suas obras são apontadas como essenciais na vertente pós-moderna da literatura, que brinca com gêneros narrativos subvertendo-os ao escrever histórias conscientes de seu caráter de ficção. Sua obra mais recente é o ambicioso calhamaço 4 3 2 1, lançado em 2017 (no Brasil, pela Companhia das Letras) e finalista do Man Booker Prize, no qual quatro versões do mesmo personagem vivem vidas diferentes de acordo com circunstâncias pontuais de sua existência. Auster estará em Porto Alegre em junho para participar do Fronteiras do Pensamento. Por telefone, de sua amada Nova York, ele concedeu a seguinte entrevista.
Em 4 3 2 1, o senhor conta quatro variações da história do mesmo personagem, o jovem Ferguson. Seus recentes livros de memórias (Diário de Inverno e o ainda inédito no Brasil Report from the Interior) representariam uma quinta variação da história de Ferguson, já que muito do pano de fundo é comum?
Não sei. Você chamou esses dois livros de “memórias”. Eu os chamo de “ensaios autobiográficos”. Porque não sei o que são. Não são memórias, não são autobiografias; são livros. Livros sobre estar vivo, e que usam minha própria vida como pretexto para explorar coisas diferentes. E 4 3 2 1 não é um livro autobiográfico. Ferguson não sou eu, nenhum deles é. Ele se parece comigo em algumas coisas, vem do mesmo lugar que eu e vive no mesmo tempo que eu. Mas toda a história é imaginada. Há duas ou três coisas que tirei de minha experiência pessoal, como o episódio em que Ferguson e seu time de basquete de jovens brancos vai jogar contra uma equipe de garotos negros em outro bairro. O que acontece com Ferguson no romance é que ele, cada um deles, é muito precoce, e pode fazer coisas em uma tenra idade das quais muitas pessoas não são capazes. Eu não fui precoce. Levei muito mais anos para amadurecer ao ponto de qualquer um deles.
A estrutura de 4 3 2 1 é engenhosa. Como o senhor chegou à ideia dessa forma, de um romance que é, na verdade, quatro?
Acho que venho dando voltas em torno dessa ideia há muitos anos, mas não sabia bem o que estava pensando. Sempre fui fascinado pelas forças da contingência, pelas coisas que poderiam ter acontecido e não ocorreram. Penso muito nisso, não apenas nas circunstâncias de minha própria vida, mas nas dos outros, e mesmo na história. Por exemplo, as guerras que poderíamos ter travado mas não lutamos, por uma razão ou outra. A crise dos mísseis em Cuba, em 1962, é um bom exemplo. Todos pensavam que iríamos (os EUA) à guerra, e então não fomos e a crise foi evitada. De qualquer modo, me veio a ideia de como seria interessante fazer um livro sobre as vidas paralelas da mesma pessoa. Foi um pensamento aleatório, nem mesmo um esboço de nada, mas, tão logo ele apareceu, Ferguson surgiu em minha mente, ainda sem que eu soubesse muito bem quantas variações haveria ou por quanto tempo a história seguiria. Meu primeiro pensamento foi avançar bastante ao longo de suas vidas, mas, assim que comecei a escrever, percebi que esse livro precisaria ser sobre ser jovem, crescer. E os mais fascinantes anos da vida de uma pessoa são 20 e poucos. Depois disso, começamos a nos tornar quem somos. Nos 20 e poucos, estamos sempre mudando, evoluindo, experimentando, ainda não sabemos de verdade quem somos. Por isso decidi focar o livro nesses anos. E que bom que fiz isso, porque olhe como ele ficou longo só com eles. Se acompanhasse Ferguson até a velhice, estaria escrevendo até hoje (risos).
Trump sempre quis ser aceito pelos ricos de Manhattan, mas nunca foi. Porque desde o princípio ele sempre foi uma pessoa desagradável, feia, estúpida e egoísta. Além de maluco. Ele provavelmente é a pessoa mais maligna e narcisista que eu já vi na vida pública dos EUA.
PAUL AUSTER
Escritor
O senhor já escreveu sobre homens velhos refletindo sobre escolhas erradas da juventude. É algo que se vê em Timbuktu, O Livro das Ilusões, Noite do Oráculo, Desvarios no Brooklyn. Como o senhor decidiu se voltar para um retrato mais urgente e menos mediado da juventude em livros mais recentes?
Acho que, à medida que envelhecia, eu quis explorar a questão do envelhecimento. Foi algo que se tornou interessante para mim. Agora que me tornei velho de verdade, as coisas da juventude me parecem mais interessantes, e acho que meus últimos livros se dirigem a isso. Se você pensar, já Invisível é um livro em parte sobre personagens jovens. Sunset Park também. Diário de Inverno cobre um bocado do território de minha infância, e, depois dele, ainda veio Report from the Interior, que é todo sobre ser jovem. Escrever esses dois livros de não ficção biográfica preparou o terreno para 4 3 2 1, embora eu não tenha entendido isso na época. Especialmente em Report from the Interior, eu estava explorando coisas da minha infância. Pela primeira vez, de modo bem consciente, tentei buscar na escrita coisas que havia perdido. E não consegui recuperar todas elas, só umas poucas. Então, penso que, no final, estava pronto emocional e mentalmente para mergulhar na infância em uma obra de ficção.
Em todas as versões, Ferguson é, como o senhor comentou, jovem inteligente e precoce, com uma sensibilidade e um pendor para a arte. Por que não há uma versão “burra” do personagem?
Porque geneticamente eles ainda são a mesma pessoa. Seria muito fácil escrever um livro sobre as vidas de um mesmo personagem em que, em uma, ele vira um astronauta, em outra, vira um assaltante de banco e, em uma terceira, vira um padre. Mas isso seria absolutamente implausível. Então, meus Ferguson dividem muitas coisas. Eles têm o mesmo corpo, no fim das contas, o mesmo cérebro, o mesmo interesse em música, em livros, filmes, são todos do mesmo sexo. São muito parecidos. Mas, à medida que vão ficando mais velhos, devido às circunstâncias e ao ambiente que são um pouco diferentes em cada caso, evoluem de modo diverso, e, quando terminam seu crescimento, têm personalidades diferentes.
Nos anos 1960, mesmo partidos como os EUA estavam, e mesmo envolvidos em uma guerra estúpida e terrível no Vietnã, havia esperança no futuro. Eu realmente achava que as coisas iriam melhorar. Hoje, por mais que eu tente trabalhar duro para dar minha contribuição, tenho medo. Estamos correndo um sério perigo, o maior desde a Guerra Civil de 1861. Estamos divididos e incapacitados de conversar uns com os outros.
PAUL AUSTER
Escritor
O protagonista de 4 3 2 1 vive momentos turbulentos dos anos 1960. O senhor, que também passou por aquela época mais ou menos na mesma idade de seu personagem, vê algum paralelo entre aquele momento e agora?
Há algumas coisas que ainda são as mesmas, e é singular o quão pouco as coisas mudaram nos últimos 50 anos. Meu título original para o livro deveria ter sido Ferguson, o nome do protagonista, como em David Copperfield. E, quando eu já vinha escrevendo o livro há um ano, um ano e meio, um policial baleou e matou um jovem negro em uma cidade no Missouri chamada Ferguson – uma cidade da qual eu nunca havia ouvido falar, que, de repente, estava em toda parte, em todos os noticiários, tornando-se parte da história da luta pelos direitos civis nos EUA, como Selma ou Montgomery. E aí eu não podia mais usar esse título. Então, o presente afetou o que eu estava fazendo em um livro sobre o passado.
Mas e com relação ao espírito da época? Há vários momentos que Ferguson sente como traumáticos. Que comparação o senhor faz com eventos atuais?
Estamos em outro momento de conflito, um tipo de conflito diferente. Acho que a principal diferença para mim, e talvez seja porque estou mais velho, é que, nos anos 1960, mesmo partidos como os EUA estavam, e mesmo envolvidos em uma guerra estúpida e terrível no Vietnã, havia esperança no futuro. Eu realmente achava que as coisas iriam melhorar. Hoje, por mais que eu tente trabalhar duro para dar minha contribuição, tenho medo. Acho que podemos melhorar, mas não tenho certeza. Estamos correndo um sério perigo, o maior desde a Guerra Civil de 1861. Estamos divididos e incapacitados de conversar uns com os outros. E, por causa do sistema eleitoral norte-americano, temos hoje no cargo um governo que não é da maioria, mas da minoria, e está se afastando tanto dos ideais do país que está se tornando irreconhecível. Isso é assustador. Os EUA têm de lutar arduamente para recuperar a sanidade e tentar ser um país de todos outra vez.
Há alguns anos, o senhor deu uma declaração polêmica à revista Salon comparando a extrema-direita do Partido Republicano a jihadistas. Como vê essa declaração agora, com Donald Trump na Casa Branca?
Agora está ficando pior. Quando Trump foi eleito, concedi uma entrevista ao Channel 4 da TV britânica e pensei ali numa metáfora que considero válida. Eu disse que, desde a Guerra Civil, nós, americanos, tivemos grande fé na solidez de nossas instituições, e por instituições eu digo a Constituição, o Estado de Direito e o sistema de governo. Acreditávamos que eram sólidas como um edifício de granito. Mas e se todo esse tempo esse edifício não era feito de pedra, e sim de sabão? E se Trump e sua equipe viessem e ligassem suas mangueiras e esse edifício começasse a derreter, virar espuma e a escorrer pelas sarjetas? O que aconteceria? Bom, posso dizer, dois anos e meio depois, que o edifício está derretendo, e Trump está desmontando o governo pedaço por pedaço. É uma coisa horrível de se ver. Rezo para que ele seja derrotado em 2020 e esteja fora da Casa Branca, bem como os republicanos de extrema-direita. Chamei-os de jihadistas, em primeiro lugar, porque estavam matando o governo, mas também porque estavam matando pessoas. Eles recusam até a ideia de saúde pública, o que é literalmente matar as pessoas, e não assumem responsabilidade por isso. São assassinos silenciosos de inocentes que precisam de ajuda mas não a recebem porque esses políticos são tão gananciosos e mesquinhos e cruéis que não se importam com essas mortes.
Chamei os republicanos de extrema-direita de jihadistas, em primeiro lugar, porque estavam matando o governo, mas também porque estavam matando pessoas. Eles recusam até a ideia de saúde pública, o que é literalmente matar as pessoas, e não assumem responsabilidade por isso. São assassinos silenciosos de inocentes.
PAUL AUSTER
Escritor
Isso ecoa de forma diversa em alguém como o senhor, que sempre fez o elogio da maior cidade norte-americana, Nova York, como uma experiência de diversidade e inclusão que se diferenciava muito do aspecto algo insular da mentalidade americana?
Eu ainda acredito nisso. Nova York claramente não é um lugar perfeito, eu jamais argumentaria que vivo em um paraíso. É um lugar maluco, difícil e, em certos aspectos, muito agressivo, mas o fator fundamental de Nova York é que o mundo todo vive nessa cidade, pessoas do mundo todo. Provavelmente há mais brasileiros em Nova York do que em algumas cidades do Brasil. E, mesmo com todo o mundo na cidade, as pessoas não estão constantemente matando-se umas às outras como em Sarajevo, Belfast, Jerusalém. Para viver em Nova York, você precisa aceitar a alteridade. E essa é uma tarefa fundamental, creio, em qualquer democracia: reconhecer os direitos de pessoas que não são iguais a nós, reconhecer a humanidade comum de todos. Você quer cultuar seu Deus e eu quero cultuar o meu, tudo bem, mas eu não posso te matar porque o seu Deus não é o meu. Não é a forma democrática de agir.
Como viu a eleição de Trump, um homem a seu modo também ligado a Nova York, e que, no entanto, se elegeu apelando para o oposto dessa ideia?
Sim, Trump cresceu em Nova York, no Queens. E se mudou para Manhattan como um jovem empresário. Sempre quis ser aceito pelos ricos de Manhattan, mas nunca foi. Porque desde o princípio ele sempre foi uma pessoa desagradável, feia, estúpida e egoísta. Além de maluco. Ele provavelmente é a pessoa mais maligna e narcisista que eu já vi na vida pública deste país. Ele é odiado em Nova York. Nós, os nova-iorquinos, não o reconhecemos como um dos nossos. Na eleição de 2016, ele teve apenas 18% dos votos de Nova York, a maioria deles em Staten Island, que é um reduto republicano. Não volta à cidade há anos, porque sabe que, se mostrar a cara, haverá multidões nas ruas protestando contra ele.
Há uma onda de extrema-direita que parece estar se alastrando na política mundial. Uma derrota de Trump em 2020, como o senhor diz esperar, mudaria isso?
Trump tem sido muito perigoso também para o resto do mundo. Seu exemplo encorajou outros políticos do mesmo tipo – inclusive no Brasil. Trump encoraja seus partidários a declararem furiosamente coisas que antes eles teriam apresentado com mais cautela. Acho que, se ele for derrotado, será bom para todo o planeta. Mas estou evitando a sua questão, eu sei. O que quero dizer é que, sim, há uma crise em marcha no mundo que tem a ver com algo muito maior do que qualquer um de nossos países isoladamente. É uma questão global, e penso que o problema é que as pessoas entenderam hoje que o sistema no qual vivemos não está funcionando de modo justo para a maioria das pessoas. Os 400 homens mais ricos dos EUA possuem mais do que os 100 milhões de pobres do país. Quando vivemos em um mundo tão desigual, algo está muito errado, e penso que muito do que vem acontecendo são manifestações de raiva e frustração. Mas o problema é que isso não ajuda a compreender o sistema ou a apresentar uma ideia de mudança, então estamos caindo em ideias velhas e perigosas. As pessoas estão com medo, então, quando aparece um homem forte prometendo matar todos os bandidos, fazer uma faxina, “me ouçam e vocês ficarão bem”, as pessoas aceitam isso e embarcam na ideia. Mas é uma coisa muito perigosa. No século 19, quando o capitalismo e a industrialização estavam surgindo, o socialismo também surgiu, trazendo uma forma oposta de pensar as grandes questões, com Marx e outros. Não temos um Karl Marx hoje. Não emergiu ninguém tentando compreender a situação e propor uma alternativa. Por isso parecemos estar emperrados.
O senhor exerceu uma parceria com Wayne Wang no cinema, em Cortina de Fumaça e Sem Fôlego, filmes com histórias cotidianas em uma tabacaria que representava um ponto de encontro para uma comunidade. Como vê o atual estado do cinema, em que esse tipo de filme tem dificuldade para cavar espaço num mercado dominado por blockbusters de super-heróis?
Esses dois filmes e mais os dois que eu dirigi (O Mistério de Lulu, de 1998, e Kimera: Estranha Sedução, de 2007) também precisaram lutar por seu espaço. Mas estão voltando: acabaram de ser relançados em DVD e Blu-ray (nos EUA). Minha sensação é que a indústria do cinema, o negócio, matou o cinema como forma. Esses blockbusters... Eu não os assisto, não consigo. Eles são para crianças. Ainda há um bom número de grandes cineastas em atividade, mas, nos EUA, eles estão marginalizados. Ainda há excelentes diretores ao redor do mundo, na América do Sul, na Ásia. E há bons filmes sendo feitos. Mas eles são cada vez menos populares, não são muito vistos. E é por isso, penso, que os festivais de cinema se tornaram tão populares. Há cada vez mais deles – e é onde o cinema independente está sendo visto, porque eles não estão mais ocupando as salas comerciais de cinema. Há um grande mundo e um pequeno mundo. Eu gosto mais do pequeno.
O problema hoje em dia é que os estúdios de cinema são parte de grandes corporações, e aqueles no comando são apenas empregados, todos com medo de serem demitidos se fizerem uma escolha errada com um filme. Eles tendem a fazer o que a maioria faria nessa situação: apostar no que parece mais seguro, perpetuando assim a mediocridade que temos.
PAUL AUSTER
Escritor
Mesmo no grande mundo, têm sido louvadas nos últimos tempos as novas possibilidades e a diversidade de canais de streaming, embora seja um negócio que parece movido pela novidade. O que o senhor pensa?
O streaming é errático. Você nunca sabe o que tem lá e não consegue ver o que quer quando quer, o que é uma frustração. Mas ainda temos, ao menos nos EUA, a alternativa dos DVDs, por exemplo. E também algo muito bom chamado Turner Movie Classics, uma estação de TV que exibe, 24 horas por dia, sem comerciais, filmes clássicos. A maioria deles são norte-americanos, mas há muitos estrangeiros, e há programações especiais para filmes mudos muito antigos. Minha esposa (a também escritora Siri Hustvedt) e eu vemos esse canal o tempo todo. Nos tornamos grandes conhecedores do que foi feito no cinema norte-americano dos anos 1930, uma era maravilhosa, exuberante. Temos também cinematecas, museus, mas ainda é um ramo marginal, não faz mais parte da cultura popular de massa. Não posso fazer nada sobre isso a não ser ficar triste.
Eu gostaria de voltar a um ponto que o senhor comentou, o de que a indústria do cinema matou os filmes. O que o senhor quer dizer com isso?
Mesmo sob o regime do antigo sistema dos estúdios de Hollywood, horrível e cruel como ele era, em muitos aspectos, as pessoas no comando desses estúdios eram as responsáveis pelas decisões sobre os filmes. O problema hoje em dia é que os estúdios são parte de grandes corporações, e aqueles no comando são apenas empregados, todos com medo de serem demitidos se fizerem uma escolha errada com um filme. E eles tendem a fazer o que a maioria faria nessa situação: apostar no que parece mais seguro, perpetuando assim a mediocridade que temos – aliás, é pior do que mediocridade, é ruindade mesmo – porque estão assustados demais para correr riscos. É sempre uma situação ruim quando os responsáveis pelas decisões não têm o controle do que estão fazendo.
Seu breve romance Viagens no Scriptorium aborda um homem desmemoriado sendo cuidado por antigos “agentes” que enviou em missões variadas. E há uma sugestão de que esse homem talvez seja o senhor, e os “agentes”, seus próprios personagens. O senhor se considera essa espécie de “M de James Bond”. mandando seus personagens a missões de vida ou morte?
Não, não. O fato é que, como romancista, quando você vive com seus personagens por tanto tempo, eles realmente se tornam vivos para você. Tão vivos como pessoas reais. Quando você termina o livro, eles não convivem mais com você, mas – e é essa a coisa engraçada – os personagens parecem ter continuado com suas próprias vidas. E você se pega pensando no que estariam fazendo. Eu não penso muito nos meus livros já escritos, mas penso muito nos meus antigos personagens. Viagens no Scriptorium é um livrinho estranho. O protagonista, Mr. Blank, é um homem velho, e sua mente não está mais funcionando muito bem. Além disso, estão dando a ele muitas drogas, então ele não está pensando com clareza. O livro tem muito a ver com reminiscências em idade avançada, mas também pode ser o conto de um sequestro. Ele pode ser lido de muitas formas, então eu não gostaria de dizer que uma é mais importante do que a outra. Sabe, romancistas são pessoas estranhas. Criamos seres imaginários que parecem estar vivos e saem pela vida. E seus livros são obras que vão viver mais do que você. Você escreve um livro e, mesmo anos depois de sua morte, enquanto estiver sendo lido, aqueles personagens viverão outra vez.