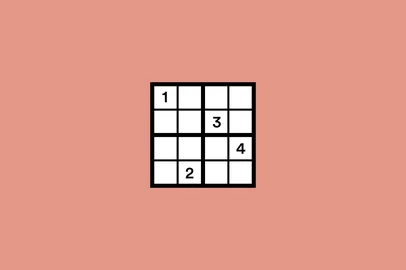Para avaliarmos as chances de o governo Luiz Inácio Lula da Silva mediar um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia é preciso regressar a pelo menos um ano atrás, semanas antes de o conflito. O então presidente Jair Bolsonaro visitou o russo Vladimir Putin, no Kremlin, quando os tambores da guerra já ruflavam no Leste Europeu. Bolsonaro esteve com Putin no dia 16 de fevereiro. Putin invadiu a Ucrânia, uma clara violação do direito internacional, no dia 24. Ou seja, oito dias depois.
A viagem de Bolsonaro foi encarada pelos Estados Unidos, sob o governo Joe Biden, como uma afronta, um claro posicionamento do Brasil do lado errado da História.
Ainda sob o comando de Bolsonaro, o Brasil votou no Conselho de Segurança das Nações Unidas por condenar a invasão russa, mas se absteve de condenar a anexação ilegal de territórios, responsabilizar Moscou e até de deixar Volodimir Zelenski discursar na Assembleia-Geral.
A mudança de governo pouco afetou o entendimento, no Itamaraty, da necessidade de manter a tradição da diplomacia brasileira, de manter a neutralidade do país frente a desafios internacionais.
Mas percebe-se, nos discursos e nas ações de Lula, uma busca por protagonismo internacional. Com relação à guerra na Ucrânia, a mudança é sutil, mas relevante. O governo rejeitar o envio de armas e munições à Ucrânia, apesar dos apelos do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em visita a Brasília em janeiro. Na viagem de Lula a Washington, o presidente cedeu às pressões americanas e subiu o tom das críticas à Rússia. A crítica, ainda que com todos os cuidados da linguagem diplomática, apareceu na declaração final da visita de Lula a Biden: a condenação "da violação da integridade territorial da Ucrânia pela Rússia” e “violações flagrantes do direito internacional”.
Lula apresentou a Biden um plano de paz - relevante e valorável (qualquer iniciativa em prol da paz é assim) - porém pouco detalhado. Sabe-se apenas que propõe a criação de um grupo de países supostamente neutros para mediar a trégua. Digo "supostamente" porque, a frente de nações é integrada por China, Índia e Turquia - países que não têm nada de neutralidade no conflito.
A Turquia é velha conhecida: embora seja integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), seu presidente, o autoritário Recep Tayyip Erdogan aproximou-se da Rússia desde o conflito na Síria. A Índia, do primeiro-ministro Narendra Modi, critica a invasão da Rússia, mas a tem Putin como aliado (e inclusive comprou seus produtos nesse um ano de guerra, salvando-o da asfixia econômica das sanções) porque vê o gigante ao Norte como parceiro no equilbrio da balança de poder regional com a rival, China.
E aí chegamos ao dragão asiático. Pequim tem sido um ator ambíguo na guerra. Antes do conflito estourar, Putin foi a Pequim para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, momento em que, com Xi Jinping, os dois países selaram uma "amizade sem limites". Nesta semana, o chanceler chinês, Wang Li, visitou Putin em Moscou reforçando "parceria estratégica". Na frente das câmeras, o governo chinês propõe cessar-fogo, fim das sanções do Ocidente e a abertura de corredores humanitários para retiradas de civis de áreas de combate e para exportação de grãos.
O desafio brasileiro, ao se propor como mediador, não é pequeno: equilibrar-se entre os interesses divergentes de aliados. De um lado, os Estados Unidos de Biden. De outro, a Rússia e a China, parceiro de Brics, o grupo integrado ainda por África do Sul e Índia.
Não é pouco uma vez que a principal proposta de paz até agora veio da China, talvez o primeiro gesto do dragão como fiador da ordem internacional pós-Guerra Fria. Até aqui e desde a Segunda Guerra Mundial, quem ditava a agenda eram os Estados Unidos.
Fantasma da política externa do governo petista, a tentativa de negociação brasileira da crise entre Estados Unidos e Irã, no governo Lula 2, virou case de excesso de voluntarismo - o Brasil acabou sendo patrolado pelos americanos. Aprender com os erros é salutar. No caso da Ucrânia, à diplomacia brasileira cabe ficar atento aos americanos, mas também ressalvas à China. Dessa vez, o golpe pode vir do outro lado.
O outro ponto a ser refletido é até onde o Brasil é capaz de ir com sua diplomacia neutra. Ser player global exige engajamento. E, ainda que mínimo, o impacto de tomadas de decisões assertivas no xadrez global já pode ser percebido com a reação da Alemanha. Nesta semana, o governo Olaf Scholz vetou a exportação de blindados Guarani para as Filipinas, por conter peças alemãs. O preço de ser um ator global virá cedo ou tarde. A questão é assumir as decisões e bancá-las. Por enquanto, proposta brasileira é ingênua e superficial