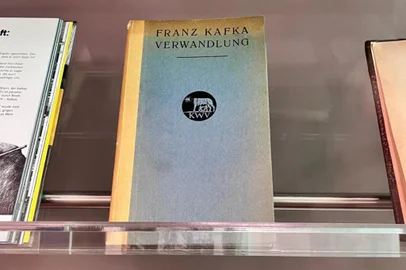Gisele Bündchen foi criticada por ter aceitado um cachê de US$ 2 milhões para participar de uma ação de marketing na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A top gaúcha ficou três horas no sambódromo, e a imprensa não perdoou: a cada minuto, ela faturou a bagatela de R$ 57 mil, enquanto uma funcionária responsável pela segurança local disse ter recebido “R$ 200 para trabalhar a noite toda”.
O debate sobre a precificação da imagem, o mérito de Gisele (que aqui não se questiona) e o valor envolvido na transação (de fato acintoso se comparado ao salário mínimo nacional) é válido, mas não pode se limitar à übermodel, que, aliás, leva o Rio Grande do Sul por onde brilha.
O ponto é: o que dizer dos jogadores de futebol que ganham salários bilionários para chutar uma bola? E dos “super-ricos”, em geral exaltadas nas capas de revista pela “veia empreendedora” ou coisa que o valha?
O Global Wealth Report 2022, do banco Credit Suisse, apontou o avanço da concentração de renda em nível global. No Brasil, aquele “1% mais rico da população” detém metade da riqueza nacional.
Os contrastes estão em todos os lugares, e é bem provável que quem critica Gisele - se pudesse - teria feito exatamente o mesmo. A desigualdade social vai muito além da Sapucaí.