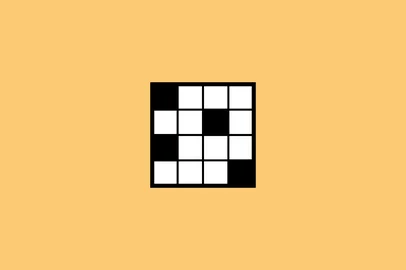Aos 30 anos, a biomédica baiana Jaqueline Goes de Jesus protagonizou um feito científico de repercussão mundial: integrou a equipe que realizou, em fevereiro de 2020, o sequenciamento do genoma do coronavírus em apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de covid-19 no Brasil.
Professora e pesquisadora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Jaqueline, hoje com 33 anos, divide-se entre Salvador e São Paulo, onde atua também na Universidade de São Paulo (USP). Em 7 de novembro, estará na Universidade Feevale, em Novo Hamburgo, proferindo a palestra de abertura do evento Inovamundi, sobre a força da ciência jovem e feminina no país.
– Ainda tenho um caminho muito longo para traçar na ciência – afirma Jaqueline, que inspirou uma das bonecas Barbie criadas pela Mattel para homenagear profissionais da saúde.
Leia a entrevista a seguir e, ao final, confira detalhes do Inovamundi:
Você é mulher e jovem cientista. Vem ao Rio Grande do Sul falar justamente sobre isso. Pode adiantar um pouco do que deve abordar na sua palestra?
Minha palestra será norteada basicamente pela experiência na carreira científica. A ideia é passear um pouco sobre essa trajetória, conversando sobre as dificuldades, nossas vivências, o que dá certo, o que não dá. Gosto de falar sobre isso porque o fato de eu ter sido reconhecida nacional e internacionalmente, por ter uma boneca à minha imagem e semelhança, dá essa ideia de que estou no auge no sucesso. E não me considero essa pessoa extremamente bem-sucedida. Ainda tenho um caminho muito longo para traçar na ciência, caminho este que está pautado no que entendemos como ciência hoje, como sucesso dentro da ciência. A ciência está mudando, ficando com uma cara mais jovem, se modernizando, trazendo perspectivas diferentes para o contexto contemporâneo. Venho de uma educação científica que preza muito pela trajetória, pela carreira longa, pela quantidade de artigos publicados, pela quantidade de orientações (de alunos), enfim. Ainda não me sinto nesse lugar de sucesso, mas entendo que a minha trajetória pode trazer uma inspiração para o jovem. E quero uma aproximação para a pessoa que sou para além da mídia, do reconhecimento. Quero falar: já estive no lugar de vocês, já passei pelos mesmos desafios, sei quais são as dificuldades. Quero tentar mostrar estratégias para que esses alunos possam, daqui a cinco ou seis anos, serem reconhecidos também.
A equipe que sequenciou o genoma do SARS-CoV-2 no Brasil fez isso apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso no país – a média mundial, à época, era de 15 dias. Como foram essas 48 horas?
O sequenciamento tem uma fase em que a gente coloca a mão na massa, faz experimento em laboratório. Depois, quando coloca para sequenciar, pode deixar o computador fazendo o trabalho. As 48 horas são desde quando recebemos a amostra até liberarmos o relatório final, postado na comunidade científica. As 48 horas, na realidade, vão muito além do sequenciamento de fato. Tem o processamento da amostra, a identificação correta do vírus, a análise que se faz do resultado do sequenciamento. Essa análise vai fazer uma contextualização epidemiológica para gerar um relatório. O que ficou marcado foram realmente as 48 horas, mas isso foi o trabalho da equipe como um todo. O meu trabalho durou em torno de umas 16 para 20 horas e foi feito duas vezes. Nas primeiras 24 horas, a primeira tentativa, conseguimos 76% do genoma. Repeti e consegui os 98%, o que já se considera um genoma completo. Tem regiões que você realmente não consegue sequenciar, independentemente da técnica.
É comum, no meio científico, falar que pesquisadores contribuem com suas descobertas como se fossem tijolos em uma construção. Passados dois anos e meio, como você avalia o tamanho do feito de vocês?
Demorei para fazer uma reflexão do panorama como um todo. O coronavírus foi um caso. Já tivemos outros casos. Com a monkeypox (varíola dos macacos), uma colega foi a primeira a sequenciar em 18 horas. Dominamos essa técnica. Temos noção do impacto disso para a saúde pública. Mas eu realmente acho que o sequenciamento do coronavírus trouxe uma contribuição para a discussão geral sobre a ciência. A partir daquele momento, começou a se discutir muito sobre ciência no Brasil, e aí não focou apenas na dra. Ester (Ester Sabino, professora do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP) e na dra. Jaqueline, mas na ciência como um todo, no trabalho de muitos outros cientistas. Puxamos a discussão para isso: temos um grupo majoritariamente feminino trazendo uma contribuição enorme para a saúde pública no Brasil e ainda somos minoria, não conseguimos a equiparação salarial, a equiparação de representatividade dentro da ciência. A discussão saiu do campo biológico, biomédico, de realização do sequenciamento, e veio para esse outro campo da discussão sobre a ciência em si, o desmonte que acontece na ciência, que estamos vivendo, infelizmente, neste governo, apesar de todo o potencial que o Brasil tem. E também a educação científica do nosso povo. Passamos por momentos de negacionismo muito forte. Não tem como você ser negacionista. É uma revolta infundada. Podemos nos contrapor a muitas coisas, mas à ciência não dá. Inclusive os meios que as pessoas utilizam para ser negacionistas foram criados pela ciência, então tem uma grande contradição. As pessoas utilizam a internet para propagar fake news, sendo que quem criou o computador, a internet, as redes de comunicação foram os cientistas.
Não tem como você ser negacionista. Podemos nos contrapor a muitas coisas, mas à ciência não dá. Inclusive os meios que as pessoas utilizam para ser negacionistas foram criados pela ciência.
Você integra a Equipe Halo, projeto das Nações Unidas com pesquisadores que combatem a desinformação sobre a covid-19 nas redes sociais. O volume de notícias falsas sobre a pandemia e as vacinas a surpreendeu? Como lidou com isso?
Fomos surpreendidos pela quantidade de negacionismo que muito provavelmente já existia e foi propagado, ganhou força pela ignorância, no sentido de falta de conhecimento, da população. No olho do furacão, encarei como meu papel combater isso. Não importa se vou ser criticada, porque fui muito criticada, não importa se vou ser cancelada, não importa que tipo de ataque vou receber, mas meu papel aqui é tentar desmistificar a ciência e, mais do que isso, combater as fake news trazendo informações corretas. Fui atacada de muitas formas. Nas redes sociais, as pessoas acham que têm liberdade para tudo. Precisamos estar psicologicamente bem preparados. Eu estive: acabei tendo acompanhamento psicológico durante todo esse período pandêmico. Tem horas que dá vontade de xingar todo mundo, se recolher. Tem gente que acha que sabe de determinado assunto, mas não tem a menor noção. Então, minhas respostas para os haters eram ácidas. Acho que isso desmantela a pessoa que está do outro lado porque ela acha que eu realmente vou entrar em uma discussão, ficar ali tentando convencê-la. E eu simplesmente falo: “Olha, não é assim que funciona, e se você continuar vou excluir o seu comentário, você está fazendo anticiência em um perfil científico”. Eu tinha uma tolerância muito pequena para os haters, mas para as pessoas que vinham com dúvidas, que queriam realmente entender melhor o assunto, aí eu explicava, me debruçava por horas para escrever. Isso toma um tempo...
O que mais a abalou nessas interações?
Por incrível que pareça, foram as críticas dos próprios cientistas. A comunidade científica resistiu muito até entender que estamos em uma era diferente e que a comunicação com a sociedade tem que ser o objetivo principal do nosso trabalho, e não algo secundário. Quem faz ciência no Brasil recebe recursos públicos. As pessoas esquecem que quem paga nosso salário é a população, com os impostos. Às vezes, o cientista acha que a pesquisa é dele, e é difícil você quebrar essa cultura. Era uma crítica ao estrelismo, a estar na frente da câmera dando entrevista. Era crítica de um ego ferido, vaidade ferida. Acho que hoje isso já melhorou. Percebo que alguns dos cientistas que me criticaram fazem a mesma coisa (risos). É normal você resistir ao novo. Continuo acreditando numa proposta maior: munir a população de conhecimento científico suficiente para que possa ter senso crítico, não só na questão científica, mas em todas as outras questões.
Há uma ideia estereotipada do que é o cientista. Tem muito mais gente jovem fazendo ciência hoje no Brasil do que pessoas mais velhas.
Você tinha 30 no sequenciamento do coronavírus. Surpreende-se ao pensar como era jovem em uma conquista tão expressiva?
Acho que há uma ideia estereotipada do que é o cientista. Tem muito mais gente jovem fazendo ciência hoje no Brasil do que pessoas mais velhas. Óbvio, temos professores consagrados em suas áreas, mas a grande parcela de pessoas que fazem ciência no Brasil, que vão para campo, que fazem o trabalho documental, são jovens, os estudantes de pós-graduação. São raras as exceções a essa regra. Hoje tenho essa noção: nós somos jovens que produzimos conteúdo e conhecimento científico que acaba sendo disponibilizado pelos nossos superiores mais experientes. Estamos em uma idade de produtividade. No meu caso, graduada desde os 22 anos, levei 10 anos para ser “consagrada”, e bem entre aspas mesmo, na minha área. Muitos de gerações mais novas, por conta dessa facilidade de comunicação, têm sido “consagrados” mais cedo.
A pandemia deu uma visibilidade tardia aos cientistas brasileiros. Você concorda?
Concordo. Acredito que a pandemia veio como esse fenômeno para dar visibilidade aos cientistas. Foi um período em que as pessoas quiseram, de fato, ouvir a ciência, e a ciência era quem podia dar respostas. Essa demanda pelo conhecimento científico, que veio em uma situação que abalou emocionalmente e fisicamente a população mundial, fez com que os cientistas fossem requisitados, e isso trouxe visibilidade para a categoria. Veio de forma tardia, sim. Nossa esperança era de que não precisássemos desse tipo de boom científico. O ideal seria que a ciência estivesse incutida na sociedade, na nossa educação, que fosse algo natural. Isso não ocorrer mostra a fragilidade da nossa educação formal. A nossa população não foi estimulada a pensar cientificamente, por isso o espanto, a admiração, hoje, pelos cientistas. Não que não mereçam, mas, se uma população é educada cientificamente ao longo de sua história, questões científicas passam a ser coisas do dia a dia, que todos entendem e apoiam.
Ideal seria que a ciência estivesse incutida na sociedade, na nossa educação, que fosse algo natural. Isso não ocorrer mostra a fragilidade da nossa educação formal.
São inúmeros os relatos sobre a persistência de um ambiente hostil para mulheres na academia e na pesquisa científica. Você é mulher e negra. Já enfrentou dificuldades?
É uma realidade. Tive que enfrentar bastante coisa por ser mulher e por ser negra, mas acho que muito mais por ser uma mulher negra do que por ser uma mulher unicamente. O ambiente que frequentei durante o meu processo de formação científica era muito feminino, povoado por mulheres, contudo a grande maioria era de mulheres brancas, que não tinham essa noção do quanto segregavam as mulheres que não faziam parte do universo delas. Um relato bem pessoal: por ser uma mulher negra, a minha realidade de vida, desde a questão financeira até a questão estética, sempre foi muito diferente da realidade das minhas colegas de trabalho, no ambiente acadêmico. Isso impacta nos hábitos, na forma como você se relaciona com a sua imagem no espelho, em relação a questões sociais. Tem suas particularidades, mas, de modo geral, você não frequenta os mesmos ambientes, não tem as mesmas demandas, não conversa sobre as mesmas coisas. Existe um distanciamento muito forte, que nem sempre é tão nítido, justamente porque as vivências são diferentes. E, num ambiente em que você, infelizmente, acaba sendo um dos poucos negros, você é a exceção. A regra é aquilo que está posto. Fui essa exceção em alguns momentos. Sofri pressões por parte das outras mulheres que eram diferentes de mim e estavam no mesmo ambiente e também de homens, professores, pesquisadores que não tinham letramento racial e que talvez até hoje não o tenham para entender as nuances de uma aluna que não era pertencente àquele universo ao qual estavam acostumados. Para todos os efeitos, eu é que precisava me encaixar. E isso trouxe um dano psicológico que até hoje tento combater.
Fala-se muito na “fuga de cérebros” do Brasil, pesquisadores que desistem de trabalhar aqui e vão para países com condições melhores. Que avaliação você faz do cenário nacional da pesquisa científica? Já pensou em deixar o país?
É um movimento real, quase que necessário, principalmente porque os cientistas, para se tornarem cientistas, acabam tendo um investimento intelectual muito acentuado ao longo da carreira. Pensando no investimento que se faz para se tornar um cientista e no retorno que o Brasil oferece para esse mesmo profissional, que é extremamente qualificado e na grande maioria das vezes já tem 10, 15 anos de formação e especialização, o retorno é muito pouco. Esse retorno se traduz financeiramente, mas pode ser desdobrado em muitos aspectos: qualidade de vida, autonomia para desenvolver atividades, autonomia financeira para constituir uma família e no próprio fazer da ciência. Em muitos casos, os pesquisadores precisam ser professores e ter algum vínculo como docentes para desenvolver pesquisa. É como se a pesquisa se tornasse uma atividade secundária, o que funciona muito bem para alguns, mas não deveria ser uma regra para que o indivíduo possa exercer sua profissão, aquilo que ele faz de melhor, que é a pesquisa e a ciência. Há muitos atrativos fora do Brasil. Não vou dizer que esse é um objetivo de vida. Já tive oportunidade de ir para fora, mas volto e fico. Tenho vontade de permanecer pelo vínculo familiar e pela identificação com a cultura. Mas estou numa posição completamente diferente. Não posso usar a minha realidade como padrão. Sei que estou em posição mais tranquila do que a maioria dos pesquisadores que conheço.
Sei que você teve uma Barbie na infância. O que achou da versão que a Mattel criou inspirada em você?
Reconheço a homenagem como muito significativa, de representatividade e mudança de paradigmas. A Barbie é um símbolo de estratificação social, inclusive, pelo menos para a minha geração. A gente comparava o material para ver se a Barbie que a criança tinha era original ou não. Isso trazia uma implicação muito forte: como você não tem condição de ter uma Barbie original? Se você não tem condição, então não pode brincar com as outras crianças que têm Barbies originais. Ainda que você brinque, sempre vai ter a menção de que sua Barbie não é original. Como a Barbie sempre foi cara e, fisicamente falando, sempre teve um padrão, isso foi duro na minha infância. Minhas primas e vizinhas, cada uma tinha uma parte da casa da Barbie, a gente tinha praticamente o condomínio da Barbie inteiro, e eu via que aquela vida de luxo não se parecia com a vida que meus pais tinham. Eu não projetava aquilo para o futuro porque não era minha realidade. Era algo de filme, não era inspirador. Ter uma boneca à minha imagem e semelhança, uma cientista negra de origem pobre, talvez seja justamente o ponto necessário para que as crianças se inspirem. Isso é uma questão teórica, porque, na prática, até hoje, a boneca não foi comercializada, só tem um exemplar, que foi produzido para mim, como presente. O que a sociedade tem é a imagem da boneca. Mas ela quebra um paradigma e rompe esse ciclo de exclusão.
Como defensora do Sistema Único de Saúde (SUS), que avaliação faz da saúde pública no Brasil?
O SUS precisa ser bem gerido. No papel, as diretrizes que o estabelecem são perfeitas. O que temos é uma má gestão no Brasil como um todo: desvios, corrupção, obstáculos que impedem que o sistema seja aplicado da forma como é proposto. Minha defesa do SUS é muito mais em termos de protestos contra os desvios de verbas. Se toda a estrutura que fundamenta o SUS for colocada em prática, teremos um sistema muito eficiente. E não estou falando só de assistência, mas de todo um conjunto, inclusive da pesquisa, porque grande parte das pesquisas que levam a insights importantes em saúde pública vem de pesquisas realizadas no ambiente do SUS. O SUS é assistência, pesquisa, vigilância. Um conjunto de ações que prezam pelo bem-estar físico, mental e social dos indivíduos.
O Inovamundi
O evento de inovação científica da Feevale é composto de uma série de mesas temáticas realizadas entre a próxima quinta-feira (3/11) e 12/11. A palestra de abertura, intitulada “A Força da Ciência Jovem e Feminina no Brasil”, com Jaqueline Goes de Jesus, será às 19h30min do dia 7, no Teatro Feevale. Os ingressos estão disponíveis em teatrofeevale.com.br. Outras informações sobre a programação você pode conferir em feevale.br/hotsites/inovamundi.