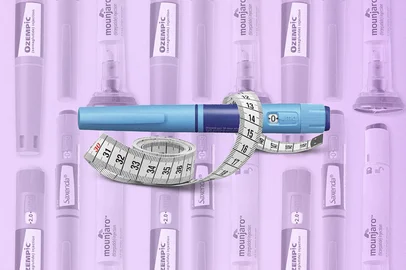Países que conseguiram superar a primeira onda da pandemia têm algo em comum além de isolamento rigoroso, testagem eficaz e alto nível de engajamento da população: do Japão à Nova Zelândia, a busca ativa por potenciais infectados foi decisiva para quebrar as cadeias de transmissão do coronavírus. Na avaliação de especialistas, estratégia semelhante é possível no Brasil — inclusive no Rio Grande do Sul —, mas impõe desafios e adaptações.
— Com a interiorização do vírus, a testagem e o rastreamento deveriam ser a principal aposta do governo brasileiro para evitar a explosão de casos. É uma maneira efetiva de conter o avanço da doença. O problema é que não é algo simples de se fazer e não nos preparamos para isso — afirma a infectologista Raquel Stucchi, professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).
Nos locais onde deu certo, a estratégia não veio sozinha: envolveu restrições rígidas de circulação, investimento em exames, exércitos de rastreadores e, em geral, foi potencializada por ferramentas tecnológicas — em especial, o telefone celular.
Aplicativos desenvolvidos em nações como Alemanha, China e Japão passaram a usar dados de geolocalização para esquadrinhar os passos dos usuários e, assim, detectar situações de risco, emitir alertas e reforçar o isolamento.
Entre os franceses, o StopCovid foi instalado por 1 milhão de pessoas. O programa funciona assim: quando alguém é diagnosticado com covid-19, o médico fornece um código para que o paciente insira no smartphone. O sistema então cruza dados de GPS e bluetooth, rastreia aqueles que interagiram com ele nos últimos 14 dias e envia mensagens aos possíveis contaminados, com orientações sobre o que fazer. A identidade do transmissor é preservada.
No Brasil, já existem iniciativas parecidas em andamento, de forma localizada. Entre elas, está o aplicativo Dados do Bem, que surgiu no Rio de Janeiro, por iniciativa do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, em parceria com a Zoox Smart Data. A partir de agosto, a alternativa será adotada no Rio Grande do Sul. A promessa do governo do Estado é realizar 4 mil testes diários, começando por grupos específicos.
A aposta na tecnologia, segundo o sanitarista Christovam Barcellos, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), é acertada, mas, sozinha, não faz milagres.
— É preciso ter boa adesão da população para produzir informes que ajudem a identificar eventos, locais e condições de maior risco epidemiológico — explica Barcellos (leia mais na entrevista abaixo).
Outro ponto importante: há de se contar com equipes em número suficiente para garantir atendimento aos casos positivos, oferecer orientações e esclarecer dúvidas e manter o controle sobre os confinados — principalmente os assintomáticos, para que não saiam de casa. A empreitada pode exigir grande esforço, mas, ao contrário do que se imagina, o rastreamento não precisa, necessariamente, ocorrer em larga escala.
O que é jornalismo de soluções, presente nesta reportagem?
É uma prática jornalística que abre espaço para o debate de saídas para problemas relevantes, com diferentes visões e aprofundamento dos temas. A ideia é, mais do que apresentar o assunto, focar na resolução das questões, visando ao desenvolvimento da sociedade.
Calibrar o foco pode, inclusive, tornar a medida mais eficaz, como propõe o governo do Estado ao optar por priorizar populações mais vulneráveis. O mesmo vale para ambientes onde há o registro de surtos localizados.
— Já sabemos que boa parte da interiorização da epidemia no Rio Grande do Sul tem relação com frigoríficos. Essa é uma situação clara do papel do rastreamento, da importância de se ter um processo organizado para identificar e isolar um caso positivo e, a partir daí, ir atrás dos contactantes. Abordagens específicas tendem a ser eficazes, se forem bem feitas — pondera Ricardo Kuchenbecker, gerente de risco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Um dos fatores considerados essenciais para um bom resultado é agilidade, reforça o epidemiologista Fredi Alexander Diaz-Quijano, professor associado da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP). Muitas vezes, a demora no diagnóstico, entre outras intercorrências, pode colocar tudo a perder.
— É importante que as pessoas estejam cientes de que o rastreamento é apenas um complemento. A responsabilidade principal sempre será da população. Até haver uma vacina, todos devem seguir usando máscara e evitando aglomerações — sintetiza Diaz-Quijano.
“A questão é vencer a resistência das pessoas”, diz sanitarista da Fiocruz

Vice-diretor do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Christovam Barcellos, 60 anos, atua há 35 anos como sanitarista e garante: o Brasil tem tradição em vigilância em saúde e possui todas as condições para implementar um programa de rastreamento. Confira os principais trechos da entrevista.
Qual é a importância do rastreamento de contatos no combate à covid-19?
É fundamental. Nos próximos meses, o vírus vai continuar circulando e produzindo surtos. Precisamos fortalecer a vigilância em saúde, e o rastreamento tem duas funções principais: primeiro, ajudar a pessoa a se proteger e a procurar ajuda. Isso acontece, por exemplo, a partir de aplicativos de celular capazes de alertar quando alguém esteve próximo a um infectado. A pessoa é orientada sobre o que fazer, evitando a contaminação na família e entre amigos. Em segundo lugar, é uma forma de produzir estatísticas populacionais. A literatura médica já fala em casos que chegam a transmitir o vírus para outras 10 pessoas em contato próximo. São indivíduos e eventos “super transmissores”. Saber onde eles estão é importantíssimo.
O rastreamento pode ser feito sem o uso de tecnologia?
Pode, mas é mais difícil. O Brasil faz isso há algum tempo para doenças como meningite, hepatite, tuberculose, malária. É uma tradição da saúde pública brasileira. O problema é que é impossível dar conta de tudo com o grande volume de casos e com os quadros atuais do SUS, que passou por um desmonte, principalmente na Atenção Básica. Isso está se perdendo. Em municípios pequenos, a vigilância em saúde é feita às vezes por uma ou duas pessoas. Em cidades grandes, por 20, 30. É impossível seguir dois, três mil casos, mas não é por isso que devemos desistir. A tecnologia pode ser aliada. Além disso, dá para focar em determinados ambientes, como frigoríficos, asilos, aldeias indígenas.
A Fiocruz está desenvolvendo algum aplicativo do tipo?
Sim, em parceria com a PUC do Rio e com a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Está em andamento. O desafio é vencer a resistência das pessoas. Muitas acham que os dados vão vazar, que terão a intimidade exposta. Há uma ideologização de tudo e um individualismo crescente. Por outro lado, o brasileiro adora celular e app, então pode funcionar. Mas, para isso, temos que contar com boa adesão para que tenhamos dados suficientes para produzir informes que ajudem a identificar eventos, locais e condições de maior risco.
Que país pode ser citado como um bom exemplo em rastreamento?
Os países do Oriente, como Coreia do Sul, China, Singapura, mas sabemos que é difícil aplicar aqui exatamente o que eles fizeram, porque há uma diferença cultural. Lá, independentemente do regime político, existe uma forte noção de comunidade. Basta observar que, nesses países, já era comum as pessoas com gripe usarem máscaras, mesmo desobrigadas. Além disso, o Brasil é enorme e muito desigual e não basta fazer o rastreamento. É preciso que, depois de detectado um caso, alguém entre em contato, encaminhe o atendimento a serviços de saúde, oriente. O usuário deve ter confiança no sistema, deve se sentir protegido.
Seria viável em um Estado como o RS?
Claro que sim. Aí entra a questão da credibilidade. Estamos vivendo um momento muito delicado. Mas o Rio Grande do Sul tem sido um bom exemplo de gestão da crise. Além disso, o Estado tem forte noção de cidadania e tem profissionais excelentes na Secretaria Estadual da Saúde e nos municípios.