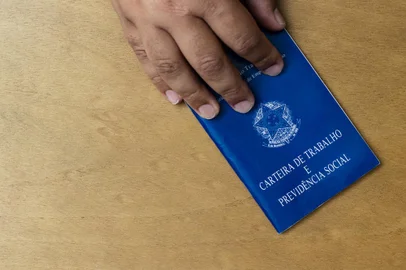Professora há 13 anos e diretora-geral do Campus Osório do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), Flávia Twardowski, 45 anos, é apaixonada pela área da pesquisa. Os estudos que orienta, porém, são feitos por estudantes com um perfil um pouco diferente do habitual: em vez de graduandos ou pós-graduandos, os pesquisadores são adolescentes de Ensino Médio – com frequência, meninas. A partir desses trabalhos, a docente e suas alunas já acumularam uma sucessão de reconhecimentos nacionais e internacional. Em abril, Flávia foi uma das sete agraciadas do Brasil com o prêmio Mulheres Brasileiras que Fazem a Diferença, da Embaixada dos Estados Unidos. Nesta entrevista, a docente conta por que considera a vivência em pesquisa essencial para a trajetória de um estudante e o que leva um jovem a dedicar horas do seu dia a projetos científicos.
Como a pesquisa surgiu na sua vida?
A iniciação científica surgiu quando eu era criança e estava no Ensino Fundamental. Eu estudava na Escola Estadual Paraná, em Porto Alegre, e, na quinta série, uma professora fazia atividade extracurricular com os estudantes. Ela criou um clube de ciências, no qual a gente desenvolvia um projeto científico com objetivo, hipótese e resultado, e analisava dados. Na quarta série, eu comecei analisando como o feijão crescia em diferentes substratos, como algodão, terra vermelha, areia de pracinha. Depois, quando fui para a quinta série, eu fiz um trabalho com duas colegas sobre quais eram as memórias mais marcantes da nossa vida. A nossa hipótese era que eram as negativas. A gente foi pesquisar, fez uma pesquisa de campo, elaborou um questionário e descobriu que a gente estava completamente errada: as pessoas são mais marcadas por coisas positivas, como o nascimento de um filho, a primeira bicicleta. Quando saí do colégio, fiz Música, porque sempre toquei, desde criança. Fiz três anos de faculdade e, quando estava no meu terceiro ano, decidi que não era aquilo que eu queria. Eu brinco, mas é verdade, que “chutei” Engenharia de Alimentos. Já no meu primeiro semestre, fiz duas coisas que marcaram muito a minha vida: fui arquivista da Orquestra Juvenil da UFRGS, em um projeto de extensão, e entrei como voluntária numa pesquisa com efluentes industriais. Quando entrei naquela pesquisa, vi que era aquilo que faltava na minha vida. Aí, me apaixonei e nunca mais saí do laboratório. Estive na indústria, mas sempre tentando trabalhar com o desenvolvimento de produtos.
E o trabalho com estudantes meninas, como surgiu?
Vim para Osório na metade de 2010. Em 2011, já comecei a trabalhar na pesquisa e submeti um projeto de iniciação científica. Eu ainda não dava aula para o Ensino Médio, mas chamei duas meninas da Informática para trabalhar no projeto que eu tinha criado, de um bolo diet. Aí, o nosso pró-reitor de Pesquisa disse: “Flávia, você tem um projeto, vai apresentar numa feira de iniciação científica tecnológica”. Eu não queria ir, porque tinha dois bebês em casa e a gente estava recém fazendo a pesquisa bibliográfica, mas acabei indo. Apresentei, foi bem bacana. Uma semana depois, uma colega me deu os parabéns, e eu não sabia o porquê: as meninas tinham ficado em segundo lugar. Deu mais uma semana, a secretária do secretário de Educação me ligou, questionando por que eu ainda não tinha inscrito as gurias na Mostratec (Feira Internacional de Tecnologia, realizada em Novo Hamburgo). Eu perguntei: “O que é a Mostratec?”. Morri de vergonha. Em resumo, fui e me apaixonei, vi o brilho no olho daqueles estudantes. É uma experiência que acho que todo mundo tem que viver. Disse que nunca mais ia parar de fazer pesquisa. Eu tinha dois bebês em casa, trabalhava 40 horas no IFRS, me ausentava um dia pra fazer o doutorado em Porto Alegre e tinha de pagar todas essas horas. Mas não desisti: continuei fazendo e entendi que o que faltava era o aluno desenvolver a pesquisa com algum problema que ele quisesse resolver, e não aquele que eu escrevesse. Acho que esse foi o pulo do gato. E aí, desde então, desenvolvo projetos de pesquisa na Educação Básica, com os jovens. Não sei por que, mas as meninas me procuram em maior número. E teve uma iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em 2018 destinada a meninas dos anos finais do Ensino Fundamental, na qual a gente fez um trabalho com três escolas de Osório, onde de cada escola vinha uma professora e três meninas. Isso também deu mais força às meninas na ciência.
Dando esse espaço para as estudantes criarem e dizerem o que querem, o que tem surgido? Quais os maiores interesses dessa geração de meninas?
Muitas ficam no meio ambiente, mas surge muita coisa diferente. Em inclusão, já fizeram um protótipo que ensina geometria para estudantes cegos, com um microprocessador. Isso surgiu porque elas tinham um colega cego. A Isabela (Dadda dos Reis) desenvolveu um mecanismo para a detecção de droga do Boa Noite Cinderela. A Victorya (Leal Altmayer Silva) desenvolveu um modelo matemático para entender por que o jovem não se preocupa com a economia circular. Parece óbvio, mas, se os meus pais não separam o lixo, a probabilidade de eu separar vai ser muito menor. A Amanda (Ribeiro Machado) fermentou o resíduo da uva e os micro-organismos desenvolveram um plástico biodegradável que pode tanto transportar prótons para gerar energia quanto ser um material absortivo para o tratamento de água efluente. É uma descoberta dela. Teve os absorventes sustentáveis, em que elas estudaram que material biodegradável poderia substituir o algodão, como o plástico poderia ser substituído, de forma a absorver, na primeira camada, e, na última, reter. A Júlia (Oscar Destro) e a Vanessa (Teixeira da Rosa) analisaram as areias do Litoral Norte para ver se eram balneáveis, já que a análise da Fepam é sempre da água. A Maria Eduarda (Santos de Almeida) é de Maquiné e queria entender por que em volta do Pinus elliottii, muito plantado lá, não nascia nada, e encontrou uma planta nativa que impedia a germinação do pinos e não competia com alface, abobrinha, cenoura. Vão surgindo as ideias e eles vão desenvolvendo.
Geralmente, (as pesquisas realizadas no Ensino Médio) duram um ano. É um tempo curto, mas pensa aquele jovem que passa cinco, seis, sete horas jogando videogame. Eles fazem isso com a pesquisa. É onde dedicam o tempo deles.
Essas pesquisas duram quanto tempo?
Geralmente, elas têm um desenho em que tudo é feito em um ano, mas pode se prolongar. Por exemplo, a pesquisa da Amanda, que está desde o Ensino Fundamental comigo e desenvolveu a biomembrana, durou bem mais tempo, porque pegou a pandemia e exigiu várias etapas. Mas, geralmente, duram um ano. É um tempo curto, mas pensa aquele jovem que passa cinco, seis, sete horas jogando videogame. Eles fazem isso com a pesquisa. É onde dedicam o tempo deles.
O que leva um adolescente a não ficar sete horas no videogame e ficar sete horas fazendo pesquisa?
É uma inquietação, sem dúvida. Por que alguns têm? Bom, esses têm porque veem os outros tendo e carregando algum resultado. Os outros acabam sendo espelhos para eles, de que podem chegar lá. É ruim dizer isso, porque a pesquisa não tem reconhecimento. É legal quando a gente é reconhecido, receber a GZH aqui é top, é um momento, mas não é só sobre isso. Esse não é o dia a dia, é o resultado de uma caminhada muito grande. Eu perco os meus finais de semana, venho ao laboratório tirar experimentos no Ano-Novo, no Natal, mas porque eu gosto, não estou sofrendo de forma alguma. Para eles é da mesma forma. Eu tento passar que o primeiro motivo deles, para estarem aqui, é porque querem muito fazer uma pesquisa. Eles querem dar uma resposta para algo que eles não têm.
Mas nem sempre se sabe o que se quer pesquisar.
Eles não sabem. O primeiro passo é esse. Eles chegam: “Ai, sôra, eu quero fazer pesquisa, sobre o que eu faço?”. Aí eu começo: “Mas o que você quer fazer? Do que você gosta? Do que não gosta?”. Tem os livros da Febrace (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia), com todas as áreas do conhecimento. Dou para eles o livrinho e digo “lê um pouquinho dos resumos, vê o que te chama atenção e começa a levar para a tua realidade. O que tem na tua realidade que tu sempre quis saber, ou um problema que tu sempre quis resolver, mas nunca parou para pensar nisso?”. E aí, se eles querem, eles voltam. A própria Laura (Nedel Drebes), que é da dupla que fez o absorvente, queria muito entrar no IFRS e ser minha orientanda. Ela fez o processo seletivo duas vezes, porque, na primeira, não passou. Aí, fez o primeiro ano em outra escola e fez o processo seletivo de novo. No IFRS são quatro anos, então, o Ensino Médio dela foi de cinco anos. Ela desenvolveu um projeto sozinha, antes de ser a dupla da Camily (Pereira dos Santos). Ela queria muito, porque ela viu a Ju (Juliana Estradioto), viu a Isabela e também queria fazer pesquisa. Não sabia o quê, mas é uma inquietação que leva o jovem a se desacomodar e focar em alguma coisa. Eles não têm como saber que vai dar certo, e trabalhar com a frustração é difícil, ainda mais para eles, tão jovens. Mas eles aprendem e a maioria consegue lidar.
Os alunos terem a opção de escolher se gostam mais de esporte, de música, vai trazer um pertencimento muito maior, mas, em alguma fase da vida escolar, eu acho primordial passar pela pesquisa científica.
O modelo de trabalho do IFRS funciona com todos os perfis de alunos?
Eu vejo por duas perspectivas. Acho que é legal o aluno ter a oportunidade de desenvolver um projeto científico em algum momento da escola, para saber como funciona, mas aquela obrigação de sempre ter que fazer aquilo talvez não dê tanto prazer quanto ele chegar em um determinado momento e poder escolher. Aqui, a gente tem ensino, pesquisa e extensão, então a gente tem, por exemplo, um clube de astronomia, no qual eles trabalham conceitos, olham o céu. Tem o STEM Geek, que eu faço desde 2017 com vários estudantes que vieram de outras escolas. Eles têm primeiro contato com ciência, engenharia, matemática e tecnologia, então vêm para o IFRS no contraturno e ficam duas horas aqui fazendo projeto científico. Eles entram no laboratório, fazem algum experimento científico e constroem a teoria daquele experimento. Eu não acho que a pesquisa é o caminho único. Aqui, a gente tem a parte da música, com um grupo instrumental, tem aluno dando aula de flauta, a gente tem teclado. Eles terem a opção de escolher se gostam mais de esporte, de música, vai trazer um pertencimento muito maior, mas, em alguma fase da vida escolar, eu acho primordial passar pela pesquisa científica, porque ajuda o estudante para a vida inteira a se organizar, conseguir, quando tiver um emprego, apresentar um relatório, dizer o seu objetivo, por que fez aquilo, a quais resultados chegou, comparar com o que está na literatura ou com outros resultados. Isso a pesquisa científica dá aos estudantes.
Geralmente os alunos que participam de pesquisas no IFRS vão para a área da pesquisa depois, na faculdade?
Vão sim, independentemente do curso que escolhem. O André (de Lima Berzagui) foi meu terceiro ou quarto bolsista. Era um aluno de assistência estudantil, então me ajudava em atividades bem burocráticas. Aí, chamei para fazer pesquisa. Quando fez o vestibular, escolheu, para mostrar para o pai, Engenharia Hidráulica. Foi uma desgraça, detestou. Formou-se em Cinema na UFPel e aí, durante a faculdade, voltou para o IFRS e disse: “Sôra, posso ser teu bolsista de novo?”. Submeti um projeto para a Fapergs (Fundação de Amparo à Pesquisa do RS), ganhei a bolsa para o guri e ele foi meu bolsista de Cinema. Fez um trabalho de extensão sobre streaming e outras bases. Tentou desmistificar que o estudante só vê Netflix. Então, mesmo em outras áreas, eles continuam na pesquisa. Depois, tive algumas estudantes que, depois, foram para a Medicina. Fizeram projetos desde a extensão, desenvolvendo pães com estudantes analfabetos, projetos diversos. Várias meninas foram para a Medicina e continuam fazendo pesquisa.
Ainda há disparidade. As meninas optam por cursos de licenciatura ou pelo tecnólogo em processos gerenciais. Acho que é muito pelos exemplos, por algo que se construiu na sociedade e que a gente precisa desconstruir.
Aprender algo e não necessariamente trabalhar é algo que você inclusive experimentou, pois estudou Música. Qual o papel dos institutos federais para criar a cultura mais dinâmica de conhecimento?
Faz muito parte da gente. Talvez a gente não tenha tanto essa noção, mas a gente sabe que a missão é trabalhar ensino, pesquisa e extensão, trabalhar um estudante diverso, um ser plural, um estudante que sai para a sua comunidade e leva o que ele teve aqui para fora dos nossos muros. Mais de 50% dos nossos estudantes são dos 23 municípios que nos rodeiam. É bem legal, porque eles trazem toda uma diversidade, e aí a gente acaba interligando tudo isso. A extensão tem um papel principal dentro da nossa instituição, e a pesquisa é a mola propulsora de tudo isso.
Como as comunidades são transformadas, diante a existência desses alunos?
São os alunos do IFRS. São alunos muito diferentes. O IFRS já é visto – e eu estou falando de Osório, mas acredito que nos outros aconteça a mesma coisa – como o lugar onde pode tudo. E eu digo: sim, no IFRS pode tudo. Se o estudante quer usar saia, vai usar saia. Quer usar bustiê, vai usar bustiê. Não quer usar sutiã, não vai usar sutiã. Ninguém vai chegar e dizer: “Hoje você não pode vir de rabo de cavalo”. Não! Você pode vir do que tu quiser. E ninguém fala nada, nem eles. E aí, eles são vistos como se fossem muito diferentes. E, muitas vezes, eles querem vir para cá porque querem ser aceitos como são. Eles têm muita liberdade aqui, e isso é muito legal. Dá um pertencimento muito grande para eles.
Ainda é um desafio trazer as meninas para a pesquisa?
Sim. A gente fez uma estatística em 2018 e viu que 17% das ingressantes nos cursos, tanto no Superior de Análise de Desenvolvimento de Sistemas quanto no técnico do Ensino Médio em Informática, são meninas. Então, ainda há uma disparidade. As meninas ainda acabam optando por cursos de Licenciatura, em que a gente tem Matemática e Letras, ou pelo tecnólogo em Processos Gerenciais, do que por um curso superior em Informática, ou mesmo pelo Ensino Médio integrado. Então, isso ainda existe, e eu acho que é muito pelos exemplos, por algo que se constituiu na sociedade e que a gente precisa desconstruir. Mesmo que eu ache que todo mundo tem de ter livre escolha, seja a menina ou o menino, a menina precisa ter um incentivo maior. É triste, mas, mais do que o menino, a menina não acredita que seja capaz. Eu não sei onde raios isso acontece, mas é ainda na vida escolar, quando pequena. Eu não passei por isso, porque tinha dois irmãos e uma irmã e todo mundo brincava com tudo, mas, às vezes, essa separação já começa dentro de casa.
Você já recebeu muito reconhecimento, dentro e fora do Brasil. Mesmo assim, seu trabalho foi sempre em Osório, no Interior. Sua vontade é ter experiências fora ou sente que sua missão é aqui?
Já recebi alguns convites para ir para fora, mas não fui. Acho, sim, que meu lugar é aqui, que minha missão é aqui, mas também acho que posso aprender muito e que, talvez, eu possa aproveitar alguma dessas oportunidades em algum momento, ainda que não de forma definitiva. Em 2020, fiz um intercâmbio da Embaixada dos Estados Unidos que foi muito bacana, porque me abriu os olhos sobre o que as escolas americanas fazem e o que pode ser implementado nas nossas. Mas acho que meu lugar é aqui. Ainda tenho vontade de fazer um trabalho de colaboração em algum instituto federal bem distante, em algum lugar bem diferente. É possível fazer isso na nossa rede, e disso eu tenho até mais vontade do que ir pra fora. Viajar, sim, para aprender algumas coisas diferentes, mas dentro do meu próprio Brasil, que também é muito diverso. Estive em Belém (PA) e vi como os institutos federais de lá passam um trabalho que não passo aqui. Eles têm um pouco mais de estrutura, mas é uma realidade mais sensível do que a nossa, e isso mexeu muito comigo, então talvez eu possa levar alguma coisa daqui para lá, e aí, depois, trazer de volta. Mas o reconhecimento é bom, é legal, principalmente porque acaba divulgando. No caso das mulheres, divulga as mulheres na ciência. Jamais achei que fosse ser uma pessoa reconhecida, e realmente isso veio e sou muito grata a cada um dos meus orientandos que batalhou, lutou, passou noites em claro. Eu passo junto? Sim, eu passo junto, mas eles também têm todo esse trabalho desenvolvido, e isso é muito, muito lindo.
Qual é o sentimento ao ver os teus alunos brilhando por aí?
É muito gratificante, e tem uns que tocam a gente de uma forma... A Camily, quando disse que passou em Stanford, por exemplo. Ela aprendeu inglês sozinha na pandemia, baixou todos os aplicativos que você possa imaginar no celular. Cada um tem uma história por trás daquilo, sabe? Ela tinha uma realidade mais difícil, e aí, quando você vê que eles chegam lá... Quando ela me ligou para dizer que passou em Stanford, eu chorava. É um filho que você tá vendo nascer de novo. Eu tenho dois filhos, chorei no nascimento de cada um e ainda choro quando eles conquistam o que tanto querem, porque a gente sabe o esforço que cada um carrega. O esforço de vida, o esforço, às vezes, de não ter apoio em casa. Eu contei do André, que o pai queria que fizesse Engenharia Hidráulica e fez Cinema. Há o esforço individual e a frustração que ele está causando na família por seguir o que sonha. Mas eles vão, porque vivenciaram a pesquisa, porque sabem o que querem e porque estudaram no IFRS. Isso tudo conta. Acho que o IFRS contribui para que se tornem pessoas diferentes e que vão lutar pelo que acreditam.