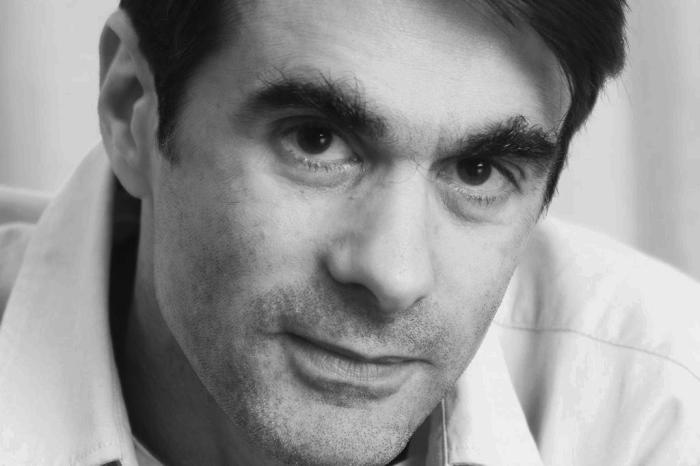
Em 2006, João Moreira Salles deu uma guinada em sua carreira: documentarista premiado, o diretor de filmes como Notícias de uma guerra particular (1999) e Nelson Freire (2003) lançou-se no mundo editorial com a Piauí, revista mensal cujos textos longos e de fôlego contemplavam o jornalismo investigativo, o perfil detalhado de personalidades e o artigo ensaístico. Dez anos depois, a publicação firmou-se como um paradigma de excelência na imprensa nacional, na contramão da tendência mundial que aponta inexoravelmente para o fim das publicações impressas e para a hegemonia digital. Um tema, aliás, que a revista vem abordando para além de suas páginas desde 2014 com o Festival Piauí GloboNews de Jornalismo, reunindo em São Paulo nomes de destaque na imprensa brasileira e estrangeira.
O cinema, contudo, não foi abandonado. Quase uma década depois de seu último filme, Santiago (2006), sobre o mordomo de sua família, o carioca de 54 anos prepara outro:
– Há um ano e meio, me afastei um pouco da Piauí para terminar um filme, pequeno e estranho. Ele é todo feito com material de arquivo, ainda não tem título certo, e narro em primeira pessoa. Na superfície, ele é sobre 1968, na França, na Tchecoslováquia e no Brasil. É um filme de montagem, uma espécie de ensaio cinematográfico sobre o entusiasmo revolucionário e o que acontece quando isso passa, como se sobrevive ao fim dessas coisas todas.
No dia 17, Moreira Salles estará em Porto Alegre para falar sobre sua experiência como editor da Piauí, na abertura do Em Pauta ZH deste ano. O encontro será às 19h30min, na sede do Grupo RBS (Av. Erico Verissimo, 400) – para participar, envie e-mail com nome completo para eventos@zerohora.com.br (as vagas são limitadas).
LEIA MAIS ENTREVISTAS:
Eliane Brum: "Só tem credibilidade quem investiga, checa e se importa com a precisão"
A sobrevivência do jornalismo está na relevância, diz Sérgio Dávila
Vincent Peyrègne: "Independência não é neutralidade"
Walter Robinson: "A democracia não funciona sem jornalismo investigativo"
Qual é a importância da Piauí no panorama do jornalismo brasileiro?
Prefiro que outras pessoas avaliem isso, acho um pouco pretensioso dizer que ela representa alguma coisa para o jornalismo. Do ponto de vista pessoal, foram 10 anos muito bons para mim, porque, em primeiro lugar, eu queria ler uma revista dessas em português e só podia lê-las em inglês. Acho que foi possível preencher essa lacuna. Em segundo lugar, o convívio com as pessoas que fazem a Piauí é muito bom, a vida de redação, você sabe disso, é muito bacana. Como eu vinha do cinema, que tem grandes intervalos de inatividade, o que é muito angustiante, porque você fica muito tempo sozinho esperando que um projeto fique de pé, o trabalho coletivo tornou-se uma das razões pelas quais eu quis criar a Piauí. Já do ponto de vista da revista, ela tem muita coisa ainda a melhorar, evidentemente, mas acho que ela está indo, né?
Como a revista está atualmente em termos de tiragem e penetração?
Ela é uma revista que tem um teto, não é para 1 milhão de leitores. Mas ela também não é uma revista para 5 mil leitores. Quando criei a Piauí, fui conversar com pessoas do meio, já que eu vinha do cinema, para ver um pouco qual era a viabilidade de uma revista dessas. Me lembro de ter falado com duas pessoas muito influentes no meio, que tocam importantes publicações. Uma me disse que a revista, se tudo desse certo, teria 15 mil leitores, a outra me falou em 5 mil leitores, que seria o tamanho dela em um mercado como o do Brasil. A Piauí tem muito mais do que isso, deve ter cerca de 100 mil leitores. Ela tem perto de 25 mil assinantes, que são muito fiéis. Nossa taxa de retenção (indicador que mede o percentual da base de clientes que se mantêm fiéis à revista) é uma das mais altas da indústria, se não for a mais alta. As pessoas que assinam a Piauí continuam com a assinatura. Já em banca depende do que a revista traz em determinado número, mas vende algo entre 12 mil e 17 mil exemplares. Se você multiplicar isso por 1,8 ou 1,9 leitor por exemplar, você chega a quase 100 mil leitores. Isso é bastante bom em termos de Brasil, que não é um país essencialmente letrado.
E como vai a saúde financeira da publicação?
A revista tem dificuldades como todas as revistas hoje, e não é só uma questão estrutural brasileira, é uma crise da indústria da imprensa no mundo. Sofremos com isso, um pouco por sermos uma publicação a contrapelo do caminho para onde navegam as coisas. Nossos textos são mais longos, somos uma revista essencialmente de concentração. As coisas não se mexem nas nossas páginas, não pulam, não têm vídeo, não cantam. Isso é uma aposta no sentido inverso do trânsito. Enfim, a gente tem o problema estrutural da atividade, do Brasil em crise, de uma revista que faz tudo um pouco diferente do que os manuais dizem que deve ser feito. Isso dito, a nossa receita publicitária tem se mantido estável ao longo dos últimos dois ou três anos. No quadro atual, não é desesperador. Evidentemente, existe um gap(lacuna) com relação ao custo de fazer a Piauí, que é uma revista cara de ser feita, as matérias levam um tempo para serem realizadas, é mais aparatoso do que a média do que se faz. Existe uma decalagem entre as nossas receitas e as nossas despesas.

Você criaria hoje a Piauí desse mesmo jeito?
Ah, sem dúvida! Porque não adianta eu fazer uma revista que não gostaria de ler, entende? Essas coisas só funcionam porque estão ligadas um pouco ao seu entusiasmo. A revista não foi criada para ocupar um nicho específico, onde eu identifiquei ali uma oportunidade comercial. Eu leio revistas em papel, não tenho o hábito de ler em dispositivos eletrônicos, a não ser jornais, de leitura mais rápida. Revista e livro, leio em papel. Teria feito a Piauí hoje também assim, portanto. O fato de a Piauí ser em papel dá as características que ela tem. Se ela tivesse sido pensada desde o início como revista eletrônica, provavelmente seria diferente. Voltando à primeira pergunta, acho que a Piauí tem um papel a cumprir na formação do leitor de jornalismo no Brasil e também na de quem quer fazer jornalismo no país. Se ela está cumprindo bem essa função, então está desempenhando seu papel. E portanto ela tem que ser exatamente o que é. O número de alunos de jornalismo no Brasil que têm a Piauí como modelo do que gostariam de fazer é muito grande. Tem muita monografia e tese sobre a revista. Acho que isso tem uma certa relevância, sabe? Estou feliz com a Piauí do jeito que ela é.
Há espaço para outra revista como a Piauí?
Olha, na realidade, não. Lamento responder desse modo, mas, quando eu olho para o Brasil e o mundo, essas revistas não têm sido criadas. Na verdade, elas têm desaparecido. Há pouco tempo, nos Estados Unidos, a New Republic desapareceu. Não era exatamente igual à Piauí, mas à moda dela. Outras como ela enfrentam problemas. No modelo comercial, certamente não há espaço. Nos modelos que começam a aparecer nos EUA, de nonprofit (sem fins lucrativos), talvez. Mas, daí, elas são fundamentalmente eletrônicas, o que não tem tanta importância assim. A New Yorker tem uma vida eletrônica muito importante hoje em dia, por exemplo. Com o DNA já consolidado, a New Yorker pode mudar para o meio eletrônico sem alterar suas características. Acho que isso vale também para a Piauí. Foi importante para a Piauí nascer como papel, mas isso não significa que ela precise continuar para sempre como papel, porque já tem uma cultura instalada de fazer as reportagens como a gente faz, com tempo para os repórteres apurarem as informações e escreverem. Se a revista tivesse nascido eletrônica, talvez o tempo rápido desse mundo fosse mais forte do que o desejo de fazer uma publicação com mais tempo. Isso teria mudado o perfil da Piauí na origem. Neste momento, com 10 anos de vida, acho que temos uma cultura que é difícil de desmanchar.

Qual seria a diferença editorial da Piauí com relação a essas publicações sem fins lucrativos que você citou?
Elas são publicações que fazem um tipo de jornalismo geralmente investigativo, que tem sido abandonado pelos veículos mais tradicionais, e têm um certo sabor militante, de fazer engenharia social, de mudar o mundo. Isso certamente tem seu valor e importância, mas não é bem o que a Piauí faz. A gente está muito mais próximo de uma revista de interesse geral, que dá dois passos atrás em relação a todos os assuntos e não assume posições muito claras quanto a nenhum deles. Não temos a missão de ir para o mundo para mudá-lo. A gente conta o mundo, as pessoas que façam com ele o que quiserem depois de lerem as nossas matérias. Nós nos mantemos céticos em relação a tudo. A Piauí ocupou o espaço que havia no Brasil para uma revista como ela. Infelizmente, porque seria ótimo termos uma concorrência, até para nos deixar mais alertas.
Como são planejadas as matérias na revista?
O que planejamos mesmo são as grandes reportagens, que vão virar eventualmente capa da revista. O perfil da Janaína Paschoal (advogada que esteve à frente do processo que resultou no impeachment da então ex-presidente Dilma Rousseff) feito pela Julia Duailibi, por exemplo: a repórter fez essa proposta dois ou três meses antes de começar a fazer a matéria. Outro caso é o da Consuelo Dieguez escrevendo sobre Mariana. A gente começou a conversar na semana seguinte ao desastre ambiental. Sabemos que não temos como competir com os outros veículos em termos de imediatismo. A gente tem que chegar no assunto antes ou depois de a história acontecer. Achamos que em Mariana tínhamos que esperar a poeira baixar e chegar lá três ou quatro meses depois do ocorrido, quando o foco da imprensa já não está mais ali e você tem mais tempo de conversar com as pessoas e se debruçar sobre tudo o que aconteceu. A Consuelo ficou lá cerca de um mês e meio e levou de dois a três meses para escrever a matéria. Nosso grande luxo é o tempo de decidirmos quando fazer a reportagem. A gente não é pautado pelos acontecimentos do momento.
LEIA MAIS:
Aumenta o número de jornalistas presos no mundo, aponta ONG
Ricardo Gandour: "A antagonização entre velha mídia e nova mídia esvazia a análise e o debate"
"O jornal impresso perdeu o reinado, mas não a majestade", diz Ascânio Seleme
Vocês costumam ter acesso a personalidades públicas que raramente dão entrevistas a outros veículos. Por que você acha que isso ocorre?
Isso está ligado evidentemente à capacidade dos repórteres de convencer as fontes a falarem com eles, mas tem a ver também com o nosso tempo. O Delcídio Amaral (ex-senador), por exemplo: você não consegue falar com ele no mês em que ele está nas manchetes dos jornais, é impossível. Mas, depois, essas pessoas se sentem até um pouco abandonadas, elas sentem falta daquilo que já tiveram. E esse é um bom momento de se aproximar. As pessoas também não controlam a história que a imprensa conta sobre elas, porque é tudo muito no calor dos acontecimentos, e elas julgam, equivocadamente, que podem redefinir os termos da conversa com o repórter quando têm mais tempo. O fato de que você vai falar com um repórter não por apenas uma hora, mas por quatro ou cinco dias é um fator de convencimento.
Com quem vocês nunca conseguiram falar?
Há alguns perfis que a gente não conseguiu fazer. O do Eduardo Cunha (ex-presidente da Câmara dos Deputados) não conseguimos. Tentamos muito, antes, durante e depois do processo de impeachment. Era absolutamente impossível, ele escapou por todos os lados. No caso do Eduardo Cunha, não conseguimos fazer o perfil dele nem ouvindo outras pessoas porque ninguém queria falar dele. As pessoas tinham medo. Nada do que a gente conseguiu apurar dele conseguimos confirmar em on porque ninguém queria falar oficialmente.

Em seu trabalho como documentarista, você sempre se mostrou um entrevistador perspicaz. Realizar entrevistas para uma revista, porém, tem suas peculiaridades. Você se surpreendeu com alguma limitação própria ao escrever perfis para a Piauí?
Essa é uma boa pergunta, porque eu não sentia que a mudança seria tão grande assim quando as pessoas me questionavam por que eu iria mudar de profissão. Em primeiro lugar, porque eu continuava no campo da não ficção. Em segundo, porque fui muito influenciado por um tipo de cinema do qual hoje em dia sou crítico, mas que me formou, que é o cinema direto americano, no qual você mais observa do que intervém. Imaginei que escrever não seria essencialmente diferente de filmar. Mudava o instrumento de trabalho, mas a capacidade de olhar e identificar os detalhes eloquentes era basicamente a mesma. Me surpreendi que eu não estava tão errado assim. O primeiro perfil grande que fiz na Piauí foi o do Fernando Henrique Cardoso. O procedimento que usei ao escrever sobre ele foi, na essência, o mesmo que usei para filmar o Lula. Sou incapaz de extrair uma boa entrevista em um encontro de meia hora. Sou melhor no convívio de largo tempo, consigo identificar coisas sutis e que não surgem à vista de maneira óbvia. São coisas como a maneira como a pessoa trata o garçom ou se ela carrega ou não a própria mala quando vai viajar. Também acho que sou bom em ficar em silêncio e esperar que a pessoa traga os assuntos que são relevantes para ela e não necessariamente para mim, por achar que, quando a pessoa traz algo à tona, isso revela um pouco sobre o que ela quer ou não falar, sobre a imagem pública que faz de si própria. O que descobri é que algumas coisas funcionam melhor escritas do que filmadas, enquanto outras funcionam melhor quando você filma do que quando escreve. O perfil do Artur Avila (jovem matemático premiado) não há hipótese de ser um filme, pelo menos não um que eu soubesse fazer, porque tudo se passa na cabeça dele. Não tem como penetrar ali com uma câmera, mas é possível fazer isso escrevendo. Ali eu me dei conta de que filmar e escrever são procedimentos muito semelhantes, o que não significa que qualquer coisa pode ser filmada ou escrita. No documentário do Lula, se tivesse entrado apenas com um bloco e uma caneta, o que eu não teria conseguido faria uma falta tremenda: você precisa do corpo dele, do tom da voz dele, da presença dele. Há algo da ordem da imagem que você não consegue transpor para a escrita, e vice-versa.

Como você vê o panorama ideológico no Brasil e no mundo, em que as instituições políticas parecem cada vez mais desacreditadas e a direita vem conquistando uma posição gradualmente protagonista no imaginário social e no poder?
Não tenho nada de muito original a dizer sobre isso, salvo que eu, como todo mundo, estou muito apreensivo, em especial com a eleição nos EUA. Estou horrorizado. Jamais um resultado eleitoral me afetou tanto quanto esse em termos de desânimo. Aquilo é um recuo civilizacional. Certamente é o evento mais importante do século 21, acho que mais importante do que o 11 de Setembro. Não dá para medir ainda as consequências do que vai acontecer no mundo por causa dessa eleição. Tenho a impressão de que o que aconteceu no Rio de Janeiro, com pessoas invadindo a Assembleia Legislativa, e em Brasília, no Congresso Nacional, com gente gritando pela volta do regime militar, não teria ocorrido se o resultado da eleição americana tivesse sido outro. Acho que as pessoas estão autorizadas agora pela nave-mãe, sabem que uma guinada autoritária no Brasil não seria censurada por Washington. As conquistas democráticas que julgávamos definitivas no Brasil já não o são mais. O que a gente dava de barato já não é mais. A ideia de que as instituições vão nos salvar não é mais verdade. Nós, na imprensa, temos que parar para pensar: que papel a gente cumpre agora? Todos os veículos relevantes nos EUA se opuseram de maneira bastante aberta à eleição de Donald Trump. Nada disso teve a menor importância. O mundo pós-verdade é um fato. Nossa função é trazer à tona o que é falso e dizer o que é fato. Se isso não tem mais função nenhuma, a imprensa, que sempre foi a última barreira contra o avanço da mentira e do autoritarismo falacioso, torna-se uma Linha Maginot (linha de fortificações e de defesa construída pela França ao longo de suas fronteiras com a Alemanha e a Itália após a I Guerra Mundial): você acha que ela é resistente, mas o pessoal simplesmente dá a volta e entra sorrindo em Paris. O que fazer diante disso? Não tenho a resposta, mas é muito grave.









