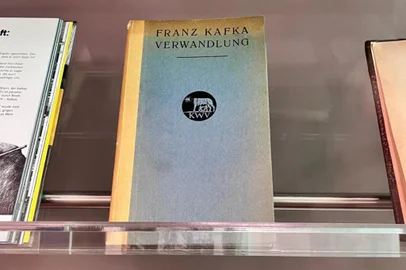Renato Aragão, o eterno Didi d’Os Trapalhões, resolveu contar sua história de vida aos 82 anos. O humorista acaba lançar Renato Aragão: do Ceará para o Coração do Brasil, biografia escrita pelo jornalista Rodrigo Fonseca. O livro repassa a vida do cearense com riqueza gráfica e capítulos curtos que lembram um almanaque.
Natural de Sobral (CE), Aragão cresceu em uma família de classe média, mas abandonou a segurança da carreira no Direito para se dedicar à TV e ao cinema. Nesta entrevista, concedida ao lado do biógrafo, ele relembra o início, fala sobre o humor hoje e recorda um show em Esteio, na Grande Porto Alegre, considerado o maior do grupo.
O senhor é uma das personalidades mais conhecidas da história da televisão brasileira, já deve ter recebido muitos convites para ser biografado. Por que topou o desafio agora?
Eu tinha há muito tempo na cabeça a ideia de fazer essa biografia, mas não tinha tempo para me dedicar a ela. Minha ideia era olhar para toda a minha vida em perspectiva, percorrer tudo o que percorri, começando do zero e só terminando no presente. É algo que dá muito trabalho para ficar bem feito. Por isso fui deixando passar. Até que apareceu um parceiro bom, que já escreve para TV, jornal e tudo o mais, além de conhecer muito bem minha trajetória. Se fosse para alguém escrever minha biografia, tinha que ser o Rodrigo Fonseca.
Sua história dá relevo a personalidades populares da cultura brasileira do passado, como Oscarito, por exemplo, que é citado no livro como o seu grande ídolo.
É curioso, mas nenhuma das minhas três maiores influências são brasileiras. Chaplin era inglês; Carmem Miranda, portuguesa; e Oscarito, espanhol. Eu era muito fã da Carmem Miranda. Fiquei encantado com o jeito dela se mover, o jeito como ela ria. E ela rompeu barreiras. Não sei como a conheceram, mas a levaram para os Estados Unidos, para fazer filmes com o Groucho Marx! Ela fazia teatro, cinema, fazia de tudo. Esses grandes artistas deveriam todos ser eternos. Deveriam estar aqui até hoje.

Por que Oscarito tem papel central na sua história?
Todos esses três que citei estão dentro de mim, fazem parte do meu trabalho. Mas o principal deles é o Oscarito. Eu ia no Cine Majestic, em Fortaleza (CE), e via quase 20 vezes o mesmo filme dele. Decorava todas aquelas músicas. Tudo tinha musical no meio. Eu ia ver como ele dançava, como agia, como falava. Era adolescente, tinha 15 ou 16 anos. Olhava para a tela e dizia: "Ainda vou ser isso, vou fazer o que esse cara faz da vida". Foi meu grande inspirador.
Quando o senhor começou, era uma época em que amácio Mazzaroppi era um sucesso e na qual Teixeirinha estabelecia um circuito de cinema popular no Sul do país. Havia diálogo ou influência entre vocês?
Com Teixeirinha não. Os filmes dele chegavam muito pouco até aqui.
Sua biografia também aponta o senhor como um admirador de Jerry Lewis. É verdade?
Sim, mas isso foi mais tarde. Eu estava no CPOR quando o Jerry Lewis viveu sua primeira fase como artista. Depois, quando ele poderia ser de fato uma influência eu já estava na TV, correndo atrás de sustentar dois filhos. É como você me perguntar sobre Cantinflas. Adoro o Cantinflas, mas ele não foi uma influência para mim como Chaplin, Carmen Miranda e Oscarito.
O senhor cita influências do cinema, mas ficou muito conhecido por sua atuação na tV.
Fiz televisão porque era o que tinha para fazer quando comecei. O que eu queria mesmo era fazer o que o Oscarito fazia. Mas, no Ceará, não tinha nada disso. De repente, abriram a TV Ceará e fizeram um concurso para realizador, ou seja, um trabalho para ser diretor e escritor, ou roteirista. Passei, e fui entrando de gaiato como ator, que era o que eu queria. E o programa foi um sucesso. Eu estudava Direito. Meus colegas deviam pensar que eu estava louco de largar tudo para fazer palhaçada na TV, mas não me importei com isso. Depois que veio o sucesso, acho que me perdoaram.

O sucesso impulsionou o senhor para a carreira no Rio de Janeiro. Houve preconceito ao chegar ao centro do país?
Houve rechaço. “Quem é esse cara que veio lá do Nordeste e já está conquistando todo mundo aqui?”, eles perguntavam. O preconceito comeu em cima de mim. Eu não vim arriscar no Rio de Janeiro, como falavam. Vim como contratado, para fazer um programa chamado A, E, I, O… Urca, da TV Tupi. Mas eu não queria ficar dizendo isso para as pessoas.
O que cobravam do senhor? Queriam um humor mais reflexivo, engajado?
Era preconceito. Puro preconceito. Só isso. O que acontece é que as pessoas que faziam televisão naquela época vinham do rádio. Então o humor era, basicamente, falado. Já eu trouxe esse humor mais visual. Isso mudou completamente o foco sobre o que o pessoal fazia. Aí, pronto. Aqueles grandes astros da TV e do rádio sumiram. Eles não tinham como se modernizar. O estilo deles era esse, parado.

O senhor ficou sozinho?
Comecei a fazer minha turma. Eu me encontrei com o Dedé, depois com Mussum e Zacarias. Então formamos Os Trapalhões.
Os Trapalhões conquistaram fama nacional, mas houve um episódio que quase os separou, em 1983. Isso abalou a relação entre vocês?
Foi uma coisa que partiu deles. O Dedé, o Mussum e o Zacarias fizeram a empresa DeMuZa. Uns caras chegaram e botaram na cabeça deles que deveriam fazer um filme também, só com os três. E eles fizeram Atrapalhando a Suate. Eu, enquanto isso, fiquei tocando as coisas sozinho na Globo. Mas o filme deles não deu em nada. Eles se arrependeram, até xingaram os caras lá da empresa e quiseram voltar. Foi o Boni (José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, ex-diretor da emissora) que se movimentou para fazer a volta deles. Voltaram. E a vida seguiu.
Chegou a haver um clima de competição ou mal-estar entre vocês?
Nunca. Nem antes, nem depois desse episódio. Todos tinham o mesmo peso no programa, com suas especificidades. Havia um clima de amizade, mas não de passar todo o tempo juntos. Cada um tinha sua própria vida. Era uma relação muito profissional, embora houvesse também muito afeto.
As mortes de Zacarias e Mussum foram momentos muito dolorosos, conforme o livro.
Muito. Demais. Até hoje eu não gosto de falar sobre elas.

A popularidade do quarteto foi imensa, mas o livro aponta que a “inteligência cultural brasileira” demorou a reconhecer a importância do trabalho. Entre os poucos intelectuais defensores, estava o jornalista Tarso de Castro.
O Artur da Távola (jornalista e escritor) foi o meu primeiro defensor. Escreveu uma crônica que até hoje eu acho que não mereço. O Tarso de Castro e o pessoal do (jornal) O Pasquim também me adoravam. Eles me defendiam sempre nesse ambiente da inteligência cultural. Tinha um cara que me massacrava. Sempre. Graças a Deus, não lembro o nome dele. Só lembro que era um crítico que usava peruca. Um dia, o Tarso de Castro entrou no bar Antonio’s (lendário ponto de encontro de jornalistas no Leblon, no Rio de Janeiro) e disse a esse crítico: “Olha, o dia em que você voltar a falar mal do Didi, eu arranco sua peruca”. O Tarso estava cheio de cana. Outro dia, o Tarso voltou ao bar e, na frente dele, esse crítico “se traiu”. Ele mesmo se acusou. Quando o viu, botou as mãos sobre a peruca e começou a gritar: “Tarso, não se atreva!”. E saiu correndo. É engraçado, mas essa turma me ajudou muito, falando sério, porque realmente havia preconceito contra mim na turma dos intelectuais, eu sabia disso, todos sabiam e isso só foi superado com muito tempo.
Diz-se que Carlos Drummond de Andrade não perdia um programa d’Os Trapalhões. É verdade?
Acho que isso é lenda. Não sei como isso surgiu. O fato é que Drummond não dava entrevista para ninguém, era muito recluso. Um dia ligaram para a casa dele mais ou menos às 19h30min. A empregada atendou e disse: “Não, seu Carlos não pode atender porque está vendo Os Trapalhões”. Essa história vazou por aí, saiu em uma reportagem na Veja, na época de Os Saltimbancos Trapalhões (1981). Ficou imortalizada.
O senhor continua ativo até hoje. Como é fazer humor atualmente? O politicamente correto incomoda?
Não mudou muito. A sociedade evolui. Você tem de respeitar o negro, o branco, o gordo, o magro, o baixinho... Fazer graça com essas pessoas, com as minorias, não tem graça. Para mim, isso nunca mudou, pois nunca tive a intenção de ofender ninguém. Quem assistia ao programa, via que não tinha aquela coisa de querer ferir. A gente brincava. Eu sou nordestino. E baixinho. Meu modo de escrever não mudou nada ao longo do tempo.
O que o senhor acha da nova geração do humor?
Não gosto de dizer que um é melhor do que o outro, ou coisa assim. Mas há um humorista que se destaca: Leandro Hassum. Esse aí é bom, tanto para o cinema quanto para a televisão. Ele anda sozinho. Com todo respeito aos outros, esse seria o destaque. É o que poderia mais se identificar comigo.
O livro aponta que o maior show d’Os Trapalhões foi no Rio Grande do Sul. Como foi essa história?
Foi em Esteio. Era uma feira de animais, uma coisa assim...
Foi no Parque que recebe a Expointer.
Pode ser. Sei que quando nós chegamos lá e não foi possível entrar pela porta de trás. O povo tinha derrubado palanque e tudo. Aí, pensei: “Puxa, como é que a gente vai fazer?”. Fizemos pelo rádio. Ficávamos dentro de um cordão de isolamento da polícia. Levantávamos as mãos para o pessoal nos ver, ou um policial nos levantava na hora de dizer uma fala. Ninguém saiu de lá sem ver o show. Fizemos o número até o fim. Eram 200 mil pessoas. Quando pegamos o jatinho, perguntei ao piloto: “Tem como você passar por cima de Esteio, para a gente dar uma olhada?”. Passamos, e não tinha mais ninguém. A gente pensava que todo aquele pessoal estava lá para ver outras atrações, mas não: era só para nós. Quando a apresentação acabou, o público se dispersou.