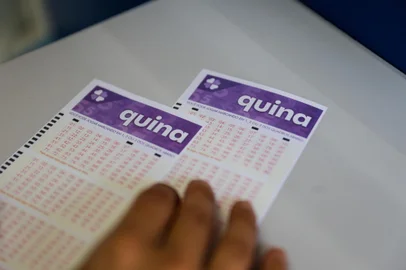Por Diana Corso
Psicanalista e escritora
“Tinha quinze anos e não era bonita. Mas por dentro da magreza, a vastidão quase majestosa em que se movia, como dentro de uma meditação. E dentro da nebulosidade algo precioso.”
A garota do conto Preciosidade, de Clarice Lispector, a cada amanhecer percorria uma quadra até a parada do ônibus que a levaria à escola. No veículo, temia que os trabalhadores, mesmo adormecidos, “lhe dissessem alguma coisa, que a olhassem muito”. Por via das dúvidas, “fazia mais sombra do que existia”.
No fim da infância de uma menina, os outros começam a ver algo que ela ainda não reconhece e detesta que mencionem. Como a flor acontece à planta sem olhos, os seios brotam, o corpo se esculpe, mas ela é cega às evidências do espelho. Leva um bocado de tempo até que as modificações corporais pubertárias se conectem com alguma forma de sensualidade e erotismo. Aliás, cada dia encontramos mais garotas que partilham seios e bonecas. A natureza deu de ficar apressada, mas a mente demora para acompanhar o corpo.
Certo amanhecer frio, nossa personagem cometeu uma minúscula imprudência: “saíra de casa antes que a estrela e dois homens tivessem tempo de sumir”. Desde muito cedo na vida, mulheres saem à selva das ruas conscientes da existência dos predadores. Qualquer descuido pode ser fatal.
A menina fazia seu percurso solitário no vazio de uma branca nebulosidade. Coração espantado, viu dois rapazes em sentido contrário. Envergonhada do próprio medo, descartou a possibilidade de recuar ou correr. Apostou na coragem ritmada e austera dos seus passos, na invisibilidade de portar-se como um autômato. “Rígida, catequista, sem alterar a lentidão com que avançava, ela avançava”. Porém, eles a viram e “quatro mãos a tocaram tão inesperadamente que ela fez a coisa mais certa que poderia ter feito no mundo dos movimentos: ficou paralisada”.
Eles correram, mas ela seguiu estátua. Retomou os movimentos minimalista, reaprendendo a andar. Passos quebrados, privada do garbo discreto da sua marcha, “mais larva se tornou”.
É raro encontrar uma mulher sem história de constrangimento, perigo ou abuso para contar. São traumas inaugurais, dos quais não provém nenhuma experiência aproveitável. Agem na contramão da potência da sexualidade feminina. Possuirmos partes do corpo desejáveis, sermos tratadas como uma coleção de pedaços à disposição de qualquer um não nos torna mulheres. O assédio nos torna objetos.
A paralisia que ocorre depois da agressão é sintoma do esvaziamento de si que um abuso produz. Imóvel, uma mulher já não habita esse corpo que até ali era seu. Após e durante uma experiência desse tipo de violência, sejam toques, olhares vorazes, palavras obscenas, sons abjetos ou a catástrofe do estupro, a alma da vítima a abandona. Rapinar alguém como objeto sexual expulsa a humanidade do interior da pele.
Isso não poderia ser mais distante da erótica feminina, ela depende, como todas, do próprio desejo. Não importa o que a imaginação antecipe, na fantasia tudo é possível, na sexualidade também. Nada a princípio seria prejudicial desde que envolva seres crescidos e conscientes e que a direção de cena seja dos atores envolvidos. Na contramão disso, ser tratado como objeto é tornar-se ninguém. Por isso, a reação ao abuso é de paralisia.
“Até aquele instante mantivera-se quieta, de pé no meio da calçada. Então, como se houvesse várias etapas da mesma imobilidade, ficou parada. Daí a pouco suspirou. E em nova etapa, manteve-se parada. Depois mexeu a cabeça, e então ficou mais profundamente parada. Depois recuou devagar até um muro, corcunda, bem devagar, até que se encostou toda no muro, onde ficou inscrita.”
Tanto drama por um simples toque? Exato. Petrificadas pela mensagem de que seu corpo não lhes pertence, meninas e mulheres perdem dele todo o domínio. É preciso voltar a respirar, reaprender os movimentos, lentamente, voltar a ser. É como se um vazio soprasse no lugar do pensamento.
“Devagar reuniu os livros espalhados pelo chão. Mais adiante estava o caderno aberto. Quando se abaixou para recolhe-lo, viu a letra redonda e graúda que até esta manhã fora sua.”
A história de uma mulher assim constrangida em público muda de página, de parágrafo, mas fica um espaço em branco no meio. Na volta desse desmaio de olhos abertos – que é a paralisia –, a menina não tornou-se mulher. Tornou-se menos pessoa.
A vergonha e a culpa que chegam depois são uma tentativa de devolução do protagonismo sequestrado. Culpar-se serve para fingir para si mesma que se participou de algo, que na verdade a atropelou. Já denunciar e compartilhar são formais mais salutares de aliviar o trauma.
Falta muito para que metade da humanidade possa circular no espaço público em segurança, qualquer rua pode-se tornar hostil. Ainda bem que mais vozes feministas nos despertam para sermos intolerantes a todo tipo de assédio. Com Clarice, elas sentem-se preciosas, mas almejam sê-lo sem precisar “fazer mais sombra do que existir”.