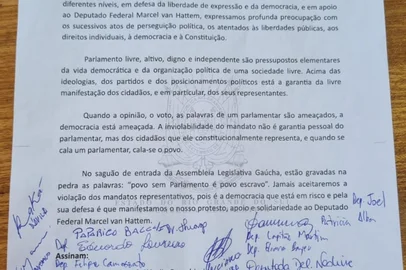Fernanda Baumhardt tinha 36 anos quando largou uma carreira já consolidada em Los Angeles (EUA). Em busca de propósito, como indica o subtítulo de seu recém-lançado livro Vozes à Flor da Pele – Uma Humanitária Brasileira em Busca de Propósito, ela passou a se dedicar ao ativismo humanitário, com foco em comunidades devastadas por desastres e em campos de refugiados. Hoje com 53 anos, ela já participou de 40 missões e projetos realizados em comunidades de 30 países, atuando junto a diferentes organizações como a Cruz Vermelha, o Conselho Norueguês para Refugiados e a Organização das Nações Unidas (ONU). Com os chamados vídeos participativos, em que proporciona a expressão das próprias comunidades por meio de registros audiovisuais, descobriu grandes histórias e personagens, principalmente mulheres, sobre as quais fala na entrevista a seguir.
Como foi sua saída do Rio Grande do Sul?
Eu cursava Jornalismo na Unisinos quando houve a Guerra do Golfo. Tinha o sonho de ser correspondente, sonho que nasceu vendo as transmissões do conflito. Achei fascinante o trabalho de estar ali, com aquele risco. Meu trabalho de conclusão do curso foi um comparativo entre as linhas editoriais das revistas Time e Veja sobre a ECO92. Era um evento realizado no Brasil, mas um assunto global. A área internacional era o que me interessava. Mas eu não tinha um plano de ação. Tinha bom inglês, havia ido para o Canadá com 13 anos, com minha mãe, que fez lá mestrado e doutorado. Voltei, mas sempre tive o pé no mundo, porque a família ficou por lá desde então.
Como foi parar na CNN?
Por acaso. Porque vendi minha alma para a publicidade. Atuei como jornalista um ano, não mais do que isso. E as portas da publicidade abriram-se, primeiro na Bloomberg, onde entrei no departamento comercial. Era 1998, foi o primeiro emprego, mas eu nem tinha nem cargo. De lá que saltei para a CNN, porque comecei a fazer venda publicitária do site da Bloomberg. E eles estavam para lançar o site brasileiro da CNN. Em 2000, havia pouquíssima gente fazendo comercial para a internet. Aprendi a fazer isso nos EUA com a Bloomberg. Foi muita sorte.
O que aconteceu para você sair?
Fiquei quase oito anos na Turner (grupo que comanda a CNN), foi dando certo. Acabei em Londres por três meses, cobrindo férias de um colega, sempre no departamento comercial. Fazendo projetos especiais, na verdade. Eu trabalhava no andar comercial e descia para a redação para negociar com o editor-chefe do site para discutir esses projetos especiais. Eu cruzava com Christiane Ammampour (correspondente internacional). Aquilo me bateu: “Não deveria ter abandonado o jornalismo, é disso que gosto”. Essas passagem foram sementes inconscientes para eu ir para o mundo. Ganhei uma vaga de executiva na CNN Digital, nos EUA, estava com a vida estabilizada, mas acabei chutando o pau da barraca. A espiritualidade me ajudou um pouco a ter coragem, a seguir a minha intuição, porque eu tinha certeza interior: “Tenho que sair, não posso demorar para fazer esse salto”. Ir para o mundo e ajudar o mundo. Era isso o que eu queria.
Que tipo de espiritualidade?
Budismo. Também pratiquei outras linhas, mais filosóficas. Eu buscava respostas. Buscava me conectar comigo mesma. E aí pedi demissão daquele sonho de plástico, como eu digo. Mesmo não sabendo o que fazer. Até que, em uma conversa com uma amiga, ela disse: “Vou para Amsterdã fazer mestrado”. Ela é advogada. Perguntei a universidade. “Me inscrevi em gestão ambiental.” Acabei escrevendo para lá, também, para ver se me aceitavam. Acabei ganhando uma bolsa. Não acreditei... Ali encontrei o Paulo Suarez, que foi meu mentor na Cruz Vermelha Internacional.
Foi aí que você começou a ter contato com vídeos participativos?
Foi. Essa é uma técnica que é documentada. Escrevi para ele dizendo: “Li sobre o que você está fazendo na África e quero muito fazer minha pesquisa de campo nisso”. Ele me deu uma chance. Fui para Malaui, onde fiquei dois meses e meio, fazendo isso e aferindo o antes e depois. Eram práticas de base comunitária de adaptação às mudanças climáticas. Um vídeo feito por comunidade A era levado para as comunidades B, C e D, e então era aferido o antes e depois do potencial de mudança de comportamento dos que assistiam.

Como sua formação em gestão ambiental afeta a maneira de olhar o mundo hoje?
Me ajuda muito, sobretudo no sentido de entender o pensamento predominante na universidade, que era de que o aquecimento global é irreversível e nos próximos anos já estaremos vivendo as consequencias de suas ações, que não irão mudar. Isso foi muito impactante para mim. Não dá para reverter atualmente, então a gente precisa ajudar na adaptação e mitigação do impacto nas comunidades. Foi aí que tive outro clique: vou sair da questão ambiental pura e simples e ir para a ponta das comunidades, porque é nas comunidades que a bomba estoura. Falei: “Não vou ser ativista do Greenpeace, porque é perda de tempo de certa forma”. Vou ajudar onde o impacto vai bater.
Decidiu não militar.
Não estou dizendo que a militância não seja importante. Mas o impacto está chegando e é lá, nas pessoas. Isso é mais urgente. Lá em Malaui tive a compreensão, vendo os aldeões adaptando as suas práticas de agricultura.
Como é a técnica dos vídeos? Emprestar uma câmera e um microfone a quem não tem voz?
A quem não tem exposição midiática. Não se reconhece diante de uma câmera, de uma tela, não reconhece a sua voz, não sabe o que é o poder de uma fala, de escuta audiovisual.
A pessoa mesma conta sua história ou entrevista outras pessoas?
Faz os dois. Tem algo de jornalismo cidadão. Essa técnica foi criada em 1967, por um filmaker canadense, que foi levar câmeras e microfones às comunidades pesqueiras de Newfoundland (no Canadá) que estavam brigando por questões territoriais. Ele travou um grande diálogo em vídeos feitos editorialmete por esssas comunidades. Mas eles não se filmaram. A partir dali, a técnica do vídeo participativo foi evoluindo. Eu sigo um manual. Mas coloquei o meu tempero depois de realizar mais de 40 projetos.
(A produção de vídeos participativos) É um processo de criação de confiança. Sabe o que cria confiança? Eles (as comunidades) e o equipamento. É mágico vê-los lidando com o equipamento. A edição do vídeo deles é feita por eles. Eu opero o programa de edição no meu computador, mas eles que vão me dando os pontos de corte.
A técnica observa desde o primeiro contato das comunidades com a tecnologia, certo?
Sim, com as ferramentas, quem vai ali ver a câmera, tudo. A metodologia consiste em um ciclo de descobrir, filmar-se, parar e assistir. E depois debater, refletir o que se aprende. E continuar.
Como começa?
O que gosto de fazer é perguntar “quem sou eu”. É o primeiro exercício. Bem profundo.
No Ocidente, quando a gente pergunta quem sou eu, nós nos identificamos pela profissão. O que você costuma ouvir nessas comunidades?
Ouvi tanto... Depende. Por exemplo, com as indianas, veio um “somos pequenas agricultoras, resistentes à agricultura comercial”. Migrantes: “Somos caminhantes”. Mas também ouvi “somos sobreviventes de um estupro coletivo”.
Em geral, as pessoas se abrem diante da câmera?
Depende. É muito difícil te dar uma resposta generalizada, quando é muito individual. O objetivo é esse: a individualização das expressões. Mas o interessante é que, como trabalho muito com grupos de mulheres, elas vão se reforçando elas próprias. E esse ato de parar e se assitir é muito forte.
Você não pensa em fazer documentário?
A minha bandeira sempre foi que elas se editassem. E eu tive que brigar muito por essa linha. Essa separação que deveria ter entre comercial e jornalismo, tive que criar uma corrente protegendo, como uma guardiã das vozes delas. De não deixar as agências e as agendas editarem essas vozes.
O humanitarismo é como o romantismo, às vezes aventureiro, às vezes neocolonizador. Você sentiu isso, que ao mesmo tempo em que dá voz a essas pessoas também tenta editar as histórias delas?
Sim. É uma atividade bipolar. Vou voltar a 2016 para que as pessoas entendam o peso disso dentro do humanitarismo. Por que as agências humanitárias têm pessoas fazendo o que você faz? E qual o objetivo? Porque normalmente não é assim. Há a comunicação pública, que angaria fundos, comunica-se com veículos, destaca que se precisa de mais atenção geopolítica para uma crise no Sudão etc. Mas não olha para o que acontece nas comunidades. Em 2016, Ban Ki Moon (sul-coreano, ex-secretário-geral das Nações Unidas) fez um processo de consulta que culminou em um Summit, em Istambul, em 2016, e com uma agenda para a humanidade. Saíram de lá alguns compromissos novos para a forma de fazer trabalho humanitário. Um desses compromissos era a Revolução Participativa, que conclamava a um humanitarismo mais participativo. Mas uma coisa é esse tipo de compromisso e outra é como mudar uma cultura. Foi quando entramos. Porque, até então, nas operações, não havia funcionários, assessores, técnicos de comunicação participativa e comunitária. Não havia essa peça nas operações. Além disso, os grandes doadores começaram a exigir. “Quem está fazendo esse tipo de trabalho?” Os escandinavos começaram a pedir isso: “A gente vai dar dinheiro, mas vamos exigir certas coisas”. Há 12 grandes doadores na ONU, incluindo governos, por exemplo, da Noruega. Eles doam dinheiro e também capacitam. Investem em bancos de talentos, por áreas de especialização. Começaram, então, a lançar especialistas em comunicação com comunidades para a participação comunitária. Foi quando eu entrei. Fui a única brasileira a entrar, na época. Minha primeira missão foi no Equador.
As soluções para os desastres, os conflitos, as guerras, e as prevenções para salvar vidas nos desastres naturais, de uma inundação até um terremoto, estão nas mesas de políticos. E a política está cada vez menos ligada ao humanismo.
Você percebe, lá dentro, os interesses geopolíticos por trás da agenda humanitária?
Vamos dividir essa discussão em duas: uma coisa é geopolítica, autoridades, outra são as políticas das agências. O que aconteceu quando o setor, de uma hora para a outra, teve de se reiventar? A participação comunitária foi um marco para todo o mundo que faz humanitarismo. “Como assim a gente vai ter de dar voz às comunidades, envolvê-los nas decisões?” O que está escrito é “envolver as comunidades, os grupos diferentes, nas decisões desde o planejamento, a intervenção, o monitoramento e avaliação final”. Como se faz isso? Vai depender: em um campo de refugiados é mais fácil. A gente consegue fortalecer as lideranças comunitárias, os comitês comunitários, com representação feminina, LGBTQI+, jovens. Eles discutem e tomam decisões. Mas, ainda assim, a participação é limitada: a implementação em determinado lugar continua sendo decidida pelas agências ou as autoridades. Por isso falo em bipolaridade. A gente é jogado no meio disso para abrir espaço. É estar nesse meio. Mas acredito muito na metodologia que decidi usar: prefiro o qualitativo do que o quantitativo, porque te traz detalhes, traz humanidade. Escolho uma pessoa e a levo para dentro de uma sala de coordenação. A voz dela e da comunidade que ela representa vai direto como minha recomendação para as agências. Acredito que essa metodologia obrigue a um redesenho do trabalho das agências.
Em 2018, quando você esteve no Afeganistão, os EUA já estavam para sair de lá, o Talibã retomando cidades... Como foi a experiência?
Eu tinha muito medo. Estar lá com as câmeras... Eu andava com meus próprios equipamentos. Nos contratos, fica claro: o material é meu. É muito fácil alguém dizer: “Some com essa voz”. Não some nada. O equipamento é meu, o HD é meu, é uma forma de proteger essas vozes. Só que, quando estive na linha de frente, tive muito medo. Vi o pavor na expressão das mulheres vivendo em meio à guerra.
Qual era o seu medo?
Boa pergunta. Eu particularmete tinha muito medo de ser violada, como mulher. Por ser estrangeira. Não era medo de morrer. Morrer? Ok. A questão era ser violada.
Quantas pessoas viajam com você?
Para o Afeganistão, eu saía de Genebra sozinha. Mas chegava lá e havia a agência das Nações Unidas me esperando. No Afeganistão, eu estava com salário pago pela Noruega, mas dentro de uma agência da ONU.
Como é quando você chega a Cabul, por exemplo?
Eu chego a Cabul, no aeroporto,as Nações Unidas estão me esperando. Estou com eles. O processo de vídeo participativo demora cinco dias, sempre com intérprete deles. É um processo de criação de confiança. Sabe o que cria confiança? Eles e o equipamento. A liberdade que eles sentem de lidar com o equipamento. É mágico vê-los lidando com o equipamento. A edição do vídeo deles é feita por eles. Eu opero o programa de edição no meu computador, mas são eles que vão me dando os pontos de corte.
Você faz sozinha?
Faço toda a parte técnica, sim.
As mulheres que tiveram o microfone na mão, num campo de refugiados, se transformaram, sim. Acho que elas tiveram, e continuarão tendo, um processo de empoderamento importante. É um impacto micro. O impacto macro eu ainda quero fazer.
São basicamente mulheres ou você também ouve os homens nas comunidades?
Também ouço homens. No Afeganistão, misturaram homens e mulheres. Foi uma gafe, para dizer o mínimo. Era só ver aqueles homens e mulheres ao mesmo tempo. Misturaram diferentes níveis econômicos. Eles vão gravando suas histórias, suas mensagens. Lá, foi tudo feito com celular. Não trabalhei com câmera porque achei que seria muito invasivo. Eles se gravavam, e eu observava. A ideia é sempre não interferir. Mas ali eu estava muito chateada, porque a maioria era homens. As comunidades decidem onde querem gravar, e a decisão acabou sendo deles. Um senhor disse que queria gravar o depoimento dentro da tenda dele. A agência não queria por questão de segurança. Aí uma mulher me pediu: eu preciso da tua ajuda. Meu objetivo, como facilitadora, é dar a segurança de que eles precisam... e soltar. Elas queriam gravar seus depoimentos separadas dos homens. Foi o que fizemos.
No momento em que colocaram homens e mulheres juntos, não gravaram.
Elas pegavam a câmera. Mas achei forçado. Não é assim que se faz a mudança. Para mim, a grande questão é o final, sobretudo essas edições participativas. Eu opero o programa, e essa sessão demora umas seis horas. Depois que a gente termina de editar, a gente projeta o filme deles. Essa é a última etapa. E todos vão se assistir e dar o feedback para dizer se é aquilo mesmo ou não, temos de alterar. É aí que vem o consentimento final: “Vocês querem que esse vídeo saia daqui para o mundo, está ok isso, está bom ou tem algo a alterar?”. Fica tudo registrado. Eu gravo. Esse vídeo foi para a conferência do Afeganistão na ONU, em Genebra, dois meses depois.
Por que você parece tão decepcionada com o mundo?
Por causa da geopolítica. Porque as soluções para os desastres, os conflitos, as guerras, e as prevenções para salvar vidas nos desastres naturais, de uma inundação até um terremoto, estão nas mesas de políticos. E a política está cada vez menos ligada ao humanismo. Essa é a impressão que tive nesses anos.
Mas o seu trabalho é importante porque tem um impacto na vida dessas comunidades.
As mulheres que tiveram o microfone na mão, num campo de refugiados, se transformaram, sim. Acho que elas tiveram, e continuarão tendo, um processo de empoderamento importante. É um impacto micro. O impacto macro eu ainda quero fazer.