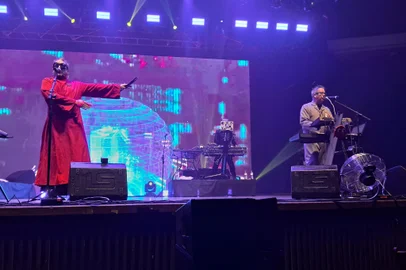Há algum tempo escrevi aqui nesta coluna, ecoando Nietzsche: "Todo artista verdadeiro está além do bem e do mal". O que queria dizer é que um artista não pode ser julgado, enquanto artista, por seu comportamento pessoal ou suas posições políticas. Estava me referindo a Maurice Barrès, de quem volto a falar mais um pouco hoje.
Barrès é praticamente desconhecido no Brasil, mas foi uma das grandes figuras da literatura francesa nas décadas anteriores à Primeira Guerra Mundial. Vale a pena conhecer sua obra. Além de romancista e ensaísta, foi parlamentar, ativista político e um dos criadores do pensamento nacionalista francês.
A noção de enraizamento desempenha papel crucial na sua versão do nacionalismo. Para ele, cada um de nós é um prolongamento de nossos antepassados, que vivem e falam por nosso intermédio. Em outras palavras, somos o produto de uma coletividade que ressoa dentro de nós. A nossa força reside, segundo ele, em nos submetermos sem hesitações "às grandes vozes da terra e dos mortos". Desconectados desse solo e desse passado, ficamos sem base e sem referências. E perdemos a nossa fonte primordial de energia vital.
Tudo isso faz muito sentido para mim. Eu, que por circunstâncias familiares e depois profissionais, vivi tanto tempo no Exterior só sobrevivi e só não me desfigurei porque nunca me considerei "cidadão do mundo" (tenho horror dessa expressão e nem sei o que pode realmente significar). Por mais longe que esteja – e agora estou mais longe do que nunca –, estou sempre conectado de alguma forma ao Brasil (por esta coluna, por exemplo).
Volto a Barrès. Infelizmente, ele se colocou do lado errado em uma das maiores injustiças da história francesa: a condenação do capitão Alfred Dreyfus, de origem judaica, por entregar segredos militares à Alemanha. Barrès era um dos porta-vozes, não raro vociferante, dos "anti-dreyfusards" e defensor intransigente do exército francês e, por extensão, das barbaridades que fizeram contra um inocente. Chegou a escrever que a raça de Dreyfus o predispunha à traição...
E, no entanto – e aí queria chegar –, foi um artista maravilhoso. As suas palavras tinham toda uma música própria e as "cadências barresianas" ficaram famosas.
Para dar uma ideia ao leitor ou leitora, traduzo a sua descrição de um passeio de gôndola em Veneza, conhecido como "O Incêndio de Veneza":
"Veneza, rente ao mar, se estendia e fazia uma barra mais importante à medida que o sol se extinguia. Colorações fantásticas se sucediam que teriam forçado a alma mais indigente a se emocionar. Ora tons sombrios e esses verdes profundos próprios das ruelas misteriosas de Veneza; ora esses amarelos, esses alaranjados, esses azuis com que jogam os decoradores japoneses. Enquanto no Ocidente o céu se liquefazia num mar ardente, sobre nossas cabeças nuvens inebriantes de magnificência renovavam perpetuamente suas formas, e a luz do crepúsculo as penetrava, as saturava de seus incontáveis fogos. As suas cores delicadas e dilaceradas de lirismo se refletiam na laguna, de sorte que nós deslizávamos sobre os céus. Eles nos cobriam, eles nos carregavam, eles nos envolviam de um esplendor total e, por assim dizer, palpável. Vencidos por essas grandes magias, havíamos perdido toda noção de realidade quando manchas escuras apareceram, cresceram sobre a água, depois nos tomaram na sua sombra. Eram os monumentos dos doges."
A quem assim escreve tudo se pode perdoar.
Leia outras colunas em
zerohora.com/paulonogueira