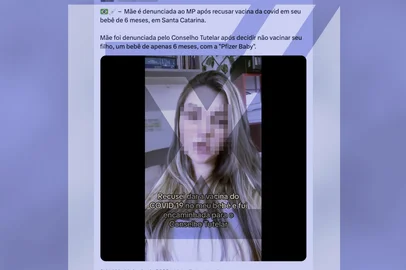Desde que me lembro, e lembro de coisas muito remotas, me despertava curiosidade e fascinação o outro lado das coisas. Por exemplo, o que havia atrás daquela porta sempre trancada, onde minha mãe guardava coisas tão triviais como vassouras, espanador, panos de limpeza e, eu acho, um aspirador de pó, só aberta na hora de arrumar a casa? Por que eu não podia abrir, me esconder naquele quase-quartinho minúsculo, onde aumentava minha curiosidade uma série de degraus de ferro presos na parede de fundo, por onde se subia sabe Deus para onde?
Isso sempre me atormentou: o proibido e inexplicado.
Subia-se para o sótão, diziam, que nós, crianças, chamávamos “sótio”, e que para inveja minha só havia na casa das outras crianças. Lugar de tesouros, medos, encantamentos, como tudo o que “não era pra criança”. Ali, na nossa, havia um vão assustador entre telhado e teto, me segredou alguém: lugar de morcegos e gambás, que eventualmente faziam barulho de noite, como de pessoas se arrastando. Eu, sempre medrosa, puxava os lençóis e cobertas sobre a cabeça – coisa que faço até hoje. Que espantalhos afugento inconscientemente, a esta altura de uma longa vida?
Outro lado de uma porta também me fascinava: portinha muito baixa, meu pai tinha de se curvar um pouco para passar. Levava ao porão e se abria com uma chave grande, velhíssima, de ferro preto, pendurada na cozinha, muito alto, para que pequenos não pudessem pegar.
Por quê? Isso sempre me atormentou: o proibido e inexplicado. No porão em si, havia velhas coisas com cheiro de velhas coisas, algumas ferramentas, cadeiras meio desconjuntadas, grandes tachos de cobre com que minha avó preparava geleias indizíveis no fundo do pátio.
E ali estava o mistério maior de todos: outra porta, menor ainda, portinha. Ali só consegui entrar poucas vezes, porque insisti demais e meu pai perdeu a paciência, ou porque me comportei tanto, que ele teve paciência. Era absolutamente apavorante: um porãozinho dentro do porão, muito pequeno, talvez adega, palavra que eu desconhecia. Prateleiras com muitas garrafas empoeiradas, vinhos que meu pai apreciava, me disse a mãe, e eu não podia nem tocar. Mas havia muito mais: um bercinho de madeira com ar de velhice irremediável, caixas de papelão contendo sabe-se lá que sustos. Restos de duas bonecas feito bebês decapitados, as cabecinhas ao lado. E num canto, meio escondido atrás de uns panos enormes e puídos, cortinas ou lençóis de um tempo perdido, a coisa mais preciosa: um cavalinho de madeira, cores empalidecidas, faltando uma orelha. Suas patas ficavam sobre apoios de cadeira de balanço. Que criança teria se embalado ali, aquela que ninguém queria mencionar se eu indagasse, mas viravam o rosto mudando de assunto?
Em todos os romances que escrevi depois de adulta, há sótãos e porões, guardando aquilo que o rio da vida esqueceu – ele que leva quase tudo, o ruim e o bom, os amores e as dores, nós, náufragos ou sobreviventes sem muita glória.
Tudo carregado de roldão para um outro lado que intuímos mal, tememos quase sempre, nutrimos como ilusão, ou com este ardente desejo de que seja eterno, que continue real, vivo, e presente, como foi em vida, do lado de cá.