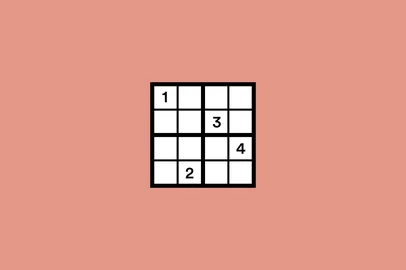A remoção da estátua de Theodore Roosevelt da entrada do Museu Americano de História Natural de Nova York, no início deste ano, foi apenas a parte mais visível do abalo sísmico que vem sacudindo instituições culturais do mundo inteiro nos últimos tempos.
No caso da estátua em que o ex-presidente americano erguia-se garboso sobre um cavalo, escoltado por um homem negro e um indígena, ambos em posição simbólica de inferioridade, foram anos de discussões em torno das novas leituras que o monumento adquiriu ao longo dos anos (as referências mais ou menos explícitas, e acríticas, ao colonialismo e ao racismo) e o sentido de a cidade de Nova York continuar celebrando “a amizade entre as raças” como se ainda estivéssemos em 1939, ano em que a estátua de bronze foi encomendada. Theodore Roosevelt caiu do cavalo, é verdade, mas com o devido aviso prévio, ao contrário de outros monumentos que, por diferentes motivos, foram arrancados dos seus pedestais no calor da emoção.
Dentro dos museus, as mudanças têm sido mais discretas, mas não menos importantes. Em Nova York, quem frequenta grandes centros culturais como MoMA, Guggenheim, Whitney e Metropolitan, ou mesmo museus menores e galerias, encontra hoje um plantel de artistas muito mais diverso em termos de gênero e origem étnica do que, digamos, há 10 anos. As retrospectivas dedicadas aos grandes mestres continuam atraindo multidões, mas isso não impede que nomes até aqui esquecidos ou pouco conhecidos do grande público venham conquistando espaços de honra nas paredes dos museus e nos livros de história da arte.
Esse esforço para abrir instituições para leituras mais abrangentes da história da arte tem efeitos curiosos. Em uma exposição, digamos, sobre surrealismo, descobrimos que, além de todos aqueles pintores celebrados do período, há uma legião de artistas mulheres, tão talentosas quanto os colegas homens, que faziam parte das mesmas turmas e foram colocadas em segundo plano ou simplesmente esquecidas. É como se um alçapão da História tivesse se aberto, libertando novas histórias, novos personagens e, principalmente, novos olhares.
Diante de artistas como Hilma af Klint (1862-1944) ou Alice Neel (1900-1984), para citar apenas duas que mereceram recentemente grandes retrospectivas, depois de anos vivendo nas notas de rodapé dos livros de arte, é impossível não imaginar quantos artistas, homens e mulheres, permanecem sob o alçapão, à espera de uma segunda chance da História.