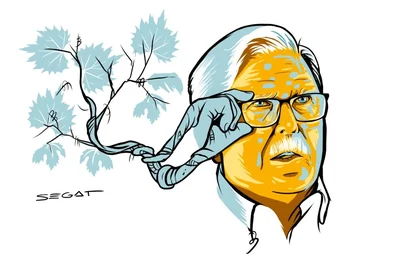Enquanto os jacarandás exibem sua copa em lilás, demarcando ao meu olhar o tempo do Escorpião, o calendário decreta o feriado de Finados. Eis um dia para evocarmos ela, a senhora dos tabus, a irmã morte. O assunto é mórbido, como já indicam outras proparoxítonas sombrias como fúnebre, féretro, túmulo e lápide. Tentarei, amigo leitor, manter aqui o sopro leve da crônica, mas entenda que é impossível falar da vida sem ter em mente o que a limita e até define. Negar a morte é afastar da percepção da vida a própria realidade finita dela.
Isso não significa desejá-la, claro. Como na canção de Gonzaguinha, por mais errada a vida, “ninguém quer a morte / só saúde e sorte”. Então, para fazer a vida bonita, bonita e bonita, plena de exuberância, feito os jacarandás que ora nos tomam a retina, não devemos descuidar da ampulheta do tempo de tudo, até do tempo do fim.
A morte, ceifeira fatal de nossa vitalidade e consciência, por oposição nos defronta com a necessidade de imprimir mais verdade e lucidez ao nosso tempo por aqui, entre outros semelhantes mortais. O escorpiano Belchior foi cirúrgico ao falar desse aprendizado luminoso com o que soa sombrio: “A noite fria me ensinou a amar mais o meu dia / E pela dor eu descobri o poder da alegria”.
E vamos de Gilberto Gil, autor da incisiva Não Tenho Medo da Morte, em que diferencia a morte — o depois, o apagamento — do morrer, o ato que nos corta de vez a respiração. Esse ato, quase sempre acompanhado de sofrimento, é talvez o que mais nos apavora. Meu avô dizia: “Não tenho medo de morrer, tenho medo de sofrer”. Carrego esse teu gene, vovô.
Ainda nos anos 1970, Gil já tinha feito outra composição sobre o tema da morte, a belíssima Então Vale a Pena. Diz assim: “Se a morte faz parte da vida / E se vale a pena viver / Então morrer vale a pena / Se a gente teve o tempo para crescer”. Sim, morrer vale a pena desde que tenhamos tido tempo para viver as nuances tantas do que chamamos vida, entre o amar e o sofrer e o usufruir de cada alegria. Quem assim segue, “não teme a sua sorte / Abraça a sua morte / Como a uma linda ninfa nua”.
Raul Seixas foi ainda mais direto em seu Canto Para Minha Morte: “Vem, mas demore a chegar / Eu te detesto e amo morte, morte, morte / Que talvez seja o segredo dessa vida”. E para citar outro artista genial, Itamar Assumpção, vai esse seu petardo filosófico: “Quem não vive tem medo da morte”. É, meu povo, a mulher da foice, a dama de branco, a indesejada das gentes, existe também para nos alertar sobre a qualidade de nossa vida — e de nossas escolhas.
De tão vital, esse tema da morte é estruturante das culturas mundo afora. O modo como cada povo lida com a morte revela quase tudo sobre suas estruturas sociais — sua vida, enfim. Hoje ainda nos impressionamos com os ritos funerários dos antigos egípcios, com múmias intactas após milênios e pirâmides monumentais. E tentamos decifrar os egípcios à luz de suas necrópoles.
Sou particularmente fascinado pela sincrética celebração que agita os mexicanos neste Dia de Los Muertos. Mesclando homenagens cristãs aos falecidos, oferendas que remetem aos povos originários e muita alegria e confraternização na farra dos que saem às ruas com fantasias de caveiras coloridas, eles louvam a vida num rito de morte. Sensacional.
Pois bem, já que tudo acaba, que tenha valido a pena o caminho. E acabo contando de uma senhora que conheci certa vez, num Dia de Finados. Vi que ela depositava flores em túmulos abandonados. Fui conversar. Esse hábito começara há anos, ao visitar o túmulo do marido e verificar que certas sepulturas jamais eram limpas ou recebiam flores, nem no dia 2 de novembro. Desde então, todos os anos a mulher levava uma cota extra de flores para os mortos anônimos sem atenção dos seus vivos. Fiquei tocado. E apostei que ela tinha uma vida que valia a pena.