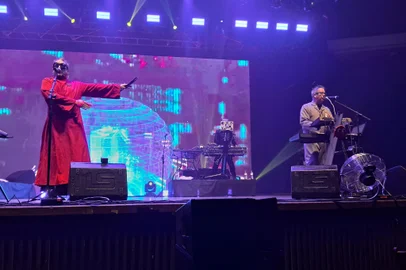— O Oriente Médio perdeu a oportunidade de dar os primeiros passos rumo à liberdade e à democracia. E o Ocidente optou por ser um interlocutor silencioso. Isto não ajudou a Primavera Árabe — estas são as palavras de um vencedor do Nobel da Paz, Mohamed ElBaradei, um dos principais nomes da oposição liberal egípcia, dez anos depois das primeiras manifestações na Tunísia que provocaram um levante popular na região.
Depois da Tunísia, Egito, Líbia, Bahrein, Síria e Iêmen se viram presos em um redemoinho que mudou a face do Oriente Médio. Um terremoto que os países ocidentais não conseguiram prever.
Próximos a alguns regimes autoritários, que durante décadas foram considerados uma garantia de estabilidade e segurança, não conseguiram medir a dimensão dos acontecimentos. ElBaradei lamenta que não tenham apostado realmente nas esperanças democráticas.
— Sabíamos o que não queríamos, mas não tínhamos tempo para discutir como seria o dia seguinte. Não tínhamos as ferramentas nem as instituições — recorda.
Muitas pessoas compartilham desta visão amarga dos acontecimentos que acabaram com alguns regimes, mas também com a ilusão de várias populações, que foram violentamente reprimidas, diante de países ocidentais indecisos, inconstantes e impotentes, de acordo com depoimentos exclusivos à reportagem.
Manipulação?
Não foi por falta de compromisso. Várias ONGs e órgãos para-governamentais tentaram apoiar as ambições democráticas. Os autocratas, porém, denunciaram o que chamaram de manipulação. No fim de 2011, no Egito, 43 membros de ONGs locais e internacionais, incluindo 20 estrangeiros (a maioria norte-americanos), foram acusados de interferir nos assuntos do país. Os estrangeiros foram expulsos e os demais, condenados.
Na Síria, após uma visita do embaixador dos Estados Unidos à cidade de Hama, então o epicentro dos protestos, Damasco afirmou que havia "provas da participação dos Estados Unidos nos acontecimentos" e de seu desejo de "aumentar" a tensão.
Outros países fizeram acusações similares. Mas o argumento não se sustenta, afirma Srdja Popovic, cofundador da ONG sérvia Centro de Ações e Estratégias Aplicadas Não Violentas (Canvas).
— Para ter êxito, estas batalhas devem vir de dentro. Não se pode importar uma maioria, nem pessoas para construí-la — afirma, com base em 15 anos de experiência em países de todo o mundo que lutam pela democracia.
Stéphane Lacroix, pesquisador do Instituto de Estudos Políticos de Paris, também descarta a ideia de conspiração estrangeira.
— Quem vê imperialismo em todos os lados não considera que os povos autônomos são capazes de se mobilizar porque não suportam mais. Esta é a história! Não é Washington que liga e afirma: 'Agente 007, vá para a Praça Tahrir'.
Ao mesmo tempo, existe uma unanimidade sobre a falta de visão e de coragem dos países ocidentais. Nadim Houry, que dirige o centro de estudos Arab Reform Initiative, apresenta um quadro implacável. A Primavera Árabe "pegou de surpresa os ocidentais em 2011".
— Levaram alguns meses para pensar e rapidamente fecharam a porta para este experimento de mudança democrática. E de 2012 a 2013, retornaram a uma visão puramente de segurança na região.
Esta é a visão geral. Mas cada cenário teve a própria tragédia.
A cegueira francesa na Tunísia
Na Tunísia, ex-colônia francesa, todos os olhares se voltaram a Paris no momento decisivo em que o presidente Ben Ali reprimiu os manifestantes nas ruas. Em janeiro de 2011, a chanceler Michèle Alliot-Marie ofereceu ao país a "sabedoria" francesa para "resolver situações de segurança".
Também foi muito criticada por ter passado férias no fim de 2010 em Túnis, quando a revolta já havia começado. Ela renunciou ao cargo no fim de fevereiro, sem dúvida um bode expiatório da falta de discernimento coletivo do Estado francês.
Na França, a comunidade tunisiana se mobilizou, mas o Estado francês ignorou a iniciativa.
— Pensamos que estas ditaduras iriam durar para sempre. Portanto, não fazia sentido conversar com opositores no exílio que não levávamos a sério — afirma Stéphane.
Egito entre militares e islamistas
No Egito, as manobras eram feitas por Washington. A ajuda militar americana ao regime de Hosni Mubarak alcançava 1,3 bilhão de dólares por ano desde 1979.
Barack Obama observava as manifestações com certo entusiasmo, mas sua secretária de Estado, Hillary Clinton, demonstrou cautela. Ela temia em particular problemas com os aliados norte-americanos no Golfo, como Emirados Árabes Unidos ou Arábia Saudita.
— Não estava convencida — recorda Sherif Mansour, um ativista egípcio, então membro da Freedom House.
Mubarak jogou a toalha em fevereiro de 2011. O Conselho Supremo das Forças Armadas (SCAF) assumiu o controle do país. Um ano depois, em junho de 2012, o candidato da Irmandade Muçulmana, Mohamed Morsi, se tornou o primeiro presidente egípcio eleito que não veio do exército. Washington, que apoiou o processo eleitoral, teve que lidar então com um islamita.
Morsi foi imediatamente desafiado por uma oposição laica que não se reconhecia na vitória da Irmandade Muçulmana. A Praça Tahrir voltou a receber manifestantes. O governo dos Estados Unidos foi acusado de ajudar os islamitas a "roubar" as eleições.
Em meados de 2013, o presidente foi deposto pelo exército. O general Abdel Fatah Al Sissi, ministro da Defesa, assumiu o governo. Obama ficou relutante, mas sob pressão de Riade e Abu Dhabi, ele se absteve de usar os termos "golpe" que, segundo a lei norte-americana, teria encerrado a ajuda militar.
Ele terminou concedendo à junta militar uma forma de legitimidade, apesar da violenta repressão contra os manifestantes pró-Morsi (1,4 mil mortos em sete meses, a maioria islamistas). A contrarrevolução venceu.
Frank Wisner, enviado especial dos Estados Unidos ao Egito, recorda a "grande" vontade dos egípcios de recuperar a estabilidade. Ao mesmo tempo, lembra sua aspiração por democracia.
O governo dos Estados Unidos poderia ter modificado a história?
— Estou convencido de que não. Poderíamos ter enviado uma mensagem diferente? Com certeza poderíamos ter feito isso — diz Wisner.
O desastre líbio
Na Líbia, ao mesmo tempo, as manifestações começaram em meados de fevereiro de 2011 e foram reprimidas com sangue. O presidente francês na época, Nicolas Sarkozy, pressionou por uma intervenção armada.
A resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) de 1973 autorizou o uso da força para proteger os civis. As operações começaram em março, sob o comando da Otan. Uma ordem de prisão internacional foi emitida contra o chefe de Estado Muamar Kadhafi, mas ele foi assassinado em outubro.
O resultado foi muito além do objetivo do texto da ONU, para grande irritação da Rússia e da China. O espírito da revolução foi "totalmente desviado", lamenta o embaixador François Nicoullaud.
E o pior ainda estava por vir: a Líbia não tinha instituições. Durante quatro décadas, Kadhafi "governou sem Estado, apoiado por um aparato de segurança ideologizado e pelas tribos", afirma Lacroix.
— O país nunca teve uma vida política, partidos ou sociedade civil — disse Lacroix.
— O que não vimos de modo suficiente é que é um desafio reorganizar e reconstruir um Estado —afirmou o ex-presidente francês, François Hollande, então na oposição, mas que foi favorável à intervenção na Líbia.
No dia 11 de setembro de 2012, quatro norte-americanos, incluindo o embaixador Christopher Stevens, morreram no ataque ao consulado em Benghazi. Um acontecimento que levou Obama "a questionar o que os Estados Unidos estavam fazendo na Líbia", recorda Hollande.
A falsa "linha vermelha" na Síria
Este desastre permanecia na mente de todos quando surgiu o caso da Síria. As manifestações na Síria começaram em março de 2011 e foram reprimidas de maneira imediata.
— Não havia nenhum projeto (ocidental). Muito dinheiro foi enviado a grupos e pessoas que não sabiam o que fazer — afirma Ibrahim al-Idleb, ativista de Idleb, atualmente exilado na Turquia.
Armas foram enviadas, exceto uma defesa antiaérea: a rebelião desejava este armamento ante os ataques de Bashar Al-Assad, mas os norte-americanos foram contrários porque temiam o uso contra Israel ou que caísse nas mãos dos jihadistas.
O caos dominou o país. Os ocidentais desejavam conversas com grupos estruturados. A Conferência Internacional de Amigos do Povo Sírio, que reúne os países árabes e ocidentais e a ONU, tentou retirar o país do atoleiro, mas nada foi conquistado. Os islamitas radicais e depois os jihadistas destruíram o movimento anti-Assad.
Em meados de 2012, Obama disse que o uso de armas químicas era o equivalente a cruzar uma "linha vermelha". Um ano depois, Assad foi acusado de ter utilizado este tipo de armas contra os rebeldes em uma área próxima a Damasco, mas Washington não reagiu.
A chamada linha vermelha era "uma posição frágil", afirma Nikolaos Van Dam, ex-embaixador holandês em vários países da região. "Sugere que podem usar bombas de fragmentação, barris de explosivos, fósforo, todo tipo de armas, mas não as armas químicas".
Obama havia prometido aos eleitores norte-americanos repatriar as tropas do país mobilizadas no Oriente Médio e muitos europeus rejeitavam uma intervenção.
— Eu tinha combinado uma operação com ele. Os militares estão trabalhando para sua realização, os diplomatas para preparar sua legitimidade no Conselho de Segurança. Tudo estava pronto. E no dia seguinte, ele nos disse: 'Vou pedir autorização ao Congresso' (antes do ataque). Foi quando entendi que havia acabado. Foi um erro estratégico— disse Hollande.
O golpe mortal nas esperanças revolucionárias
— O uso de armas químicas acabou com qualquer esperança de uma ação decisiva por parte do Ocidente. Deu um cheque em branco a Bashar al Assad e abriu uma nova via para Rússia, Irã e Turquia — resume Bassma Kodmani, cientista político e opositor sírio.
Sete anos depois, o jogo de poder continua. Mick Mulroy, que trabalhou na CIA e no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, denuncia as ambições de russos e chineses.
— O Oriente Médio é onde está sendo jogada a estratégia de segurança nacional americana. Os Estados Unidos devem estar presentes nesta competição — disse Mulroy.
Os povos árabes, ao mesmo tempo, tentam avançar. A Tunísia é uma democracia em crise econômica. O Egito é governado por uma ditadura militar e Assad permanece no poder.
A Líbia anunciou eleições para dezembro de 2021, mas o país continua dividido entre o Governo de Unidade Nacional de Trípoli, reconhecido pela ONU e apoiado pela Turquia, e uma oposição armada apoiada em particular pelos Emirados e a Rússia.
"A democracia não é conquistada em um dia", afirmam os mais otimistas. Ao mesmo tempo, o número de mortos continua aumentando e a Europa enfrenta uma onda imparável de refugiados.
— Não estava escrito de maneira antecipada que tudo terminaria assim — afirma Nadim Houry.
Embora se recuse a atribuir a responsabilidade principal ao Ocidente, ele considera que "neste enorme fracasso e desperdício, nesta tragédia humana, não estiveram presentes".