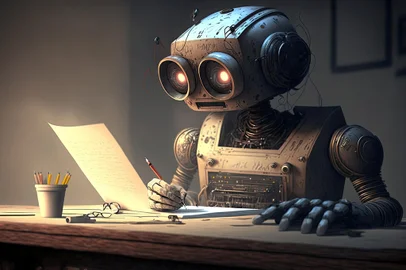Quando guri, eu tinha de me calar à mesa: só as pessoas grandes falavam. Agora, depois de adulto, tenho de ficar calado para as crianças falarem.
Mario Quintana foi poeticamente sábio, como sempre, ao fazer essa observação que é engraçada na primeira leitura e profunda logo em seguida. Essa é a história da minha vida. Sem tirar, nem pôr.
Ou melhor: eu não me importava por não ter a chance de falar em uma mesa cheia de irmãos e pais que botavam ordem na bagunça. Sempre gostei mais de ouvir. O que me incomodava era o papel subalterno nas tarefas dos mais velhos.
Por exemplo: estava eu lá, brincando ou desenhando ou vendo TV, qualquer coisa inadiável dessas para quem tem seis ou sete anos, e a mãe chamava. Existia a tática de fazer de conta que não tinha ouvido, mas com a minha mãe não funcionava. A segunda chamada continha muitos mais decibéis e uma entonação irritada. Melhor ir.
Eu já levantava antecipando o meu destino. Certo que era para desempenhar alguma tarefa de apoio. E elas eram todas muito chatas.
Podia ser segurar a escada enquanto a mãe trocava uma lâmpada. Isso era chato. Minha mãe trocava lâmpadas sem pressa alguma. Primeiro, subia os degraus com todo o cuidado, as escadas lá de casa eram meio bambas e tinha uma que podia fechar ao menor descuido de quem estava segurando (a criança), apertando os dedinhos da distraída. A mãe tirava a lâmpada queimada, descia com ela para colocar em um lugar seguro, voltava com a lâmpada nova, subia com atenção redobrada, instalava, chamava outro filho para ligar o interruptor e comprovar que estava tudo nos trinques e só então descia – com a prudência de quem volta do pico do Everest.
Tudo isso acontecendo e eu lá, segurando a escada. O desenho na TV devia ter terminado, meu irmão pequeno talvez riscasse o meu caderno, o sol já se punha no Guaíba e é possível que, ao término da tarefa, a minha mãe me mandasse diretamente para o banho. Eu envelhecia cada vez que ela trocava uma lâmpada. Saí da infância com uns três mil anos, portanto. Como queimava lâmpada naquele tempo.
Outra tarefa das mais enfadonhas: esperar o leite ferver. Era a época do leite de saquinho, sem o processamento todo de hoje, e não se bebia leite cru. A mãe botava dois litros na leiteira e ai de quem estivesse passando, ficaria de babá da fervura por intermináveis minutos. Em geral era eu. Não dava para levar uma revistinha, um brinquedo, nada, tinha que ficar de olho na leiteira. Ainda assim, não foram poucas as vezes em que deixei o leite derramar. Não sei o que era pior, a bronca ou limpar o fogão todo grudado depois.
Ir com a xícara pedir açúcar ou arroz ou café para a dona Ilse ou para a dona Edda, as vizinhas mais próximas. Servir de modelo para os coletinhos que a mãe tricotava. Era preciso experimentar umas duzentas vezes, no mínimo. Secar a louça olhando com inveja para a prima mais velha que se divertia tirando a gordureba dos pratos com água e sabão – sim, isso me parecia divertido. Buscar alguma coisa no quartinho de serviço, que servia de depósito e onde sempre, absolutamente sempre, tinha uma barata me esperando.
Não que toda a minha infância tenha sido chata, mas sabe como é. A gente tem tendência a lembrar das partes menos glamourosas, o que é ótimo para os psicanalistas.
Hoje, enquanto seguro a escada para o meu filho subir, penso em Mario Quintana. Agora sou adulta, mas na minha vez, a tarefa de apoio é minha. Não posso esquecer de dizer isso para a minha psicanalista.
•••
Para todas as crianças, um beijo atrasado pelo merecido dia. E para o Theo, que faz aniversário neste 15 de outubro, todo o meu amor. Tem sido uma aventura linda há 31 anos.