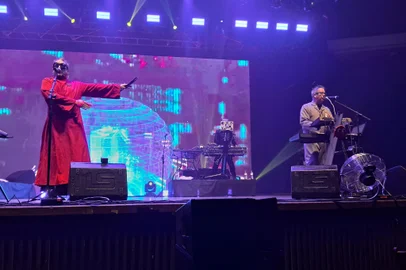Banda brasileira de maior sucesso no Exterior, com centenas de shows em 73 países, o Sepultura ultrapassou os 30 anos de carreira sob a liderança de Andreas Kisser. Desde a saída dos irmãos Cavalera – Max em 1996 e Igor em 2006 –, coube ao guitarrista e compositor conduzir o grupo, com altos e baixos somados à eterna busca por originalidade que fez o Sepultura transcender a linha do heavy metal. Do black ao thrash, passando por temáticas políticas e indígenas, a banda notabilizou-se pelo experimentalismo que a levou a construir marcos da música pesada, como uma gravação em uma tribo xavante e a surpreendente parceria com Zé Ramalho no Rock in Rio 2013.
Nesta entrevista, feita no bairro Moema, em São Paulo, no estúdio em que a banda ensaia para gravar novo álbum, Andreas aborda mitos e armadilhas que cercam os rock stars, faz críticas ao futebol nacional e aos líderes do processo político do país, recorda a experiência de ter tomado sangue de cobra na Indonésia e os 10 anos em que viveu em Phoenix, nos EUA. Um papo cheio de humor e moderadamente regado a cerveja de marca própria do Sepultura.
O antigo bordão sexo, drogas e rock’n’roll está ultrapassado?
Eu acho que sim. A galera jovem está mais antenada. Essa coisa de vegetarianismo, veganismo, se informar sobre o que você está comendo. Na minha geração, era o que a mãe colocava na mesa e o que a gente via nos bares e restaurantes. Confiança total na propaganda. A galera meio que ignora o heavy metal, com camisa preta, falando de dragões e coisas do demônio, mas é uma coisa muito bem trabalhada, tem muita poesia, história, protesto, letra do dia a dia. O metal tinha de ser um pouco mais participativo. Criança Esperança, por exemplo. Neguinho não vai lá porque é totalmente ignorado. Campanha para doar sangue: você não vê o governo envolver o metal.
O heavy metal é ignorado por responsabilidade de quem organiza ou pela sua cultura de gueto?
Os dois. O fã também é preconceituoso: "O heavy metal é música, o resto é lixo". Não é só no Brasil: em qualquer país, o metal não está na mídia, exceto o Metallica. Mas o Metallica é uma coisa além da cena.
Você é pai e marido. Com seu filho, faz um programa de rádio. A imagem do roqueiro pura rebeldia e sem sentimentos também é passado?
No meu caso, nunca foi assim. Mas as décadas de 1970 e 80 destruíram muita gente com droga. O baixista do The Who, o próprio Lemmy (Kilmister), o cara do The Clash, galera que morreu jovem. Pô, 70 anos, e nos dias de hoje? E definhando. Fora outros que morreram de overdose. Não é caminho ficar doidão. Se você não tem condições físicas, não vai ter como subir no palco e fazer aquilo que você mais ama. No Sepultura, tivemos a nossa época. Ali na década de 1990, quando o mundo estava se abrindo. Era tapete vermelho para tudo quanto era lado e a gente entrou numa de destruir mesmo (risos). Não tinha filho, não era casado, estava viajando o mundo com uma banda de heavy metal, desbravando o novo. A estrutura familiar foi muito importante. Principalmente numa hora em que tá todo mundo puxando o saco, você volta para casa e toma uns tapas de realidade. Vai buscar o filho na escola, comprar pão na padoca. É legal ter esse certo equilíbrio para voltar ao mundo real. Senão você começa a acreditar muito no mito que as pessoas criam em torno de você. É admiração, tudo é fácil, e você começa a acreditar que aquele é o ritmo da sua vida. Em 30 anos de história, acho que duas vezes a gente fez show muito louco e foi uma merda. Raríssimo. A gente sempre foi muito profissional nesse aspecto.
LEIA MAIS
>>> Sertanejo universitário: música ruim ou sucesso merecido?
>>> A crítica cultural perde peso e se reinventa na era das redes sociais
Qual é a relação do Sepultura com a religião?
Sempre atacamos as instituições políticas, não a fé. Cada um acredita no que quiser, isso é muito livre. O que é foda é tomar proveito da crença e usar como instituição política, como o Vaticano. Somos um país católico, aqui eu cresci e fui educado, estudei em colégio de freiras católicas e fui doutrinado nessas ideias. A música The Vatican, que fizemos no último disco, fala dessa sujeira da pedofilia, das drogas, da corrupção no banco do Vaticano. É só para enfatizar que aquilo não é o que parece.

Que tal é ser mais reconhecido fora do Brasil?
Acho fantástico. Agora a gente tem tocado muito mais no Brasil do que no resto da história do Sepultura. No começo era mais difícil, a gente estava batalhando, fizemos uma turnê pela Europa em 1989 com o Beneath the Remains(terceiro álbum de estúdio do Sepultura). Nosso primeiro show nos EUA foi no Ritz, abrindo para o King Diamond, em uma noite de Halloween, em 1989. E aqui no Brasil a galera meio que "foda-se". Até o momento em que saiu o Sepultura na frente do New Order no chart da New Musical Express. Aí a galera cult da imprensa falou "Caralho, o Sepultura tá na frente do New Order, os nossos deuses, como é que pode isso" (risos). E deu uma chama. E o Rock in Rio, em janeiro de 1991, derrubou as portas realmente. A banda começou a ficar respeitada no Brasil. Rolou show no Pacaembu para 40 mil pessoas antes de sairmos em turnê mundial. Fizemos o clipe de Orgasmatron através da MTV e ganhamos o melhor clipe pela escolha da audiência. A partir do momento da saída do Max (Cavalera, vocalista, guitarrista e fundador do Sepultura, deixou a banda em 1996), começamos a fazer planos mais específicos para o Brasil e a tocar mais aqui.
Como foi a experiência de morar nos EUA nos anos 1990, no auge do Sepultura? E a decisão de voltar ao Brasil?
Morar fora do país é maravilhoso. Fomos para Phoenix porque lá morava a Glória (Cavalera), nossa empresária na época. Comprei a minha primeira casa. EUA, uma economia estável, a gente estava fazendo uma grana legal. Ao contrário do Brasil, que estava passando por um caos político, implantação do real e tudo mais. Um dos meus filhos, o Yohan, nasceu lá, em 1997. Fiquei 10 anos em Phoenix. Resolvemos voltar porque a gente precisava reestruturar muita coisa. Foi bom porque a gente acabou voltando bem antes dos atentados terroristas, e os EUA mudaram muito depois do ataque às Torres Gêmeas. Ser estrangeiro, independentemente do que você pensa, numa situação daquelas, ia ser difícil. Os franceses sofreram porque a França não apoiou a invasão (do Afeganistão). E teve uma ruptura muito desagradável com o Max. Amigos se dividiram na cidade, e Phoenix não era tão grande. Sabe aquela coisa de você ir num restaurante e cruzar com um cara? A gente frequentava os mesmos lugares. Ficou uma coisa pentelha, e isso ajudou também a voltar ao Brasil.

Ficar por dois dias em uma tribo xavante para gravar a música Itsare, do álbum Roots, foi a sua experiência artística mais transcendental?
Acho que foi a mais realista. Nós ficamos dois dias lá. Foi rápido, mas a percepção do tempo é outra. O relógio vai mais devagar, você parece estar mais conectado com as coisas, com a natureza. Eu não consegui dormir, foi uma adrenalina muito forte. Escutei sons que nunca tinha escutado na vida. Eles pintaram todo nosso corpo, o rosto. Tinha um tradutor que fazia questão de explicar tudo o que estava acontecendo. Você chega lá e começa a perceber outras coisas. Natureza, duas araras juntas e livres, voando. Sem pressão para coisas inúteis que, no fim, vão te matando aos poucos. Foi uma coisa além da música. Foi tipo um alerta positivo.
Os índios, por questões históricas, têm receio dos brancos. Chegou a rolar alguma tensão?
Obviamente, eles colocaram todas as mulheres num lugar isolado da tribo. Quantos imbecis já não tentaram só porque elas estão nuas? Eles tiveram esse cuidado. Pediram para não levar nenhuma droga, nenhum álcool. Respeitamos. Não precisava de nada, a adrenalina de estar lá era uma coisa maluca. Também não usamos nada de raiz, de coisas deles. Foi estritamente musical, aproveitar os chocalhos que eles usam nas mãos e nos calcanhares. Eles batendo no chão, em um círculo em volta da árvore. Fantástico. O Max deixou um violão para eles. Não sei o que eles fizeram com o violão. Talvez fogueira (risos).
Ainda sobre experiências, você chegou a tomar sangue de cobra na Indonésia. Foi o lugar mais exótico em que vocês tocaram?
Sem dúvida. Nós passamos pela Indonésia para fazer dois shows e, chegando lá, a gente era os Beatles. As pessoas seguiam a gente. Fizemos entrevista numa rádio onde havia, sei lá, 10 mil pessoas nos esperando. Ao desembarcar, tivemos de ir numa reunião com a junta militar. Seguraram nossos passaportes, fizeram várias perguntas, pediram para mostrar tatuagem, perguntaram como a gente iria agir no palco. Eu me levantei e fiz um headbanger ("bater cabeça" na cultura heavy metal). Hoje dá para entender a preocupação deles. Nós somos uma banda brasileira, e eles estavam destruindo o Timor Leste, uma região onde se fala o português. Na época, em 1992, o bicho tava pegando e eles estavam preocupados com algum protesto político. A gente nem sabia que isso estava rolando. A festa em que tomei sangue de cobra foi uma festa de Tony Montana (personagem interpretado por Al Pacino no filme Scarface) nos seus momentos áureos. Sem a cocaína (risos). Um cara milionário que tinha zoológico em casa com tigre fez uma festa com culinária das tribos e show vodu. E estava lá essa senhora com a cobra, servindo drinques, e eu tive que experimentar. Deu mais um efeito psicológico. Eles misturam o sangue com licor. A gente assistiu ao show vodu, eu tive vários pesadelos, nada mais.

Você é um notório torcedor do São Paulo. Como avalia o momento do futebol brasileiro, com todas as disputas que têm ocorrido entre clubes, jogadores, federações e CBF?
Caos total. Triste pra caramba a situação do futebol antes pentacampeão e atual 7 a 1. Eu era um árduo torcedor da Seleção Brasileira porque sou da década de 1970, em que o Brasil era tricampeão. Não vi isso, eu tinha dois anos em 1970. Mas vivi a frustração de, depois de 70, não ser campeão mundial. E, depois, em 1994, eu estava no estádio vendo ao vivo o Brasil tetracampeão, Romário, um dos meus maiores ídolos até hoje. Depois teve 1998. Não posso acusar ninguém, mas foi um jogo muito esquisito. Como o 7 a 1 também foi um jogo muito esquisito. A gente escuta tanta história de jogo comprado, de juiz, de jogador, de federações. E aí perde a magia. É mais uma situação em que tomam proveito de uma arte para benefício próprio. Sujam tudo. Estamos vendo a consequência. Campeonatos regionais falidos. Você começa a ver que é tudo uma farsa. Tenho migrado para o rúgbi. Gosto de beisebol, acompanho NFL (a liga de futebol americano), que também tem a sua sujeira. Pelo menos no rúgbi você vê uma educação fantástica de jogadores, torcida. O respeito que eles têm pelo juiz. O juiz pondera, explica o que aconteceu, todo mundo aceita aquilo porque o juiz deu um argumento plausível. Mas eu sou um fanático. O São Paulo começa a jogar e a gente muda, já se anima.
O São Paulo está com o argentino Edgardo Bauza de técnico. Antes teve o colombiano Juan Carlos Osório. O argentino Ricardo Gareca não deu certo no Palmeiras, assim como o uruguaio Diego Aguirre no Inter (hoje ele está no Atlético-MG). Por que técnicos estrangeiros estão com dificuldade para se firmar no Brasil?
O Osório estava fazendo um trabalho fantástico. Pouca gente fala, mas acho que um fator importante foi a saída do Rogério Ceni. O São Paulo passou 25 anos com um goleiro fora de série. Ele era muito influente em todos os aspectos. E o clube estava tendo de se adaptar. Então, no caso do São Paulo, é difícil falar do lance do gringo. Está difícil trabalhar no Morumbi. Muito pela saída do Ceni, o impeachment do Carlos Miguel Aidar (ex-presidente do São Paulo). É como a política no Brasil. O futebol faz parte dessa cultura brasileira de levar vantagem. A gente vê o Neymar e o pai tendo de responder por evasão... Estamos passando por uma oportunidade especial. Temos de tomar proveito como cidadãos para exigir que o Brasil possa funcionar. Tirar essa corja, esses sanguessugas. Só pensam neles, no poder. E o Brasil com surto de dengue, zika, esgoto a céu aberto. Não vai ser o voto que vai mudar. Vai ser a atitude do brasileiro. Não aceitar jeitinho. Sei que é difícil, está todo mundo envolvido. O brasileiro não pode se colocar numa poltrona e falar que a corrupção está lá e eu estou aqui, limpo. Ninguém está limpo nessa história.
Muitos artistas brasileiros de sucesso causam polêmica ao buscar verbas via Lei Rouanet para financiar os seus projetos. Qual é sua opinião?
É bem esquisito. É um projeto para incentivar principalmente quem não tem essa condição, né? Infelizmente, são sempre os mesmos nomes, os artistas mais populares que conseguem as melhores verbas. Não digo que eles não merecem. Mas deveria ser mais democrático. Orquestras de comunidades pobres, músicos que tiram sangue de pedra: eles não têm o mínimo de apoio. É para esse artista que deveria ir esse tipo de verba, não para um artista consagrado que tem os fãs para financiá-lo.
A classe artística sempre teve fama de contestadora. Hoje, muitos artistas defendem o governo do PT. O Tico Santa Cruz é um roqueiro que apoia Dilma. O que mudou?
Acho fundamental que tenha ocorrido isso. A classe artística não é partido político, não faz convenção. A gente tem que ter liberdade de expressão como indivíduo, independentemente daquilo que faça profissionalmente. Temos o privilégio de viajar o mundo, conhecer personalidades, políticos, esportistas, gente da TV, jornalistas. Temos um ponto de vista mais interno da coisa. Por isso que a opinião do artista é tão valiosa em momentos cruciais da história do país. Por que o Tico Santa Cruz teria de pensar como o Roger (do Ultraje a Rigor)? Um é contra (o governo), e o outro é completamente a favor. Cada um tem seu motivo e argumento. Quando você começa a atacar a imagem de um ou de outro porque tá usando vermelho, putz, isso aqui não é nazismo. É o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Até parece que bater num cara vai mudar a vida do Lula, num iate acendendo um charuto.
Qual é a sua posição sobre o processo de impeachment da presidente Dilma?
Defendo a intervenção alienígena (muitos risos). É tão óbvio, que fica difícil de falar. É óbvio que é um sistema saturado, completamente falido para o povo e muito lucrativo pra quem está lá dentro. Ofereceram ministério para o Lula se safar de uma investigação. Eles brincam como se fosse um jogo de War. Temos de dar todo apoio à Operação Lava-Jato. A luta não é de partidos. É da sociedade, do país. Muita gente do PT diz que o voto (para Dilma) foi legítimo. Ele não fica legítimo a partir do momento em que foi financiado com dinheiro ilícito. A delação premiada foi uma das coisas mais fantásticas que aconteceram na política do Brasil. Deu espaço para as pessoas falarem. Espero que o Brasil sobreviva a essa transição. E que a gente possa continuar a história do país sem essa corja de bandidos.

Você e o Derrick Green, vocalista do Sepultura, têm relação com a Non-Violence, ONG que promove a paz e que tem como símbolo uma arma atada. Qual é a sua opinião sobre a restrição de armas?
É mais o Derrick. Ele é embaixador, participa mais das ações. Eu morei no Estado do Arizona, e lá a galera anda armada e mostra que está armada. É cultura. Faroeste. E a lei é assim: se você está armado, tem de mostrar que está armado. E eles sabem lidar com isso. O americano ama arma. Acho que é um direito andar armado. Você tem de dar condições para a pessoa utilizar certas coisas. Por que você não dá um carro na mão de um moleque de 10 anos? Porque ele não está pronto. Ele tem que ter no mínimo o porte físico pra alcançar o pedal, ter noções de trânsito. O carro é uma arma também. E você vai tirar o carro de circulação? Não pode. Você tem de ter responsabilidade, informação e saber o poder que tem na mão. E saber quando usar. Ou nunca usar. Tem pessoas que realmente não podem andar armadas. Acho válidas as campanhas de destruir armas que estão aí à deriva. Mas proibir é muito radical. Arma no Brasil é coisa de bandido. A galera fala: "Vamos desarmar os bandidos". Você não vai mudar um bandido por causa da arma. Ele pode pegar uma caneta, enfiar no seu pescoço e pronto. É a atitude do cara.
Qual foi sua reação quando ocorreu o atentado terrorista do Estado Islâmico em Paris, no show do Eagles of Death Metal?
Fiquei chocado com a proximidade. Toquei naquele lugar duas vezes. O Bataclan é uma casa de show que está no circuito das bandas. Você fica mais sensível, sabe que poderia estar lá, poderia ser num show do Sepultura. O que me estarrece é a facilidade com que esses caras chegam completamente armados e fazem o que fazem, ninguém pega ninguém. Aliás, dizem que pegam, mas é tudo muito obscuro e confuso. O terrorismo é feito para isso, para ter esse impacto de que pode ocorrer em qualquer lugar e a qualquer hora. Você pode se preparar ao máximo possível, mas sempre tem algo acontecendo.