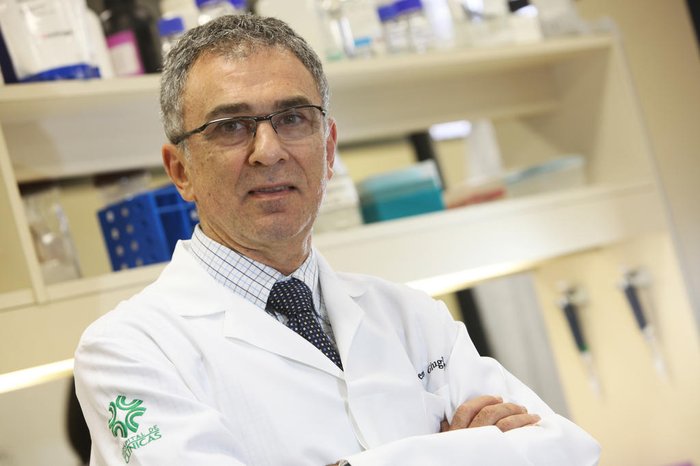
Quando Roberto Giugliani era um jovem estudante de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na década de 1970, as doenças raras eram tratadas como curiosidades médicas. Era mais comum que os pacientes acometidos por essas enfermidades, a maioria decorrente de fatores genéticos, fossem encaminhados a pesquisadores do que de fato tratados por um médico. Foi assim que Giugliani se interessou por essa especialidade e tornou-se referência nacional. Fundou, em 1982, a Unidade de Genética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), onde ainda atua, e em 1989 tornou-se professor titular do Departamento de Genética da UFRGS, onde ainda leciona. Completando 50 anos empenhados na pesquisa das doenças raras, agora se dedica a um novo projeto: a Casa dos Raros, em Porto Alegre, que promete aliviar a jornada de pessoas que vivem em permanente angústia enquanto esperam a medicina desvendar sua doença.
O senhor tinha 20 anos quando começou a pesquisar as doenças raras na década de 1970. Como a medicina lidava com pacientes com esses tipos de enfermidades naquela época?
Nem existia o conceito de doenças raras. Eram exceções dentro da medicina, problemas que a gente identificava em pacientes, mas que ficavam fora das doenças normalmente estudadas. Essas enfermidades eram tratadas como curiosidades. Mas por trás dessas curiosidades havia famílias e pacientes. Os pacientes iam a consultas médicas, os médicos tentavam identificar o problema e nada era conhecido, então os pacientes acabavam direcionados a quem estava envolvido com pesquisas na medicina. Foi assim que me interessei por lidar com esses casos e ajudar essas famílias.
O senhor lembra de doenças que eram raras na época e hoje são mais conhecidas e paras as quais já há tratamento?
Lembro perfeitamente. Quando eu estudava Medicina na UFRGS, me interessava muito por genética. Ao ter aulas sobre DNA, RNA e todos esses temas da biologia molecular, procurei o professor Clóvis Wannmacher, do Departamento de Bioquímica, e disse a ele que queria trabalhar com isso. Ele me contou que trabalhava com pesquisas sobre doenças do metabolismo, que são condições raras, e me convidou para ser seu assistente. Juntos, conseguimos identificar algumas alterações chamadas mucopolissacaridoses. Era uma doença muito pouco conhecida, sendo que o diagnóstico era um enorme desafio e nem se cogitava tratamento. Fizemos o diagnóstico de crianças afetadas por essa doença, que causa o aumento do abdômen, alterações nos ossos e até deficiência intelectual. Pela primeira vez chegava-se ao diagnóstico dessa doença no Estado. Mas ainda não havia tratamento. Hoje, a maioria dessas doenças são tratáveis com vários métodos, e os diagnósticos avançaram muito.
O Ministério da Saúde estima que até 13 milhões de pessoas convivam com alguma doença rara no país. Como está, hoje, a forma de lidar com esses tipos de enfermidades?
O tema das doenças raras é novo em escala global. Todos os países enfrentam isso. O Brasil já define que doença rara é aquela que afeta não mais do que 65 pessoas a cada 100 mil, o que dá, mais ou menos, uma pessoa a cada 1,5 mil. Se a doença é mais frequente do que essa proporção, então não é rara. É o caso da Síndrome de Down, por exemplo, que acomete uma pessoa a cada 800. Fibrose cística afeta uma pessoa a cada 3,5 mil, por isso é uma doença rara. Há cerca de 9 mil doenças raras. Embora elas sejam individualmente pouco frequentes, quando se soma cada uma dessas enfermidades, chegamos a esses 13 milhões de brasileiros. Em dezembro de 2021, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou uma resolução recomendando que os países incluam as doenças raras em seus programas prioritários de saúde. A OMS deve emitir algumas normativas para que os ministérios da Saúde de cada país se adaptem e sigam algumas recomendações. É algo que está em evolução.
Que programas o Brasil tem para enfrentar as doenças raras?
O país tem alguns, como o Programa Nacional de Triagem Neonatal, o Teste do Pezinho, que permite identificar doenças raras logo no nascimento e, com isso, dar possibilidade de tratamento para essas doenças – uma mudança no que seria o quadro clínico dos pacientes. Esse programa começou em 2001, e no ano passado teve uma lei que o ampliou de maneira bastante robusta, só falta implementá-la. Também há uma ação do Ministério da Saúde que criou o Serviço de Referência em Doenças Raras, que está lá no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O Teste do Pezinho fica em outro departamento. Então há, no país, algumas ações na área de doenças raras, mas um pouco desconectadas. O que precisamos é de uma coordenadoria federal que centralize essas ações. É o mais importante agora.
Como é a saga, hoje, de um paciente com doença rara? Leva quanto tempo, em média, até conseguir um diagnóstico?
Ter o diagnóstico é um dos principais problemas, tanto que chamamos essa saga de “odisseia diagnóstica”. Fizemos estudos com esse grupo de doenças que mencionei, a das mucopolissacaridose, e, depois de entrevistar mais de cem famílias buscando entender a jornada dos pacientes desde o início dos sintomas até o diagnóstico, levava, em média, 4,8 anos para se ter um diagnóstico. É um dado consistente com o que se tem na literatura mundial. Alguns casos podem levar até 10 ou 15 anos; outros são mais rápidos. Esse tempo precisa ser encurtado. Ao longo da investigação que resulta no diagnóstico, quatro ou cinco anos após se iniciarem os sintomas, perde-se a janela de oportunidade de começar um tratamento bem sucedido. Esse é um dos principais desafios: encurtar a jornada do paciente, do início dos sintomas ao seu diagnóstico, que é a porta de entrada para o tratamento.
Há, no país, algumas ações na área de doenças raras, mas um pouco desconectadas. O que precisamos é de um órgão federal que centralize essas ações. é o mais importante neste momento.
O que tem gerado essa demora no diagnóstico? Há poucos especialistas em doenças raras?
Há poucos especialistas, poucos centros de referências em doenças raras... Mas eu diria que o sistema não é muito amigável. São pessoas que precisam de atendimento multidisciplinar, da opinião de vários especialistas, além da realização de exames específicos. Vou dar um exemplo: o paciente vai no posto de saúde e lá é levantada a suspeita de uma doença rara. Então o paciente é conduzido ao centro de referência em doenças raras – em Porto Alegre, temos um excelente centro, que está no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então ele entra na fila para uma consulta, que pode levar dois ou três anos. Hoje, há em torno de 3 mil pacientes nessa lista de espera no Rio Grande do Sul. O especialista dos serviços de doenças raras, geralmente um médico geneticista, avalia o paciente e diz que precisa da opinião de um neurologista. Aí leva mais quatro ou cinco meses para conseguir essa consulta. E o neurologista diz que precisa investigar melhor e que, para isso, precisa de uma ressonância magnética. Então vai mais dois anos para conseguir a ressonância. O sistema não é amigável. O mais crítico é perder o momento para entrar com um tratamento que mude o curso da doença. É aí que temos de concentrar os esforços.
Não existe tratamento para 95% das doenças raras, segundo o Ministério da Saúde, restando somente os cuidados paliativos. Ou seja, depois de uma angústia enorme para saber o tipo de doença que o paciente tem, ele ainda fica sabendo que pode não ter tratamento, certo?
Sim e não. Nós não tratamos doenças; tratamos pacientes. E para todo paciente existe algo que se possa fazer. Embora só haja tratamento específico para 5% das doenças raras, que é dar a enzima que falta, mexer no gene que não está funcionando bem, alterar coisas do metabolismo, para as outras 95% também há algo que se possa fazer, como um manejo de dieta, um cuidado psicológico, uma intervenção com fisioterapia. Falar para a família “seu filho tem essa doença e, embora não tenhamos um tratamento, vamos dar conforto para ele” já modifica a situação. Eu diria assim: apenas 5% das doenças raras têm tratamento específico, mas 100% terão algo que possamos oferecer em termos de cuidado e conforto. Em mais de 40 anos lidando com pacientes de doenças raras, vejo o quanto eles saem melhores quando finalmente têm o diagnóstico e uma definição da situação como um todo.
É possível que esse percentual de pacientes sem tratamento específico seja reduzido no futuro? Do que isso depende?
Quando comecei a pesquisar doenças raras, em 1972, o índice de enfermidades tratáveis era quase zero. Até pouco tempo atrás, era 1%. Agora está avançando em ritmo exponencial em função dos avanços da genética, o que é uma conquista do século 21 que está modificando as perspectivas de tratamento. O projeto Genoma Humano foi concluído em 2003 e, partir daí, houve avanços extraordinários, com terapias inovadoras para muitas doenças. Se levamos 50 anos para ir de zero a 5% de doenças tratáveis, levaremos menos tempo para ir de 5% a 30% de doenças tratáveis.
A vida do paciente com doença rara parece ser muito solitária, afinal, são poucos os que compartilham do mesmo diagnóstico. Existe apoio para essas pessoas?
É um caminho difícil, sobretudo enquanto a pessoa transita de modo errático em busca de respostas, de diagnóstico e tratamento. As associações de pacientes acabam sendo fundamentais para ajudar a pessoa nessa jornada. Se o paciente sabe que outra família também tem o mesmo diagnóstico, um acaba amparando o outro, e isso é muito importante. Também acabam se amparando de forma material, auxiliando com viagens até o centro de referência, estadia, essas coisas.
A terapia gênica consegue corrigir os genes responsáveis pela doença rara e eliminar a patologia. Está correto?
Se o paciente tem um gene que não está funcionando bem, não vamos mexer naquele gene diretamente, mas transferir um gene que funciona bem. Fazemos isso por meio de algumas estratégias, geralmente utilizando um vírus que carrega para o indivíduo o gene normal e lá esse gene começa a funcionar e a produzir proteína que corrige o problema do paciente. Isso é algo que está em andamento e disponível. Inclusive no Brasil, há terapias gênicas aprovadas pela Anvisa. O mais custoso da terapia gênica é o processo de desenvolvimento. Custa muito fazer uma pesquisa que consiga validar a terapia gênica para que possa ser aplicada em paciente. Quando é aprovada, temos um número pequeno de pacientes em quem aplicar a terapia. Então o custo de desenvolvimento do produto é repartido entre poucos pacientes, o que resulta em um valor muito alto. No SUS, ainda não há terapia gênica incorporada.
Tratamentos para pessoas com doenças raras acabam sendo muito custosos, é isso?
O problema das doenças raras é que é muito custoso desenvolver um tratamento. São inúmeros testes e ensaios, temos que fazer protocolos de testar pacientes por muitos anos até conseguir chegar a uma medicação que seja aprovada. A empresa que desenvolveu a terapia investiu bilhões de dólares durante anos e chega a um tratamento em que 50 pessoas podem se beneficiar. Então todo o reembolso do investimento é dividido entre poucos pacientes. Precisamos encontrar um jeito de lidar com isso.
O senhor tem um estudo que avalia o impacto das doenças raras no SUS. Pode explicar um pouco?
Estamos envolvidos em vários projetos relacionados às doenças raras e como acabam impactando o sistema de saúde. Basicamente, queremos mostrar que o paciente, se não é tratado, tem um custo grande para o Sistema Único de Saúde, porque acaba fazendo internações, ressonâncias, cirurgias, transplantes, entre outros procedimentos de alto custo, que poderiam ser evitados se ele tivesse um tratamento específico. Queremos avaliar qual é o custo quando o paciente não é tratado. Quem promove essa pesquisa é uma associação de pacientes chamada Casa Hunter, de São Paulo, com apoio do Instituto Genética para Todos, de Porto Alegre, uma ONG que pretende aumentar o acesso de pacientes a diagnósticos e tratamentos de doenças genéticas raras, além da Casa dos Raros, do qual sou cofundador e que será inaugurada em breve na Capital.
Talvez o grande gargalo no Brasil seja a educação, especialmente a educação básica. Teríamos de investir muito mais, para que as crianças cheguem à universidade com boas bases para alavancar este país.
Como vai funcionar a Casa dos Raros? A quem se destina?
Há 40 anos, tive a oportunidade de começar a atuar no Serviço de Genética Médica do HCPA, que se tornou referência nacional e internacional. Com o tempo, começamos a nos dar conta de que tínhamos dificuldade em receber pacientes, então precisávamos fazer alguma coisa que melhorasse o acesso. Assim criamos o Instituto Genética para Todos. Ao mesmo tempo, em São Paulo, a Casa Hunter estava se dedicando a fazer mutirões de genética, com uma equipe multidisciplinar indo ao hospital. A Casa Hunter e o Instituto Genética para Todos decidiram fazer algo em conjunto, que é o projeto Casa dos Raros. O objetivo é encurtar a jornada do paciente desde o início dos sintomas até seu diagnóstico. Nossa proposta é que o paciente que está na fila para ser atendido seja convidado para uma consulta na Casa dos Raros, onde fará uma avaliação por telemedicina que vai indicar que tipo de especialista ele precisa. Vamos marcar um dia para ele ter essa avaliação, mas já com todos os especialistas de que ele precisar, além dos exames. Tudo feito em prazo relativamente curto. Também teremos um treinamento de equipes em saúde para as doenças raras. Periodicamente, algo em torno de seis meses, o paciente voltará para sabermos se o plano está sendo bem executado. Começamos a construir a unidade piloto da Casa dos Raros em 2020, no bairro Santa Cecília, e haverá uma pré-inauguração no dia 30 de novembro para apresentarmos as instalações, com inauguração oficial em 28 fevereiro de 2023, com previsão de abrirmos em março do próximo ano. Acreditamos muito no projeto e temos uma equipe altamente engajada.
Houve recursos públicos para a construção da Casa dos Raros?
Para a construção, ainda não, mas para o funcionamento será fundamental que a gente faça acordos com o SUS, os gestores da saúde da pública, porque queremos que a Casa dos Raros atenda a qualquer pessoa que necessitar. Seja um dependente do SUS, seja alguém com convênio, seja particular. O tratamento terá o mesmo padrão para todos. Vamos buscar recursos do SUS, das operadoras de saúde e da comunidade. Um projeto assim, para ser bem sucedido, precisa do apoio de todos.
A Rede Gaúcha de Genômica Aplicada à Saúde, do qual o senhor é coordenador, foi um dos projetos contemplados neste ano pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado (Fapergs) com R$ 3 milhões pelo período de quatro anos. Como essa rede vai funcionar e como pode colocar o Estado em destaque na área das doenças raras?
É um projeto ousado. Não estamos criando nenhum laboratório novo, mas integrando vários laboratórios existentes em Porto Alegre, Eldorado, Pelotas, Uruguaiana e Rio Grande. Cada um desenvolve aquilo que domina mais – alguns trabalham com modelos animais, outros, com células, outros, com pacientes. Se tem um projeto que precisa de um teste em células, mando para a PUCRS. Depois, se esse teste precisa ser continuado em pacientes, vai para o HCPA. São oito ou nove unidades envolvidas, só laboratórios que já executam projetos na área genômica.
Uma pessoa diagnosticada com doença rara encontra tratamento no Rio Grande do Sul ou precisa ir para centros como São Paulo e Rio de janeiro?
O Rio Grande do Sul é referência. Temos capacidade de fornecer qualquer tratamento, seja transplante, seja terapia gênica. Pacientes de outros Estados vêm para cá. Hoje, no HCPA, temos como paciente uma criança do Piauí que veio fazer terapia conosco.
Como estudante de escola pública, professor de universidade pública e pesquisador do CNPq, de que forma o senhor avalia os cortes em pesquisa e educação feitos no Brasil pelo atual governo?
Estudei em escolas públicas excelentes, como o Instituto de Educação e o Colégio de Aplicação da UFRGS, em Porto Alegre, e fiz pós-graduação na USP de Ribeirão Preto. Sempre tive essa oportunidade, e se conseguíssemos dar a mesma oportunidade para os brasileiros, o retorno seria fantástico. Realmente, houve diminuição no aporte de recursos para o ensino público. Talvez o grande gargalo no Brasil seja a questão da educação, especialmente a educação básica. Teríamos de investir muito mais. Precisamos priorizar a educação para que as crianças cheguem à universidade com boas bases para alavancar esse país. Vejo esses cortes com muita preocupação, algo que ficou marcado nos últimos seis anos. Temos não só de reverter os cortes nas universidades públicas, mas fazer muito mais, investindo em Ensino Básico e Médio. Todos os países que investiram em educação tiveram recompensas – veja a Coreia do Sul, a China, o Japão.








