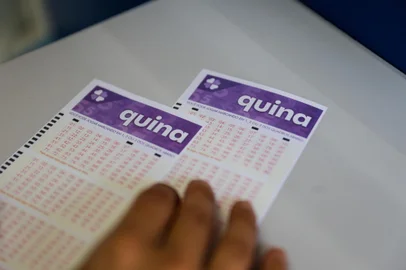A viagem que abriu as portas do Rio Grande do Sul para o mundo está prestes a completar 200 anos. Foi em junho de 1820 que Auguste de Saint-Hilaire (1779–1853) chegou a Torres para a última fase de uma epopeia que durou seis anos. Depois de percorrer diferentes regiões do Brasil, o naturalista francês viajou pelo Estado anotando observações sobre a fauna, a flora e a geografia dos lugares por onde passava.
Era um momento em que a Coroa Portuguesa tinha interesse não apenas em apresentar o Brasil para outras nações, mas também levantar dados para explorar vastos territórios praticamente intocados da colônia. Por conta disso, o botânico foi um dos primeiros a viajar por cidades e campos com liberdade, munido de cartas de recomendação. Atualmente, o relato deixado por Saint-Hilaire sobre Província de São Pedro do Rio Grande do Sul é o texto mais conhecido de viajantes do século 19 sobre a região. Dois séculos depois, seus cadernos guardam um testemunho importante sobre a paisagem do Estado à época, mas também geram estranhamento quando tratam do povo e dos costumes dos gaúchos. Vários comentários sobre mulheres, indígenas, negros e homens do campo, se fossem disparados hoje por algum incauto nas redes sociais, seriam motivo de polêmica e de cancelamento digital.
– Saint-Hilaire era um católico europeu tradicional. Para ele, a igreja era o mecanismo mais eficiente de fazer aprimoramento moral na América. Ele ficou escandalizado com certos comportamentos que presenciou. Não podemos nos esquecer de que, nessa época, não havia separação entre igreja e Estado, apesar de algumas mudanças em relação a isso já terem ocorrido no início do século 19 – explica o historiador Luiz Francisco Albuquerque de Miranda.
Ao longo da leitura de Viagem ao Rio Grande do Sul, é possível perceber inúmeras referências a membros da elite local, que recebem o francês com distinção e pompa.
– Ele não foi um aventureiro. Foi alguém que viajou com cartas oficiais. As elites locais o encaravam quase como uma oportunidade de serem ouvidas pelo poder oficial. Foi por meio dessas conversas, e não apenas da observação, que o francês consolida muitas das opiniões que deixou anotadas – avalia Miranda.
Além das elites, poucos personagens ganham voz no texto de Saint-Hilaire. A seguir, GaúchaZH buscou ouvir grupos sociais que o botânico apenas observou à distância e saber como se relacionam com o passado descrito pelo naturalista.
A dança dos escravos
Saint-Hilaire chegou ao Rio Grande de Sul depois de passar por territórios que hoje formam Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, São Paulo, Santa Catarina. O francês visitou Torres, depois Viamão e Porto Alegre, seguindo rumo ao Uruguai pelo litoral, permanecendo também alguns dias em Rio Grande e Pelotas (então chamada de Freguesia de São Francisco). Depois de Montevidéu, voltou ao Estado, indo pela Fronteira Oeste até as Missões, para então regressar ao Litoral e voltar para a França. Todo esse trajeto foi percorrido em lombo de cavalo ou burro, tomando cerca de um ano.
Pouco mais de um mês após chegar à Província de São Pedro, o viajante anotou em seu diário que os escravos eram tratados com brandura na região. “Os habitantes do Rio de Janeiro (...) quando querem intimidar um negro, ameaçam-no de enviá-lo para o Rio Grande. Entretanto não há talvez, no Brasil, lugar algum onde os escravos sejam mais felizes do que nesta capitania”, escreveu em 31 de julho de 1820. Segundo o viajante, “o escravo come carne à vontade; não veste mal; não anda a pé; sua principal ocupação consiste em galopar pelos campos, o que constitui exercício mais saudável do que fatigante”.
Ao chegar às charqueadas, em Pelotas, a opinião de botânico mudou radicalmente. Hospedado na propriedade do charqueador Antônio José Gonçalves Chaves, o viajante presencia cenas marcantes de crueldade com os escravos. Um personagem em particular foi descrito com mais atenção por Saint-Hilaire. Trata-se de um jovem utilizado em demandas da casa, que era martirizado pelos filhos do patrão, dormia de joelhos e jamais sorria. “Não conheço criatura mais infeliz do que essa criança”, apiedava-se o francês.
Apesar da compaixão que demonstra pelo menino que descreve, o naturalista também tece juízos de diferenciação entre raças, geralmente desabonadores para os descendentes de africanos: “Os negros são por sua natureza pouco ativos; quando livres, geralmente não trabalham senão o estritamente necessário para não morrerem de fome; quando obrigados pelo temor, trabalham mal e com excessiva lentidão”, escreveu.
– Há uma ambiguidade no texto de Saint-Hilaire sobre a escravidão. A maior parte dos filantropos do século 19 era contra a escravidão. Por outro lado, talvez Saint-Hilaire a avaliasse como um mal necessário na América portuguesa da época, pois não seria possível acabar com ela do dia para a noite sem acarretar consequências econômicas graves. Esse possivelmente era também o argumento das elites locais – opina Miranda.
Atualmente, a propriedade em que Saint-Hilaire presenciou o sofrimento do jovem negro é conhecida como Charqueada São João. Reconhecida como Patrimônio Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), foi convertida em um espaço turístico, com opções de passeios e gastronomia.
Desde 2018, o bailarino Daniel Amaro e sua companhia de dança encenam no local o espetáculo Dança dos Orixás, em que sete dançarinos e uma atriz apresentam a história da charqueada e celebram a tradição negra cantando e dançando em frente à antiga senzala. A ideia é se apropriar do espaço, que antigamente era palco de maus tratos, para subvertê-lo a favor da cultura dos orixás.
– Nós não podemos nos esquecer do nosso passado. Ao contrário, precisamos ocupar e ressignificar pontos que fazem parte da nossa história – afirma Daniel Amaro.
A próxima edição da Dança dos Orixás está marcada para 30 de maio.
O desembaraço das mulheres

Em Rio Grande, diferentes comunidades quilombolas lutam para manter sua cultura e alcançar autonomia financeira. É uma realidade impensada para a época em que Saint-Hilaire viveu. Mais surpreendente para o viajante seria visitar a comunidade Macanudos, onde a liderança é estabelecida atualmente por duas mulheres, Cláudia Mara Amaral da Silveira e Charlene da Costa Bandeira.
Nos relatos do viajante francês, ele lamentava a falta de “escolas e pensionatos para moças” no Brasil, embora comentando que no Rio Grande do Sul as mulheres eram mais desembaraçadas: “Conversam um pouco mais, porém, ainda estão a uma infinita distância das mulheres europeias”, anotou.
Cláudia e Charlene são colegas de universidade. Ambas cursam Psicologia na Universidade Federal do Rio Grande (Furg).
– Talvez hoje a gente não diga que as pessoas são escravizadas, mas na minha comunidade, por exemplo, algumas pessoas há pouco tempo trabalhavam na agricultura para outras sem qualquer documentação. Isso é uma forma de trabalho escravo. Mas, ao mesmo tempo em que a forma de exploração se refaz, a forma de resistência também se refaz. A universidade ainda é um espaço de poucas pessoas negras, mas algumas delas entendem a importância de estar lá e, além de mudar o cenário visual da universidade, mudam a forma de gerar e de se apropriar do conhecimento – avalia Charlene.

Fora da universidade, as duas colegas militam pela formalização de uma sede da comunidade Macanudos, condição essencial para acessar politicas públicas voltadas para quilombolas. Com o tempo, elas pretendem estabelecer uma cooperativa para que os trabalhadores locais tenham mais autonomia ao negociar os resultados de seu trabalho na agricultura e na pesca.
– Se nós, negros, não estivermos lutando, não somos reconhecidos. Procuramos manter nosso espaço e trabalharmos para a gente, não apenas trabalhar para o branco – afirma Cláudia Mara, que trabalha no campo e também pesca na safra do camarão.
O choque dos indígenas

Como a maior parte dos europeus do século 19, Saint-Hilaire não cogitava um futuro para os indígenas fora da civilização estabelecida pelo branco. No litoral gaúcho, o francês cruzou por um grupo de índios capturados nas Missões Jesuíticas, que estava sendo levado para estabelecer uma aldeia em Torres. A esperança é que a comunidade “esqueça” suas origens e adote o modo de vida de um “cidadão”: “O Brasil precisa de braços, e é melhor para o Estado que seja povoado de índios do que por ninguém. Esses que foram mandados para Torres não poderão mais ser nocivos. Mas, levando consigo suas mulheres, terão depressa esquecido seu país e tornar-se-ão, ao cabo de pouco tempo, cidadãos desta província, tanto quanto os índios podem sê-lo de uma província qualquer”, escreveu.
Ao contrário do que propõe Saint-Hilaire, muitos indígenas hoje lutam para manter seu modo de vida. É o caso do cacique mbya-guarani André Benites, que liderou o movimento para a fundação da aldeia Retomada Yvyrupa, em Maquiné, nas proximidades de onde, no passado, Saint-Hilaire cruzou com os indígenas recolhidos das Missões. Trata-se de uma das maiores aldeias em extensão do Rio Grande do Sul, com 367 hectares, cobertos em quase toda a totalidade com mata atlântica nativa. No local, vivem atualmente cerca de 70 descendentes mbya-guarani – o número exato de pessoas não pode ser determinado com facilidade, já que um dos princípios da vida dos guaranis é estar em movimento, não fixando residência em um único ponto.
– Muitas vezes o não indígena nos questiona porque estamos indo para a cidade. A gente vê ao contrário. É a cidade que está indo para a aldeia. Não há mais espaço para se deslocar. As cidades vão crescendo, e não há mais espaços vazios para o indígena estabelecer aldeia – lamento o cacique.
Em alguns momentos, Saint-Hilaire demonstra maior apreço pelos guarani, em comparação com outras famílias indígenas: “Distinguem-se, sobretudo, por sua humildade, obediência e prestimosidade, o que faz, em geral, serem muito estimados como peões”, anotou. Porém, diante dos charruas, afirma que “os índios são em geral os homens mais frios e mais indiferentes que existem no mundo. (…) Os negros, tão distanciados de nós, são contudo superiores aos índios”.
O historiador Luiz Francisco Albuquerque de Miranda pondera que, apesar de ser inaceitável em dias atuais, a opinião de Saint-Hilaire a respeito dos indígenas pode ser considerada avançada em comparação aos planos de muitas elites locais sobre povos originários:
– O contexto da época era muito complicado em relação à politica indigenista. Os índios ficaram ao sabor das elites locais. E a lógica das elites de muitas regiões brasileiras era de extermínio. Personagens como Saint-Hilaire, que eu chamaria de filantropos, tinham um discurso de integração do índio. É claro que nós, depois de toda antropologia do século 20, podemos perceber que o discurso de Saint-Hilaire é preconceituoso e eurocêntrico. Mas, para os padrões do início do século 19, é um discurso humanista, pois o contraponto é um discurso de extermínio.

A poética dos camponeses
O personagem que se convencionou chamar de gaucho, homem livre que percorre o pampa a cavalo, é constantemente alvo de críticas de Saint-Hilaire. Cientista herdeiro da tradição iluminista, o francês considerava a vida pastoril como primitiva, apontando a agricultura como ideal para o avanço de um modo de vida civilizado.
“As magníficas pastagens que cobrem a Capitania do Rio Grande e de Montevidéu convidavam naturalmente os primeiros povoadores à criação de gado, mas concorreram para um retrocesso, obrigando-os a deixar os costumes da vida agrícola pelos da vida pastoril, e esta volta à barbárie acentuou-se muito mais nos espanhóis que chegam a se confundir com os índios”, escreveu o francês.
– Não é absurdo pensar que Saint-Hilaire esteja orientado pela teoria dos quatro estágios de desenvolvimento humano formulada por ilustrados escoceses na segunda metade do século 18. Para eles, a evolução da espécie seguiria a seguinte sequência: caça e coleta, pastoreio, agricultura e comércio. Certamente, por uma série de fatores, como vida sedentária e aumento da produção, a vida dos agricultores regulares era considerada superior à dos pastores – explica o historiador Luiz Francisco Miranda.

Apesar de a pecuária ter se agregado ao longo do tempo ao modo de produção capitalista, muitos gaúchos mantêm aspectos da tradição de séculos passados. É o caso de Chico Bastos, de Uruguaiana, que dedica a vida à criação de gado e ao cavalo crioulo.
– Sou tão primitivo para algumas coisas que, na minha casa, é inadmissível um gaúcho usar boné. Eu e toda nossa família conservamos nossa cultura, o chapéu, a boina, a rédea de couro. Tentamos ao máximo manter nossa tradição e cultura – afirma Chico.
Por ocasião de seu aniversário, Chico promove todo ano uma grande festa com centenas de convidados do Uruguai, da Argentina e de diferentes Estados do Brasil. Atividades com laço e cavalo se mesclam a tertúlias e a uma missa campeira na Festa dos Hermãos. É um modo de celebrar o modo de vida das estâncias do passado.
– Os campos diminuíram, as pessoas têm celular, carro… Antigamente, as pessoas passavam 30 dias em uma estância sem ir para a cidade. Tudo mudou. E vai continuar mudando – avalia Chico Bastos.
Manoel Luiz Gomes de Almeida, o Maneca, é um dos participantes assíduos da Festa dos Hermãos. De origem humilde, trabalha como peão em uma cabanha de Palmares do Sul, outra localidade que chamou atenção de Saint-Hilaire por conta de suas boas pastagens. Para ele, a lida com os cavalos ou com o gado não tem nada de bárbara. Ao contrário, é um convite para a poesia:
– Quando ouço um poema do Jayme Caetano Braun, me enxergo naquele cenário, me envolvo com aquela dialética que ele consegue expressar através do verso. Eu me sinto naquele mesmo mundo. É o que me motiva a seguir adiante.