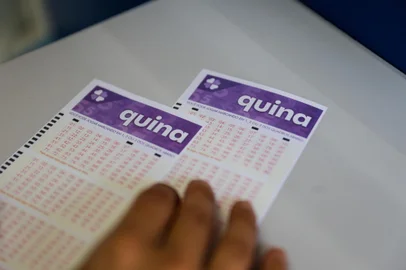Por Ronald Augusto
Poeta, letrista e ensaísta, formado em Filosofia e autor de, entre outros, “Nem Raro nem Claro” (2015)
No início de novembro, postei em minha página do Facebook o seguinte comentário: estamos no mês em que o Brasil finge dar atenção aos desejos e lutas de sua população negra. O sentido da ironia não visava deprimir o ânimo de uns, nem desprezar a empatia de outros em relação ao combate que deve ser movido contra o racismo institucional e individual. Pelo contrário, o interesse era afirmar que devemos pensar a mobilização antirracista como um imperativo moral ao problema estruturante de nossa formação e não apenas registrar uma efeméride sentimental por meio da qual se tenta purgar o trauma racial em que brancos e negros estão implicados, estes como vítimas, aqueles como patrocinadores (indiferentes ou não) do racismo que é inseparável dos privilégios de que gozam.
Para nós, que enfrentamos e pensamos essa ideologia sem descanso ao longo do ano fiscal, a questão mais complicada é deparar com a negação da violência, não obstante pesquisas que comprovam o desemprego, a pobreza e o genocídio que atingem preferencialmente os negros. Entretanto, é surpreendente como no mês de novembro o sentimento das pessoas parece ser o de negar a negação da ideologia do racismo. Há tantas manifestações de solidariedade e de assentimento à luta dos negros por respeito e estima que a sensação que se tem é de que nos evadimos do Brasil por alguns dias. O novembro é preto.
A noção de intervalo organiza nossa disposição para a tolerância ou para a intolerância. Duas situações. No intervalo dos dias de Carnaval, toleramos, por exemplo, o preconceito recreativo e o racismo risonho contra gays e negros. O desrespeito social assume a forma divertida das marchinhas carnavalescas reacionárias e reitera a instituição do blackface (o cosplay de crioulo, crioula) a pretexto de homenagem aos não brancos. Findo o Carnaval, todos voltariam à cordial civilidade.
A segunda situação de intervalo, isto é, de uma zona de escape onde supostamente não precisamos responder por nossos atos e discursos ofensivos, diz respeito aos 90 minutos de uma partida de futebol. Há quem justifique os ditos e as agressões racistas dentro dos estádios por meio do conceito: cultura do futebol. Essa cultura abrigaria uma moral toda particular que isentaria os envolvidos de prestar contas de seus desacatos para além dos limites do estádio. Graças a esse guarda-chuva de leniência seria possível justificar um amplo conjunto de agressões e imposturas. Dentro dos estádios estaríamos autorizados, em nome da natureza das coisas futebolísticas, a praticar toda espécie de barbárie. Por fim, fora do intervalo de 90 minutos do ludopédio, voltaríamos a ser democratas.
À diferença desses dois modos de intervalo que suportam formas de intolerância, o Dia da Consciência Negra começa a se constituir como um intervalo onde somos incitados, ainda que temporariamente, a exercitar agora o respeito e a empatia relativamente à história e à luta dos negros. Mas antes e depois de novembro a história é bem outra. Festejamos um mês de representatividade preta e de negritude. Dissimulamos 11 meses de consciência humana, isto é, de branquitude autocentrada, orgulhosa e ignorante de suas vantagens.
Uma vez que no Brasil a necropolítica e a caridade andam de braços dados; que casos de racismo entram no conjunto de situações que apenas geram polêmica; e que muitos supõem que é melhor perdoar as ofensas – já que as ofensas, ao menos aqui, não visam ofender – enfim, em vista disso, minha tendência é nutrir um forte pessimismo em relação ao drama racial. E, mesmo reconhecendo a relevância do dia que evoca a memória de Zumbi, não me sinto à vontade nem entusiasmado com o mês temático.
Antonio Callado disse certa vez que era de uma geração que, a propósito das questões cruciais do Brasil (desigualdades sociais e recuos políticos), lutou todas as lutas importantes de seu tempo, mas perdeu todas. Assim, em relação ao racismo e dentro dos meus modestos limites de intervenção, não me espanta que, aos 50 e tantos anos, eu comece a experimentar análoga sensação de derrota. Soa meio dramático, sim.
Por esse motivo não consigo esquecer que Kafka escreve, em algum lugar e frente à vertigem do pesadelo, que deve haver esperança, sim, mas não para nós. Acontece que, no pesadelo do qual não consigo escapar, esse nós não reúne a mínima cota que seja de brancos.