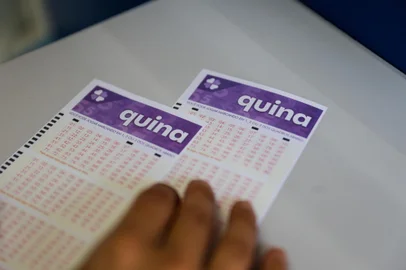Marcia Tiburi não escuta música. Considera jazz aceitável, mas abandonou o prazer musical de tanto estudar e elaborar análises em um projeto de produção filosófica iniciado há três décadas, ao cursar faculdade na PUCRS. A música, diz ela, perde o encanto quando nos damos conta de que o gosto, tido como natural, é produto do meio em que vivemos e do leque de ofertas filtradas e formatadas pelo mercado.
Marcia pensa e escreve com um olhar no cotidiano brasileiro. Estética, política, indústria cultural, classes sociais, tecnologia, feminismo, capitalismo, ética e democracia são temas de seus ensaios.
O mais recente, batizado de Ridículo Político (Record, 238 páginas, R$ 39,90), foi lançado em Porto Alegre no dia 3. Na mesma data, a autora – hoje doutora em filosofia, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) e moradora da capital fluminense – conversou com ZH.
Leia mais
Michel Laub: "A literatura ainda é o espaço da liberdade"
Gilles Lipovetsky: "As pessoas procuram uma forma de aliviar o peso da vida"
Abrão Slavutzky: "É preciso pensar labirinto"
Na entrevista (e também no livro), a pensadora nascida em Vacaria aponta como o ridículo passou a ser manipulado na política. Em uma época na qual aparecer a qualquer custo tornou-se regra, o ridículo virou estratégia eleitoral e tem ganho espaço em diferentes países, incluindo o Brasil. Marcia alerta para os riscos desse fenômeno.
Ridículo Político é, no fundo, uma dura crítica ao neoliberalismo, modelo que, para a autora, é o motor por trás de diversas distorções sociais. Filiada ao PSOL, ela não se imagina concorrendo a algum cargo eletivo. Prefere dedicar sua energia política ao PartidA, movimento que incentiva candidaturas feministas pelo país.
Há um grupo de intelectuais que faz sucesso fora da academia, usando linguajar mais simples nas reflexões. Ao mesmo tempo, são criticados por terem se tornado celebridades. Como você vê essa relação?
Como professora de Filosofia, minha obrigação é conversar com o maior número possível de pessoas. A colaboração que a filosofia pode dar à sociedade é a introdução do diálogo na esfera pública, e estamos mal pela ausência de diálogo. Desde a edição da medida provisória que desorganizou o Ensino Médio, passei a pedir que seja apresentada, em uma entrevista, por exemplo, como professora, e não como filósofa ou escritora. É uma atitude ética e política. Minha intenção é valorizar a educação e as pessoas que estão nas salas de aula. Os professores devem se propor ao diálogo público para que as pessoas possam melhorar sua compreensão sobre a sociedade. Além disso, há pesquisas essenciais que acabam ficando restritas à academia por falta de divulgação.
Você diz que vivemos em uma sociedade em que o objetivo é aparecer a qualquer preço. Ao mesmo tempo, a necessidade de reconhecimento parece fazer parte da condição humana e impulsiona as pessoas a buscarem atingir um marco naquilo que fazem, em campos como ciência, arte, esportes e negócios. Como delimitar a fronteira entre esses dois aspectos?
A fama é uma deturpação do reconhecimento. Na nossa época, a imagem, o lugar que se ocupa e a influência que se tem transformaram-se em uma espécie de capital, uma mercadoria. A fama é o reconhecimento rebaixado à mercadoria.
O reconhecimento é talvez a configuração ética e política mais básica da condição humana. A criança só se torna indivíduo da sociedade porque entra em um jogo de reconhecimento com a mãe e o pai. Também nos reconhecemos no rosto e no olhar do outro, como em um espelho. Há quem faça disso um capital político: o líder reconhecido pelo eleitor garante votos. O publicitário, o empresário e o vendedor precisam do reconhecimento do outro no mercado para garantir seu negócio. Há também o trabalhador que ocupa uma posição simples e vive na invisibilidade. O gari, a faxineira ou o porteiro só são reconhecidos quando estão de uniforme. O reconhecimento é fundamental, mas foi deturpado pela fama.
As redes sociais expandiram a busca pela fama?
O Facebook transformou o rosto de cada um em mercadoria. A rede social garante ao indivíduo um lugar na grande tela, que dispensa o olhar do outro. Não preciso que tu me olhes e me diga que sou um ser humano, porque esse grande atlas que é o Facebook já me dá essa garantia. Ainda que as pessoas precisem das curtidas, o risco é de que a gente tenha projetado na rede uma autorrealização que não existe no nosso sistema capitalista neoliberal. O reconhecimento que nos fazia humanos vinha de uma estrutura em que as relações humanas estavam em jogo. Hoje, temos relações supra-humanas, com tecnologias que nos robotizam, nos esvaziam e nos plastificam. Podemos até falar em pós-humanidade, que é a perda do lastro humano nas relações. As pessoas podem achar que isso é exagerado, mas corremos o risco de viver uma mutação que vai mudar o nosso ser e não apenas o nosso aparecer.
Por que as pessoas têm necessidade de ostentar seu gosto?
Há um patamar da disputa política que é a disputa do gosto. A luta de classes é também uma luta estética. Há uma separação nítida na cultura capitalista entre o gosto das classes favorecidas e o gosto das classes desfavorecidas. A nossa tendência, por acharmos que nosso gosto é natural, é acreditar que aquilo que é organizado, limpo, bem pintado e com fachadas brancas carrega também uma moral, uma ética e uma política ilibadas. Eu quis desmascarar esse fenômeno. Existe um sistema de poder atrelado ao gosto e que faz com que a gente controle a aparência, o aparecer e os espaços.
Na época dos rolezinhos, por que aquelas pessoas não poderiam entrar nos shoppings? Não podemos e não deveríamos julgar pela aparência o que a pessoa é do ponto de vista ético, econômico ou político.
Mas somos capturados pela ordem estética. Pensamos que nosso gosto é natural: se gosto de música clássica, posso ser um cidadão melhor do aquele que gosta de funk. Isso é uma ilusão. Se elaborarmos a relação entre estética e política, talvez possamos sair do cenário hipócrita no qual estamos.
Se o gosto é produzido, como podemos saber qual é, de fato, o nosso?
Um sujeito autônomo seria capaz de analisar todo tipo de gênero, do sertanejo ao dodecafônico, e acabaria tendo uma relação intelectual com a música, uma vez que a questão no campo da sensibilidade seria bem mais complicada de se resolver. A afetividade em relação à música se dá de um jeito imediato. Acabo gostando do tipo de música que aprendi, que faz parte do meu meio, que conheço e consigo compreender. Não somos nada livres em relação ao nosso gosto. E há quem faça gênero em relação ao gosto: finge gostar de algo, que é um jeito de causar efeito nos outros.
Como evitar isso?
As pessoas que têm mais reflexão sobre essa questão conseguem ser mais astuciosas em relação ao próprio gosto. No entanto, as pessoas deveriam se sentir tranquilas em relação ao que gostam, desde que saibam respeitar o gosto dos outros. O julgamento sempre implica um poder sobre o outro, um controle e uma tentativa de se capitalizar em cima da humilhação do gosto do outro. A gente coloca critérios éticos e moralistas sobre as produções artísticas, e isso traz interesses por trás, de manutenção de poderes, de classes e castas. Não recomendo a ninguém ficar como eu fiquei. De tanto analisar tudo isso, não escuto música nenhuma. Posso escutar para conhecer, mas não vou julgar. Fico procurando entender como aquilo foi produzido, seu contexto, mas não escuto. Soube que Mario Quintana também não gostava de música, então estou em boa companhia.
O escracho, o ato de fazer uma censura pública contra alguém, nasceu como uma forma de denunciar torturadores. Hoje, é visto em qualquer lugar – aviões, hospitais, restaurantes. Qual é sua visão sobre isso?
O que me preocupa é o estado da nossa mentalidade e subjetividade, que autoriza manifestações tão agressivas. Quando bem organizado, o escracho pode ser uma grande expressão artística e política contra certas figuras. Mas tem de ocorrer num contexto em que possa significar algo. Não pode ser a solução onde antes poderia haver diálogo e civilidade. No extremo, o escracho pode se tornar linchamento. O que está em jogo na nossa época é um tipo de subjetividade que se tornou vazia de reflexão e de sensibilidade e, ao mesmo tempo, prepotente, convicta de sua autoridade em relação ao outro. A eliminação da prática do respeito fala mais de nós do que se imagina. Essa agressividade do cotidiano se espelha no grande sistema do poder, no comportamento das instituições e dos meios de comunicação de massa, que transformaram a violência e a segurança em mercadoria. O cidadão fala uma asneira preconceituosa tremenda e acha que está abafando.
E faz isso por não ter nada melhor para dizer.

Segundo seu novo livro, quem domina o ridículo político pode se tornar até presidente. Como você analisa o fenômeno Donald Trump?
Trump é visto como simpático, engraçado, grotesco, bufão e palhaço e, nessa mistura, o cidadão comum se identifica com ele. Os intelectuais e a esquerda costumam negligenciar o caráter afetivo primitivo que a população tem em relação a determinados personagens. A direita não negligencia isso. Gosta-se demais do vilão da novela, por exemplo. Não é impossível que as pessoas gostem de um vilão também no teatro da política. Enquanto Trump estava falando asneiras, o grupo oposto não percebia o peso desse tipo de manifestação. Então, há duas questões: a identificação das pessoas com o personagem e a negligência de quem percebe o absurdo, mas não considera que seja potente como de fato é.
O Brasil está perto de algo assim?
As pessoas estão dizendo que não é preciso se preocupar com determinados personagens que aparecem nas pesquisas, como Jair Bolsonaro e João Doria. Não terão votos, não vão longe, muitos dizem. Com Trump, ocorreu a mesma coisa. O cidadão mais despreparado para a política ouve o discurso do líder despreparado e se identifica com esse despreparo. Quem sabe usar essa estratégia de produzir identificação conquista a fé do público.
O livro só aponta exemplos do ridículo em líderes da direita. Não há ridículo na esquerda?
O coreano Kim Jong-un e o venezuelano Nicolás Maduro são ridículos. Mas o populismo escancarado, da ignorância e da estupidez, é mais raro na esquerda por causa de seu pudor e de seus valores. Dificilmente vê-se alguém de esquerda fazendo um discurso mais preconceituoso.
Há mais cuidado.
Lula não era ridículo quando desvalorizava a educação do ponto de vista pessoal e ressaltava sua liderança política como um mérito, uma inteligência natural?
Lula é um populista, mas não ridículo. Usa a afetividade a seu favor, é algo autêntico. É um homem que saiu da fome e fala desse ponto de vista. Tem identificação com o povo. Lula é um caso a ser estudado, é um estadista como não se viu até aqui. O que mais o aproximou do ridículo político foi ter apertado a mão de Paulo Maluf.
Foi um momento pesado. Lula e Fernando Henrique Cardoso tiveram episódios de autoelogio que pegaram mal, mas pior foi Michel Temer se dizendo um vice decorativo.
Você diz que o combate à corrupção é usado no jogo político e que esse não é o maior problema do país. Qual seria?
Falta um projeto de país. O neoliberalismo é um problema muito maior, é uma forma corrupta do capitalismo. A guerra contra a corrupção faz parte do pacote neoliberal. Esse pacote é desumano, em termos de economia, cultura e política.
Não é possível implantar o neoliberalismo sem antes ter produzido uma ordem de ignorância, sem ter acabado com a educação, para que as pessoas jamais reflitam. O neoliberalismo é um tipo de governo do mercado que não é favorável às populações. A pessoa comum, que vive dos direitos básicos, não vai gostar dele. Quem gosta são os donos do poder.

Como escapar das armadilhas da política como publicidade e da força eleitoral que o ridículo político já demonstrou ter?
A publicidade define a estrutura da política quando a transforma em puro aparecer. Debater o ridículo político faz sentido porque não são os melhores que ganham a cena hoje. As pessoas estão votando no bufão. No Brasil, o caminho seria uma reforma política. Há uma discrepância fora do comum entre o desejo do cidadão e o que se faz com a instituição política. Seria importante devolver a política ao cidadão em um sistema em que a pluralidade seja respeitada. Não é possível pensar em um Congresso sem as populações negra, LGBT, indígena, quilombola e ribeirinha. Há um grande percentual de parlamentares que representam as grandes corporações, e a corrupção está na estrutura do sistema. Para pensar política, economia e sociedade, eu colocaria no vocabulário a palavra razoabilidade. Poderíamos ser mais razoáveis na construção de um projeto de país, integrando a nação e levando em conta as necessidades de todos os grupos.
Você elabora uma explicação poética para a pichação, mas como explicá-la ao cidadão comum?
Podemos nos questionar por que alguém escreve um romance de 500 páginas, um roteiro de cinema ou uma poesia, e também por que alguém picha. Ninguém está errado ao produzir sua linguagem, tudo é linguagem. A pichação é uma manifestação que transforma as superfícies da cidade em papel, e incomoda porque risca a fachada branca.
É como se riscasse o meu papel, a minha propriedade privada estética. O pichador está nos dizendo coisas sobre as quais talvez a gente não consiga parar para pensar. A pichação rompe com a estética burguesa porque não é bonita, é um ato contra essa estética. Quem convive melhor com a crítica convive melhor com a pichação, porque a entende como atitude crítica estética.
Só nos tornamos sujeitos do conhecimento quando gostamos do que não entendemos.
E o grafite?
O grafite é arte. É uma linguagem de mediação, o meio do caminho entre a pichação e a literatura. E Doria (João Doria, prefeito de São Paulo)fez esse absurdo de apagá-lo. O grafite também era insuportável para as pessoas, que depois começaram a gostar dele. São Paulo hoje é a capital mundial do grafite, há obras valiosíssimas nos muros da cidade. E o prefeito não sabe disso. É um bom exemplo do ridículo político. Foi legislar sobre estética na base da ignorância e apagou obras de arte históricas, que são referência no mundo inteiro.
Você explica os black blocs como uma violência menor em relação à violência do capitalismo. Para quem vê a política como uma construção universal, não se torna arriscado justificar uma forma de violência?
É arriscado, mas penso em formas de linguagem. Não consigo ter um olhar mais crítico em relação aos black blocs, porque acho que o sistema financeiro brasileiro quebra a vida de muita gente e o próprio país. A atitude black bloc é, como tática, respeitável. Mas representa apenas um efeito simbólico. No extremo, temos de aprofundar o desmantelamento do sistema capitalista, colaborar para que o sistema se modifique rumo a sua superação. Não sou a favor que se saia quebrando tudo, mas não sou a favor de dizer que quebrar tudo seja uma péssima ideia. Não podemos colocar a violência como plano de ação, mas, diante de tanta violência, a contraviolência é uma defesa, uma linguagem na esfera simbólica. Por outro lado, se há violência generalizada dos black blocs, não há mais sentido nessa tática.
O que é essa superação do capitalismo?
O neoliberalismo é o capitalismo como terror.
Se não podemos criar um tipo de economia política que se afaste da lógica do capital imperando sobre tudo e que produza uma sociedade e um estado de bem-estar social, não temos futuro. Precisamos de um sistema econômico e político que dê dignidade à nação. A cidadania corre risco com o fim dos direitos trabalhistas, que sempre foram um lastro para compreendermos o Brasil. O que nossos filhos terão desse país? Quem precisa cancelar os direitos trabalhistas é o capital internacional colonial que entrou em acordo com as oligarquias internas.
Não há projeto de país sustentável no neoliberalismo, e os empresários brasileiros deveriam se questionar sobre isso. O capital internacional tem interesse nas nossas empresas. Que brasileiro vai se dar bem com isso? O pobre, que depende da boa vontade política, está, de certo modo, morto. Não posso propor a revolução socialista, porque não sei se seria o melhor. Proponho a democracia radical: chamar vários grupos e pensar um projeto para o país, na base do diálogo, do acordo, até para superar as violências produzidas hoje. Sem um Brasil para todos, não há futuro para cada um.