
Não é homem, nem mulher.
É Laerte. Há seis anos, um dos mais respeitados quadrinistas do Brasil jogou fora todas as suas roupas masculinas e decidiu que, a partir de então, seria conhecido como uma quadrinista. Dias depois, em uma entrevista, assumiu publicamente o que já era sua realidade interna: a identidade feminina. De lá para cá, Laerte Coutinho passou a ser reconhecida não apenas por seu trabalho, mas também por seu modo de vestir e de agir, que desafia as classificações mais simplistas de gênero. Ela refuta a ideia de que a humanidade pode ser dividida entre homens e mulheres. A realidade, para ela, é bem mais diversa:
– Nem as genitálias são tão binárias assim!
Desde que assumiu publicamente a identidade transgênera, a cartunista tornou-se também uma voz requisitada no debate sobre sexualidade. E nunca fugiu da discussão. Ao contrário, sente-se à vontade para falar do tema e afirma que todas as dúvidas que lhe dirigem interessam. Quando esteve em Porto Alegre, no mês passado, para participar da 9ª FestiPoa Literária, o assunto tomou conta dos debates e das entrevistas que concedeu – inclusive desta que o leitor tem em mãos.
Por mais de uma hora, a quadrinista paulistana conversou sobre gêneros, violência contra a mulher e preconceito. Com 65 anos, também comparou o momento político atual com o vivido na ditadura militar – sob a qual começou sua carreira –, avaliou a situação do desenho gráfico no país e falou sobre que tipo de transformação o humor pode provocar.
O ministério de Michel Temer não tem mulheres no primeiro escalão, o que levantou debate sobre igualdade de gêneros. Como você avalia a qualidade dessas discussões no Brasil?
O debate de gênero é relativamente novo no Brasil porque é relativamente novo no mundo todo, mas a reação do conservadorismo brasileiro é particularmente virulenta, injusta e ignorante. O conservadorismo procura barrar a discussão de gênero propagando a ignorância, falando em conceitos errados, como "ideologia de gênero", que é algo que não existe. O que estamos querendo discutir é a opressão de gênero, a condição da mulher, as identidades transgêneros e outras questões que têm a ver com a saúde das pessoas, bem como com sua segurança e liberdade.
Leia mais:
>>> Seis mulheres refletem sobre a ausência feminina no primeiro escalão de Michel Temer
>>> Laerte Coutinho: "As pessoas devem poder viver a identidade que lhes parece mais cabível"
>>> Conceito de identidade de gênero enfrenta novas resistências
Você encara com pessimismo ou otimismo esse momento para o debate sobre gêneros?
Procuro não pensar em termos como otimismo e pessimismo, porque isso faz parecer que a gente está numa gincana interna, competindo para ver se o otimismo está ganhando, ou se o pessimismo está subindo. Tenho uma visão que é encarar com bons olhos o modo como as pessoas estão mais conscientes de seus direitos, como existe um empoderamento e uma organização maior das comunidades e das populações. Existe uma conscientização relativamente maior da população toda em relação a esses temas, compreendendo que não se trata de um nicho ou gueto, não é uma população especial dentro da sociedade. É um debate que diz respeito a todos. Nesse sentido, fico animada com pessoas, ONGs e partidos que estão se integrando nesse tipo de luta. Mas, ao mesmo tempo, é muito preocupante o modo como o conservadorismo vem também construindo barreiras a esses avanços. Há motivos de preocupação, mas também de empolgação.

Pessoalmente, como você se define quanto ao gênero?
Eu sei quem sou e como sou. A minha identidade de gênero, na qual eu venho prestando mais atenção, é feminina. Não sou uma mulher biológica, mas entendo o lugar social da mulher como algo construído culturalmente, e, dentro desse lugar, eu posso estar. Agora, não estou preocupada em ser uma mulher dentro do quadro do bigenerismo, que supõe você entender a humanidade em dois grandes blocos, homem e mulher, devido a suas genitálias. Nem as genitálias são tão binárias assim (risos). Então, entendo o gênero como um território de uma expressão muito rica. Dentro desse território, me entendo como alguém que está no campo feminino. É claro que essa é uma resposta muito comprida para uma pergunta simples. Mas tem que ver o que há por trás das perguntas também. Se a pessoa pergunta se sou uma mulher com ânimo de discutir o assunto a sério, vamos lá! Mas existe também um modo agressivo de fazer essa pergunta, que traz uma vontade de enquadrar quem é questionado.
No dia em que chegou a Porto Alegre, você participou de um debate sobre esse tema. Agora, começamos a entrevista por isso. Não teme se tornar uma espécie de embaixadora da transgeneridade, fazendo com que seu trabalho como quadrinista fique em segundo plano?
Não. Já tem pelo menos cinco anos que sou conhecida como transgênero e que isso é um tema que se impõe nas conversas e tudo mais. A minha exposição em mídia, por exemplo, é várias vezes maior destes cinco anos pra cá do que nos meus 40 anos anteriores de carreira. É assim porque esse é um tema que diz respeito a muita gente, e meu gesto foi compreendido como algo dentro desse contexto. E tudo isso é foco para minha atenção. Para mim, (assumir a transgeneridade) não é um gesto qualquer que eu fiz, é algo muito importante, diz respeito a algo interno meu que é forte, não é como pintar o cabelo ou mudar de óculos. É uma expressão complexa que eu me propus e que ao mesmo tempo está me satisfazendo muito. Não tenho vontade de mudar e, para continuar, também tenho intenção de entendê-la e refletir sobre ela o mais possível. Então, as inquietações das pessoas sobre o tema, o que elas procuram saber, também é algo que me interessa. Não acho que minha carreira está sendo deixada em segundo plano com isso.
Como esse processo começou?
No final de 2010 dei uma entrevista para a (revista) Bravo!, na qual abri publicamente (sua transgeneridade). A partir dali, não vi mais sentido em me exprimir em modo masculino, troquei tudo, me desfiz das minhas roupas masculinas. Teve várias fases, o momento inicial de estranhamento, muita gente ficou sem saber se era bizarrice passageira ou algo permanente. E eu mesma fui tomando consciência e procurando entender o que estava se passando. O modo como vejo hoje é o modo como me explico, como me apresento. Sou assim, não é algo de passagem para outra coisa. Pode até ser, porque a vida é muito fluida, mas é algo com que me identifico plenamente, e acho que isso tem sido entendido. O modo como exerço essa transgeneridade também é muito particular. Tenho preferência pelo tratamento no feminino, mas muitas das pessoas que me conhecem há 40 anos até hoje têm dificuldade de flexionar no feminino, mas não ligo muito para isso.
Você também manteve seu nome.
Minha entrada na transgeneridade foi por meio do BCC (Brasil Crossdresser Club). Frequentei por uns dois anos, de 2009 a 2010, mas a característica do BCC é a clandestinidade. Pouca gente ali tinha uma exposição de sua própria transgeneridade. Então, o crossdresser é uma pessoa que tem uma espécie de vida dupla. O modo como o as pessoas escolhiam nomes e construíam uma personagem feminina no BCC era duplo, para atender a um desejo de autoconstrução de fantasia e por uma questão de segurança. Fui Sônia por esse tempo todo, e, quando resolvi me tornar transgênera publicamente, pensei por algum tempo se mudava meu nome ou não. Resolvi não ser Sônia porque gosto de Laerte, assino meu trabalho com esse nome há mais de 40 anos. Além disso, o IBGE, na pesquisa Nomes do Brasil, divulgou que existem 264 mulheres chamadas Laerte (risos).
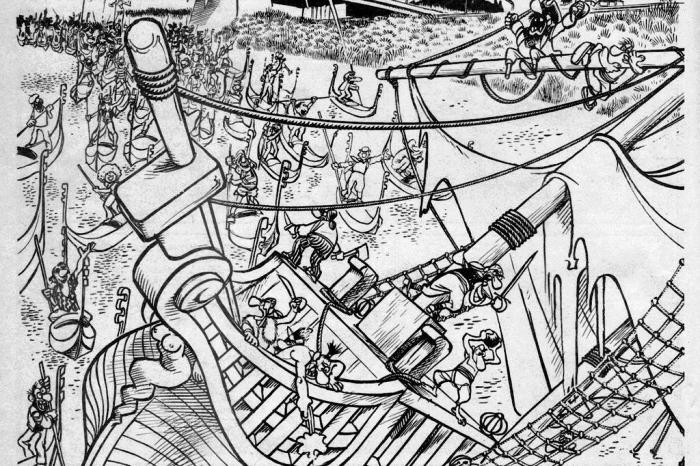
No meio dos quadrinhos, como foi a aceitação?
Tranquila. A relação com os colegas continuou parecida. Mas cartunistas, de um modo geral, tendem a representar travestis de forma cruel. Isso ainda é um problema, que aos poucos se resolverá. A travesti, para o cartunista, precisa parecer identificada claramente como um homem que se veste de mulher. Então, nesse sentido, a caricatura reforça os preconceitos que existem na população. Para aquilo ser algo engraçado, cartunizável, precisa ser reconhecido como tal. Na caricatura, (a transgeneridade) aparece como algo que não é normal, é visível, bizarra, fundamentalmente um desvio. Mas acho que aos poucos isso vai mudando.
Não só em relação a travestis. O humor feito sobre minorias é alvo de debate e críticas.
Acho que essa é uma das questões que o humorismo enfrenta hoje em todos os campos, não só em cartum, caricatura e charge, como também na comédia verbal, no texto de humor. O humorista precisa lidar hoje com uma situação em que setores da sociedade que recebiam discursos agressivos e ridicularizadores com muita passividade não estão mais passivos. Aquilo que o Renato Aragão falou, de que antigamente se falava de preto e de veado e não havia problema algum... Claro que havia! Tinha problema sim, mas naquela época as pessoas achavam que não podiam reagir. Hoje podem. Isso não é um problema. Isso é bom.
Você já atuava na imprensa nos anos de ditadura militar pós-1964. É possível comparar o momento de instabilidade política atual com o vivido naquela época?
É possível comparar porque é possível comparar qualquer coisa, mas são momentos muito díspares, diferentes. O golpe de 1964 e o golpe que está acontecendo agora ocorrem em dois países diferentes, quase. Em 1964, aconteceu com intervenção do exército, junto com parte da sociedade civil que estava interessada no golpe. Mas a sociedade brasileira na época tinha equipamentos de organização social mais ralos do que os que existem hoje. Hoje, estamos mais mais ricos em organizações e formas de expressão.
As instituições estão mais fortes?
Quando a gente fala que está mais organizada, corre o risco de achar que existem instituições poderosas que bloqueariam uma situação politicamente opressiva nos moldes de 1964. Não, as instituições não são poderosas. Esse tipo de mobilização é disseminada, mas não é tão organizada como poderia ser ou será algum dia. O que existe é rebuliço, grupos que não estão dispostos a abrir mão de direitos que foram conquistados, e sabem muito bem que direitos são esses. Isso torna as coisas muito diferentes.
Como encara a liberdade de imprensa hoje?
A ditadura de 1964 teve um primeiro momento em que, na imprensa, se desfrutava de relativa liberdade de expressão. A coisa fechou mesmo depois do AI-5. Hoje vive-se algo semelhante: existe relativa liberdade de expressão. Muitos órgãos de imprensa estão alinhados com esse golpe, aí é difícil se exprimir lá dentro, mas são casos raros. Na Folha, por exemplo, é possível uma expressão bem grande. Jamais fui censurada ou tive limite para publicar o que queria.

Por outro lado, você já afirmou que as capas do Charlie Hebdo não conseguiriam ser publicadas no Brasil.
Talvez eu tenha sido mal entendida ou talvez eu mesma não me entendi direito (risos). O que eu quis dizer é que o Charlie Hebdo é expressão de um contexto francês. A discussão sobre o Charlie foi importada para o Brasil sem nenhum olhar crítico, as pessoas olhavam e falavam "isso aqui é uma provocação". Mas você não sabe da situação na França, o que se passou naquele contexto social, o que estava em jogo. Assim, você corre o risco de emitir opiniões apressadas e superficiais. O caso mais claro disso foi o do menino sírio afogado, que apareceu numa charge como uma remissão aos ataques na Alemanha atribuídos somente à população de refugiados. Essa acusação em relação ao Charlie Hebdo é completamente leviana e tola, porque não leva em conta onde saiu aquela charge, publicada em uma coluna encharcada de ironia.
É um erro de julgamento?
Sim. Você não lê jornal, não sabe o que está acontecendo na Europa e na França e, ao ouvir um discurso irônico do outro lado Atlântico, passa a fazer um julgamento: "Ah, isso não pode". Como não pode? Fora que a discussão levantada no Brasil na época do atentado se deu em cima de questões morais em relação ao discurso humorístico, e de modo bem conservador. Você percebe o tamanho da confusão? O que está em conflito na França são questões sociais que a gente não tem alcance. Lá, a laicidade está sendo ameaçada por algo exterior ao corpo institucional. Aqui, os inimigos da laicidade estão no poder, fazendo discursos ridículos, de microfone na mão, falando do cachorro, da filha, da neta, do sei lá mais o quê. Para nós, a questão é completamente outra. E é isso que tento pensar. Não tento pensar em limites do humor, porque isso vai nos levar para um lado abstrato, maluco, que caminhará necessariamente para a censura. Não tem como se discutir limites do humor de modo genérico sem propor censura. E eu sou contra censura. Estou interessada nos horizontes do humor, não nos limites.
Leia mais:
>>> Por que o Ministério da Cultura é imprescindível
>>> Extinção do Minc é tentativa de volta ao passado, diz Dilma em bate-papo virtual
>>> Em protesto contra extinção do MinC, manifestantes ocupam sede do Iphan em Porto Alegre
O fim do Ministério da Cultura foi acompanhado de críticas aos artistas. Pode surgir um clima de perseguição à classe artística por parte de alguns setores sociais?
Não, esses discursos de Feliciano, de Malafaia e dessa gente toda traem a verdadeira motivação desse gesto de acabar com o Ministério da Cultura. Não é enxugamento, racionalização, nada disso. É vingança. Assim como o gesto do Eduardo Cunha de abrir o processo de impeachment é um gesto pessoal, de política mesquinha, se aproveitando de um contexto político no qual podia nadar. Havia água nessa piscina, é claro. Mas era uma vingança contra o PT, que abriu a corrupção dele, se alinhou com a investigação. No caso do MinC, foi tipo punição. Não tem sentido nenhum, não houve discussão. Não houve justificativa alguma para esse gesto que convença do contrário.

O humor no Brasil tem revelado novidades nos últimos anos, como o Porta dos Fundos. Marcelo Adnet faz piadas sobre o contexto social e político em uma grande rede. Como avalia este momento?
O humor brasileiro tem uma qualidade muito grande, e uma tradição embasando essa qualidade também muito grande. O Adnet é de um talento incrível. O fato de ele estar fazendo isso dentro da Globo só melhora as coisas. Também gosto do Porta dos Fundos. É uma expressão muito feliz do humorismo brasileiro. Existem outros. O humor brasileiro é um quadro cheio de possibilidades.
E o humor gráfico?
Vem perdendo território. Acho que é proporcional ao território que a imprensa de papel vem perdendo para a internet e para outras mídias. O humor gráfico brasileiro há muito anos não é mais chocante, não provoca escândalo. Quando a diretoria d'O Pasquim foi presa, em 1970, foi por causa de uma charge. Era o D. Pedro I chamando "Eu Quero Mocotó". Esse foi o estopim para todo mundo ir em cana, a diretoria inteira de um órgão de imprensa. É um gesto de um autoritarismo pesado. Acho que hoje nenhum cartum ou charge provocaria um terremoto desses.
Acredita no poder transformador do humor?
Não sei, sou dividida. Em si, o humor pode ser tanto transformador como conservador. Enquanto linguagem, o humor tem como ferramentas certos elementos que são reforços das ideias estabelecidas. Quando você conta uma piada para uma plateia, em geral, vai em busca do que anima aquelas pessoas, vai em busca do perfil ideológico delas para obter sucesso na sua piada. É uma coisa mecânica do humor. E essa mecânica favorece o reforço das ideias que já existem, e portanto, favorece o preconceito. Agora, é muito possível que a linguagem humorística seja usada na outra direção. Para isso, é preciso ver o que está animando aquele discurso, o que há por trás. Como disse o (ator e diretor) Hugo Possolo: "É preciso ver de que lado da piada você está".
___________________
LAERTE SOBRE ORLANDO
Na terça-feira, a pedido de ZH, Laerte enviou por e-mail um comentário sobre a tragédia de Orlando, nos EUA – o atirador Omar Mateen matou 49 frequentadores da boate gay Pulse:
"É um massacre, um ataque de natureza fóbica – que certamente inclui LGBTs entre os objetos de ódio, mas talvez seja mais amplo, em relação a outros valores morais. Não se sabe ainda o suficiente sobre a pessoa que atacou. Nestes dias que sucedem o fato, a nuvem de especulações prevalece sobre a nitidez das análises. Mas é totalmente cabível a manifestação de dor e de solidariedade por parte de LGBTs e quem se associa ao movimento de direitos civis; assim como também é típico o oportunismo de quem nega esses direitos, como o deputado Marco Feliciano e outros fundamentalistas."





