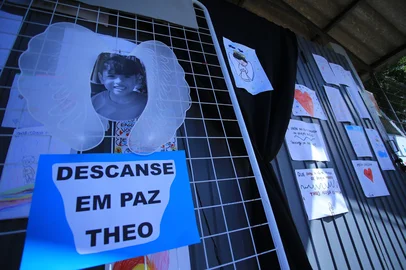Fui limpar o aposento da bagunça. Maquiar o lugar, na verdade. O caos ali é irreversível. Entre caixas e tralhas arrastadas, achei meus documentos e livros do primeiro grau, vulgo ensino fundamental.
Não resisti. Espiei o interior das pastas. A faxina, que deveria demorar meia hora, durou cinco horas.
Sentei no chão e folheei as agendas com desenhos de piratas, caveiras e corações para as meninas. E uma pergunta escrita com a minha letra adolescente saltou aos olhos: quem eu queria azarar na escola?
“Azarar” significava namorar nos anos 70 e 80. Transcorridas décadas, com a distância da saudade, a definição me pareceu um tanto estranha para aquele propósito: você azarava alguém.
Azaração, que batismo curioso para expressar algo tão bom, para retratar um namoro.
Você xavecava para azarar.
Podemos estabelecer uma cadeia retroativa das nossas gírias da paixão.
Hoje a expressão dominante é “date”, “fazer um date”. Refere-se a um encontro, à ideia de espaço individual, de consenso entre ambos os interessados.
Nos anos 2000, você ficava com alguém. “Ficar” diz respeito ao fluxo do tempo, à duração passageira do enlace.
Nos anos 90, a tradição era “pegar”. Você pegava uma pessoa, num ato de movimento, de captura.
Já “azarar” traz uma consequência do relacionamento.
Existe uma mudança de costumes exposta nesse nosso histórico emocional.
Pulamos da consequência para a ação, da ação para a passagem temporal, e desembocamos no respeito. Atualmente nós priorizamos não invadir o território do outro.
“Azarar” guarda relação direta com a natureza moral da época. Com o entendimento do amor como infortúnio, como desastre, como fatalidade. Um amor maldito.
Também percebo humor na nominação, ares de autocrítica, em contraposição ao peso de uma realidade sufocante, insalubre e nada agradável.
Não se desejava namorar deliberadamente. Apaixonar-se era um azar na vida, uma inevitável perda de liberdade. Tentava-se fugir de compromisso sério, de casamento com todas as forças — a moda de morar junto sem casar veio depois.
Predominava a noção de que formar família impediria crescimento pessoal e profissional, especialmente para as mulheres, condicionadas a procriar e ser sustentadas pelos maridos, confinadas pelo machismo a permanecer cuidando do lar.
Dói refletir sobre o que disfarçávamos com o rótulo engraçado. O divórcio no país só foi legalizado em 1977. Os separados acabavam malvistos pela sociedade, lutando contra o estigma da rejeição.
Talvez tivéssemos a consciência da precariedade dos laços. Recordo ainda que havia um quê de heroísmo masoquista nos romances. Muitos de nós gostávamos de sofrer mais do que de amar.
Mergulhávamos em fossas infindáveis, chorávamos no escuro do quarto por términos precoces, vivíamos longos lutos quando recebíamos um fora, madrugávamos em bares resmungando nossas tristezas aos garçons.
O fim da ilusão tinha gosto de Drury’s.
Tanto é que foi o período com a melhor discografia para a dor de cotovelo. Whitney Houston que o diga. Maria Bethânia que o diga. Lionel Richie que o diga. Roupa Nova que o diga.