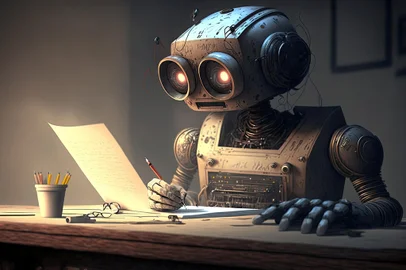Ser uma boa pessoa, nem se fala. O mínimo que a gente espera de um descendente é que seja alguém confiável, honesto em todas as suas relações – envolvam elas amor, amizade, trabalho, dinheiro –, que se importe com os outros. Uma boa pessoa, enfim. É para isso, acredito, que mãe e pai se esforçam tanto, até mesmo quando erram.
Só sendo mãe e pai para entender como se pode errar cheio das melhores intenções. Acontece. Os filhos, logicamente, não esquecem fácil. Os terapeutas estão aí para comprovar. Além de valores, no caso, os imateriais, a maioria das mães e pais gostaria de transmitir seus gostos para os descendentes. O time. As músicas. Os autores. Os lugares. As receitas. Transmitir ideias já é mais difícil, em geral os filhos preferem pensar com as próprias cacholas, principalmente quando têm muitas certezas, ou seja, na extrema juventude. É uma fase bonita, mas irrita um pouco. Na verdade, irrita muito, mas isso os filhos só percebem quando eles mesmos viram mães e pais. E assim a gente vai levando essa chama, como cantava o Chico.
Minha mãe, por exemplo, passou para os descendentes dela o gosto pelo cinema. Mocinha, esperava a semana toda pela matiné com as amigas. Casada, arrastava meu pai e, na volta, nos contava o filme com cortes, dependendo da nossa idade na época, mas com riqueza de detalhes sempre. E, claro, com spoilers, porque esse conceito foi inventado bem mais tarde. As narrativas da minha mãe sempre começavam pelo fim. Ela viu O Sexto Sentido antes de mim e me contou tudo sobre o Bruce Willis, mas eu me surpreendi mesmo assim. Acho que foi por causa dela que nunca me importei com spoilers.
Quando consegui o primeiro estágio e meu chefe era o Goida, o crítico de cinema que a gente lia todos os dias no jornal, minha mãe pirou. Queria que eu perguntasse a ele sobre filmes perdidos, um final que ficou no ar, uma trama mal entendida, uma possibilidade desperdiçada. Eu, claro, não perguntava. Era jovem e cheia de certezas e jamais considerei levar as questões da minha mãe para o meu chefe. Ah, se desse para refazer esse roteiro. Na noite em que fui convidada para jantar na casa do Goida e da Daisy, minha mãe me esperou acordada para saber dos detalhes. Honrando a tradição, comecei contando da sobremesa.
Viúva, minha mãe se encontrou nos filmes. Era cinema de tarde e videocassete de noite, isso durante muitos anos. Estava junto na primeira ida do meu filho ao cinema para ver Rei Leão. Ele ainda não tinha dois anos e chorou não na cena em que o pai do Simba morre, mas no final do desenho. Não queria sair, tivemos que pagar outro ingresso e assistir de novo. Depois disso, viramos um trio frequentador de cinemas que só se desfez com a morte dela, em 2005.
Se eu fiz alguma coisa boa pelo meu filho – apresentar a minha mãe cinéfila estava no pacote – foi nunca ter achado que tal ou tal filme não serviam para ele. Juntos, nós assistimos a maravilhas que talvez parecessem chatas ou inadequadas para um guri, só que não, e também nos enganamos com bombas daquelas em que não se deve ter pudor de abandonar a sala antes da metade do filme. Fomos a cinemas de todas as cidades por onde passamos, enfrentamos chuva e frio por uma estreia, encaramos filas, madrugadões, empurra-empurra, o diabo. Valeu tanto a pena que agora, em janeiro, meu filho se forma em Cinema. Uma escolha corajosa não só dele, mas de todos os meninos e meninas que decidem, por profissão, encantar a vida da gente com filmes, com músicas, com livros, com arte.
Minha mãe teria gostado do final dessa história. Ou melhor: desse começo.
Leia mais: