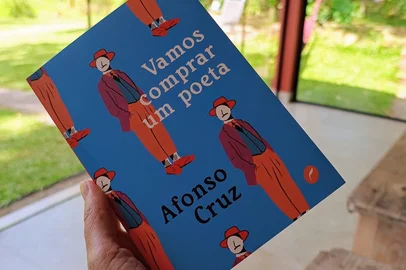Por Jocelito Zalla
Doutor em História Social (UFRJ), professor do Colégio de Aplicação e da pós-graduação em História da UFRGS
Para quem, como eu, passava por um curso de História nos anos 2000, o modernismo em artes e literatura no Brasil parecia um tema consolidado e até ultrapassado. Os melhores livros da área até então eram lidos mais como bons exemplos de história intelectual recente do que como interpretações relevantes de assunto consagrado. Permanecia certa sensação de luta ingrata contra a vanguarda paulista da Semana de Arte Moderna de 1922, cuja ação teria transformado os modos de fazer literatura brasileira. A canonização dos projetos intelectuais de Mário e Oswald de Andrade, empreendida por pesos pesados como Antônio Candido e Alfredo Bosi, parecia ainda menos questionável. Tudo isso muda com A Ideologia Modernista: A Semana de 22 e Sua Consagração, livro do professor e pesquisador Luís Augusto Fischer.
A necessária provocação intelectual começa pelo título, anunciando uma abordagem iconoclasta e radicalmente historicista, que suspende o senso comum acadêmico e retoma as fontes em suas temporalidades originais. Estamos falando de uma ideologia, uma construção no plano das ideias que busca disputar o sentido político dos processos históricos. Fischer não cai na análise simplista do mito histórico enquanto falsificação. Uma força de seu trabalho é justamente trazer à tona os motivos da centralidade da posição paulista – especialmente na perspectiva de Mário de Andrade – na literatura brasileira sancionada coletivamente no século 20.
O primeiro capítulo dá atenção a Paulo Prado, filho da aristocracia cafeeira cuja obra levava à celebração do mito do bandeirante e suas conquistas territoriais, suposto testemunho da vocação de São Paulo para unir o Brasil. Discurso regionalista típico da Primeira República, como bem sabemos aqui no Rio Grande do Sul: uma defesa da superioridade da parcela local para reivindicar seu protagonismo nacional. Nas décadas seguintes, o crescimento demográfico, a urbanização e a industrialização de São Paulo dariam lastro a essa pretensão de hegemonia, que encontraria na vanguarda artística e literária sua melhor expressão.
Nos capítulos seguintes, vislumbramos como esse regionalismo paulista se tornou vitorioso, conquistando para si um poder de definição da cultura brasileira, mais ou menos secundado por aliados e seguidores do Rio de Janeiro e de outras facções modernistas regionais. Além do sentido missionário, a estratégia de legitimação passava pela invenção de inimigos. O primeiro deles foi a capital federal e suas instituições literárias, como a Academia Brasileira de Letras. Mário e seus colaboradores articularam uma caricatura da cena artística carioca, reduzindo a complexidade da geração republicana a poucos nomes já nada relevantes nos anos 1920, como Coelho Neto e Olavo Bilac. Com isso, houve o apagamento de experiências literárias sofisticadas como as de Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio, Euclides da Cunha e, em sua esteira, nomes regionais relevantes, como o nosso Simões Lopes Neto.
Depois, foram tornadas inimigas as dissidências modernistas, seja por desacordo político (como a “falsa vanguarda” de direita, com Menotti del Picchia e Plínio Salgado à frente) ou filosófico e estético (como Graça Aranha e os “espiritualistas” do Rio). Por último, as frações modernistas de outras regiões que não se adequavam à pretensão hegemônica das elites (intelectuais) paulistas. Ao menos dois modos de exclusão ocorreram: a invalidação dos modernismos conciliatórios (que não empregaram retórica de ruptura, casos de RS e PE) e sua taxação como “regionalistas”. Somente o modernismo paulista teria feição nacional.
Fischer confronta discursos com dados, análises de trajetórias individuais e políticas institucionais. A consagração da Semana de 22 e da perspectiva de Mário de Andrade é desvelada nas práticas de seus agentes: figuras renomadas como Sérgio Buarque de Holanda e o já citado Candido e novos espaços de legitimidade intelectual, como a Universidade de São Paulo e o sistema escolar de ensino. Um dos pontos marcantes da obra é o estudo do vestibular unificado da UFRGS, realizado nos anos 1970 por empresa paulista, que Fischer viu impor na cartela de conteúdos ensinados de literatura brasileira do Estado não apenas o modernismo, mas também a anacrônica categoria de “pré-modernismo”.
Os méritos do livro são enormes, e não cabem nos limites de uma resenha. Fischer não se furta desse debate e avalia trabalhos de impacto na cena atual, momentos em que mobiliza a melhor crítica a serviço da melhor história literária. Com isso, capta tanto a naturalização da perspectiva paulista de modernismo como as tentativas de ampliação do cânone modernista “paulistocêntrico”, em novas disputas sobre o conceito de “moderno”. Como história exaustivamente documentada da construção da ideologia modernista paulista, o potencial historiográfico do livro é radicalmente novo. É, portanto, um marco. E, esperamos, se tornará um ponto de inflexão nos estudos da temática. É um estudo que precisa ser lido e debatido por historiadores e letrados, nas graduações e pós-graduações de todo país, a fim de formar especialistas capazes de enxergar aquilo que foi ocultado.