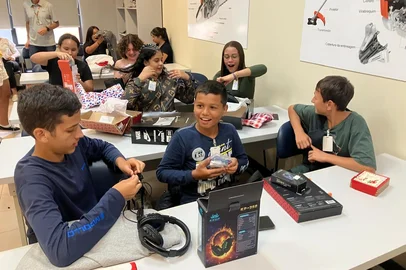Eu era criança nos anos 1980 e meus maiores companheiros de aventura – além das HQs, introduzidas na minha casa pelo meu pai, dono de banca e colecionador do "formatinho" – eram os bonecos do Superman e do Homem-Aranha. Se fôssemos observá-los pelos padrões atuais seriam considerados toscos. Para mim não tinha importância, eles me ajudavam a materializar minhas aventuras imaginárias pelo mundo da fantasia. Por outro lado, eu precisava usar uma boneca Susi como parceira nos mistérios e brincadeiras. A Barbie chegou uns anos depois, mas confesso que ela era muito pouco interessante pois não combinava com minhas aventuras imaginadas.
Mas chegou aos cinemas Star wars e a grande líder rebelde, a Princesa Leia. Uma princesa que não esperava ser salva, ela mesma agindo com sua gangue para salvar seu time. Dizia o que pensava, mandava na missão, desafiava a ordem e comandava e atuava pela Aliança Rebelde. Leia não foi tentada pelo lado negro da Força, mas viu o planeta no qual foi criada ser destruído, com pais e compatriotas mortos.
Leia mais:
Bipolaridade, vício em remédios e drogas: instabilidade marcou vida de Carrie Fisher, a eterna Princesa Leia
Carrie Fisher, a Princesa Leia de Star Wars, morre aos 60
Jornalista faz piada com morte da atriz Carrie Fisher e é detonado na internet
Foi torturada pelo maior vilão do universo, seu próprio pai biológico. Leia segurou a barra do irmão Luke quando seu mentor Obi Wan morreu e salvou o mercenário Han Solo invadindo a fortaleza do criminoso Jabba. Mesmo assim, Leia falava em esperança, não errava um tiro e não deixava de ter sentimentos por Solo, o contrabandista. Era princesa, estrategista e mulher, forte em suas contradições e lutas.
Quando eu – e falo aqui por uma considerável parte da minha geração – vi a presença daquela personagem na tela foi tudo que eu precisava para entender que eu podia ser o que eu quisesse. Minhas brincadeiras transformaram a boneca Susi em Leia. Muito antes de palavras como "empoderamento" ou "girl power" estarem na moda e repetidas até quase serem esvaziadas, a princesa e diplomata já nos mostrava como e pelo quê lutar. Assim, ela reconfigurou todo um caminho para as protagonistas da cultura pop atuais, as da franquia de Star wars como Rey e Jyn, e de tantas outras que aparecem nos quadrinhos, no cinema e nos seriados de TV.
Como a própria Carrie disse, Star wars é mais do que um filme, é um estilo de vida, é uma forma de encarar e ressignificar o mundo. E Leia é aquela amiga, tia, prima da qual muitas de nós, meninas nerds da década de 1980 nos orgulhamos de ser e em quem nos espelhamos enquanto mulher.
Claro, não podemos esquecer que antes dela, ainda nos anos 1960, houve a Tenente Uhura de Star trek, representada na TV pela atriz Nichelle Nichols, que completa hoje 84 anos. Uhura era linda, inteligente, negra e estava em uma tripulação espacial já pensada multiculturalmente. Star trek e Star wars são as duas franquias que fundamentam e levaram a cultura pop a níveis transnacionais e transculturais, consolidaram o que muitos estudiosos hoje chamam de "cultura dos fãs". Obviamente há produtos midiático-populares anteriores que são pensados nesse sentido e que tiveram no seu agrupamento de fãs – também chamado de fandom – como Os três mosqueteiros e Sherlock Holmes por exemplo, uma grande importância. Mas essas duas franquias de ficção científica, entre outras características, introduziram a importância da presença dessas mulheres como elementos fundamentais para a trama e para a representatividade feminina como para uma base de fãs mulheres. Não é à toa que haja um enorme montante de pesquisas sobre fãs dessas duas franquias ainda hoje.
Nos anos 1990, me deparei com o filme Lembranças de Hollywood (Postcards from the edge), baseado no livro e com o roteiro assinado por Carrie Fisher, mostrando o relacionamento conturbado dela com a mãe, Debbie Reynolds. Em entrevistas, vi uma mulher sempre disposta a falar francamente de sua luta com os vícios em drogas e sobretudo com o transtorno bipolar. Ali estava ela com humor incisivo trazendo luz a respeito de uma doença mental ainda pouco discutida pela mídia e assim representando novamente milhares de pessoas. Juntamente com os relançamentos masterizados da trilogia clássica no cinema a qual fui vestida a caráter – com um cosplay improvisado, feito pela minha mãe, enfrentando olhares curiosos ao atravessar o shopping Iguatemi – reencontrei em Carrie a força de que precisava para aceitar e lutar com meu próprio diagnóstico. Personagem e atriz estavam intrinsecamente ligadas à Força.
Em 2015, com o lançamento de um novo filme da franquia, pude observar uma nova geração de garotas conhecer e admirar a agora General Leia. Leia sobreviveu a inclusive ser a mãe de um vilão, ver o sumiço do irmão Luke e continua afetuosa ao abraçar Solo e ao ver a partida de Rey. Nas entrevistas do filme, uma Carrie Fisher agia sem papas na língua ao tratar das críticas ao envelhecimento e às transformações de seu corpo enquanto mulher aos 60 anos. A força simbólica de sua personagem misturada às lutas de ordem micropolítico-identitárias da vida da atriz, contribuíram para inúmeras discussões sobre vários temas e fazem com que ela tenha deixado um legado poderoso na cultura pop, cultura essa que vive tanto de padrões quanto de rupturas e que tem na imagem de uma princesa empunhando uma arma e decidindo seu destino um grande impacto para toda uma geração de mulheres.
Ainda que nunca tenha empunhado no cinema um sabre de luz, a Força sempre foi poderosa com Carrie Fisher.
*Adriana Amaral é pós-doutora em Comunicação, Mídia e Cultura pela University of Surrey (Reino Unido) e professora do PPG em Comunicação da Unisinos