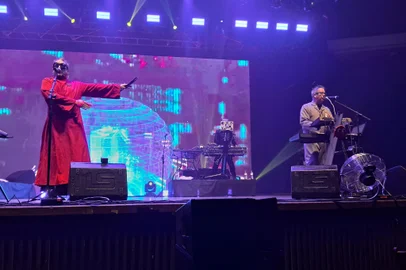FOTOS DE FÉLIX ZUCCO
Caos é uma palavra que deve ser usada com parcimônia, em especial no jornalismo. Não se pode banalizá-la. Mas a Venezuela justifica o emprego do vocábulo. Famílias sofrem ao ver um filho definhar sem ter acesso a remédios em razão da escassez de praticamente tudo, da aspirina ao medicamento oncológico. Gente famélica e desesperançada, também devido ao desabastecimento e à inflação, forma filas que percorrem quarteirões e duram mais de sete horas sob o sol caribenho. Querem apenas comprar um quilo de açúcar, arroz ou farinha de milho, item essencial na culinária venezuelana. Um ano atrás, essas filas eram ocultadas nos subsolos dos supermercados. Hoje, transbordaram para as ruas, como cobras que enroscam os prédios.
LEIA MAIS DESTA REPORTAGEM:
>>> Venezuela sofre degradação institucional e vê crescer impasse político
>>> Léo Gerchmann: o papel do Brasil na crise venezuelana
É triste chegar a Caracas e deparar com a pista vazia no aeroporto – voa-se pouco para um país que se fecha e se isola cada vez mais. De 28 de junho a 1º de julho, estive pela quarta vez na Venezuela desde 2010. A viagem anterior fora em abril de 2015. A nação caribenha se afundou em uma crise que já era extremamente grave. Saindo do desembarque para o saguão, encontrei os achacadores de sempre, muitos deles vestindo fardas que conferem suposta autoridade aos olhos dos mais desavisados. Tentam encher o estrangeiro com montanhas de bolívares, a desvalorizada moeda local, em troca de dólares - a cotação varia muito, chegando a mil bolívares o dólar no paralelo.
ESPECIAL ONLINE: O QUE VIMOS EM CARACAS
Avolumam-se relatos de crimes na saída do aeroporto, que vão dos sequestros aos homicídios. Um egípcio recentemente reagiu ao assédio e foi morto a tiros bem na frente do saguão. Um vídeo no YouTube documenta a cena aterradora. Conforme o Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal, são assassinadas 74,65 pessoas entre 100 mil na Venezuela anualmente. É o maior índice entre países que não estão em guerra. O Brasil tem 45,5 homicídios por 100 mil habitantes. Entre as grandes cidades, Caracas lidera o ranking, com 119,87 homicídios para cada 100 mil habitantes. Para comparar: Porto Alegre, que é uma cidade violenta, tem 34,73 por 100 mil.
O saguão do aeroporto não é um cenário de chegada, mas de despedida. Vi três famílias em lágrimas, e outras três tinham semblantes de tristeza. Estavam, naquele momento, fragmentando-se. Alguns dos seus integrantes embarcavam para o Exterior, fugindo do caos venezuelano e buscando soluções também para quem fica – muitos enviam dinheiro e, principalmente medicamentos de outros países. Há quem emigre só para isso.
Sair da Venezuela é uma opção mesmo para quem sempre lutou para melhorá-la. Ainda em Porto Alegre, antes de embarcar, telefonei para a jornalista Milagros Socorro, minha amiga e ex-colunista do jornal El Nacional.
– Milagros, estou voltando a Caracas.
– Ah, que pena! Daqui a poucas horas sai meu voo para a Cidade do México.
Ela viajava para lecionar na universidade durante três meses, com perspectivas de ir ficando por lá.
No carro, a caminho do centro de Caracas, os vidros do táxi estão fechados, apesar de a capital venezuelana ser um forno em meio a montanhas que a separam do Mar do Caribe. Mais de 30°C, sem ar-condicionado. Se os vidros estivessem abertos, seriam maiores os riscos de um meliante se aproximar e dar um tiro na cabeça para pegar os pertences mais expostos ou puxar o passageiro para fora do carro, em busca de relógios, celulares e, especialmente, dólares. Se você quiser sacar o celular para uma foto, será alertado a não fazê-lo.
Segue-se, então, em meio às centenas de casebres precários empoleirados em barrancos íngremes. E logo aparece o fenômeno que hoje simboliza a Venezuela: filas e mais filas. De 10 em 10 minutos no trajeto, aparece uma nova fila quilométrica, com jovens, idosos, crianças, até bebês nos colos. Pessoas usam sombrinhas para se proteger do sol intenso. Pode-se identificar agentes da Guarda Nacional Bolivariana, como na fila do supermercado Super Líder em Los Teques, a 18 quilômetros de Caracas. Naquela tarde do fim de junho, a população foi avisada que cada consumidor poderia comprar no Líder quatro quilos de farinha de milho e dois quilos de açúcar, tudo racionado - essa quantidade, aliás, é alta, pois normalmente os supermercados anunciam que têm um quilo per capita. Não são poucos os policiais trabalhando ali, com vestimentas militares e metralhadoras. Estão no local para evitar tumultos e, também, para cuidar que ninguém registre aquelas imagens. Se veem uma pessoa fotografando, tiram-lhe a máquina e até podem prendê-la.
De um lado, a criminalidade. De outro, a repressão oficial. O viajante, a turismo ou a trabalho, não sabe quem temer mais. As pessoas que carregam pacotes com as compras correm e olham para os lados, temendo que avancem no seu troféu conquistado com, literalmente, muito suor. Parece até que carregam diamantes. Sacar o celular na rua? Nem pensar. Você pode dizer: "Ah, no Brasil é assim". A diferença é que, nas ruas de capitais brasileiras como Porto Alegre, a pessoa receia ser surpreendida por um assaltante ou sequestrador. Na Venezuela, o sobressalto é permanente. É como estar em uma selva vendo os olhos das feras a fitá-lo no escuro.
UM COTIDIANO DE
PRATELEIRAS VAZIAS

O desabastecimento de alimentos e medicamentos atinge 80% da cesta básica, e, até em razão da baixa oferta, a inflação estimada pelos organismos internacionais é de 700% ao ano. A economia é dependente do petróleo, que representa 96% das divisas. Mas o preço do petróleo cai vertiginosamente há mais de três anos. Portanto, não há dinheiro para importar produtos e suprir a ausência de uma economia diversificada. Enquanto isso, canaviais na região agrícola estão parados por falta de fertilizantes, e máquinas vão depreciando em fábricas estatais fechadas. Milho e arroz, que chegaram a ser exportados, agora precisam ser trazidos de fora.
Em Caracas, a estudante de Economia Marynell Rivero, 24 anos, é uma típica garota de classe média que vive sozinha, mas é sustentada pelos pais. Mary já perdeu mais de cinco quilos por não ter o que comer. Na hora de explicar o porquê da dieta forçada, ela não fala: escancara a geladeira e mostra o vazio.
– Hoje, estou feliz. Consegui um pacote de açúcar. Sabe há quanto tempo eu procurava açúcar? Há seis meses. Consegui com um amigo que é padeiro. Custa 60 bolívares (algo como R$ 0,20). Se eu fosse comprar dos bachaqueros, teria de pagar 2,5 mil bolívares (aproximadamente R$ 8) – conta Mary.
Os bachaqueros estão em ascensão na Venezuela. Sua atividade é algo similar à de cambistas em espetáculos e jogos de futebol. Eles lucram com o desabastecimento - por isso, são encarados como parasitas. O termo vem de bachaco, formiga que carrega folhas e gravetos nas costas, típica da fronteira com a Colômbia, onde há concentração de contrabandistas. A atividade vai se incorporando à vida cotidiana. A polícia faz vista grossa. Os gerentes dos mercados avisam, por WhatsApp, os bachaqueros da chegada de produtos como açúcar, arroz, leite, farinha e itens de higiene pessoal. A polícia já os conhece e tolera sua presença na fila, diante de olhares por vezes zangados e por vezes resignados. Os bachaqueros chegam a ter listas de fregueses.
O consumidor respeita um rodízio como aquele que São Paulo adotou para circulação de veículos conforme os finais das placas. Às segundas-feiras, podem entrar nas filas as pessoas cujo número da carteira de identidade termina em 0 e 1. Às terças, 2 e 3. Às quartas, 4 e 5. Às quintas, 6 e 7. Às sextas, 8 e 9. Aos sábados repetem os números de 0 a 4, e aos domingos, de 5 a 9. Ainda que haja o rodízio, as filas chegam a três quilômetros. A tensão é grande. Eventualmente, ocorrem brigas.
Na casa simples, mas bem mobiliada, em um edifício típico de classe média, Mary frequentemente não tem água potável. Precisa armazenar. Mas sente falta, mesmo, é dos remédios que nivelam a glicemia no sangue:
– Não encontro nada.
A reportagem foi a uma farmácia próxima da casa de Mary. Encontrou fila, claro, e ouviu a rotineira fala da farmacêutica Aimara Bresndembach:
– Não há, desafortunadamente...
Aimara quase chora ao contar que recebe pessoas extremamente necessitadas e não pode ajudá-las em 80% dos casos. Relata um sentimento de impotência e, enquanto conversa, é chamada pela vendedora para atender à aposentada Argelia de Ríos. Vê-se logo que Argelia, 78 anos, está muito cansada. Sorve um refrigerante para aplacar o calor, suspira fundo e se encosta no balcão. Quando Aimara chega, Argelia diz que aquela é a sexta farmácia que procura nessa terça-feira. E pergunta pelo remédio.
– Não há, desafortunadamente – repete Aimara, com a voz arrastada.
Argelia busca medicamento para o marido, Gustavo Ríos, 79, que está em casa e tem erisipela em grau alto, até em razão da falta de tratamento. Outra mulher, ao lado, conta que também está ali pelo marido. Seu caso é mais grave: ele também está em casa, mas com câncer. O problema é que ele está em casa porque de nada adianta ficar no hospital ou em uma clínica. Ninguém tem os medicamentos de que necessita urgentemente.
Esses sentimentos de desamparo e desespero, além de explicar em parte a alta criminalidade, alimentam outro fenômeno: o Observatório Venezuelano de Conflitividade Social calcula que há 19 protestos diariamente no país. E eles justificam situações como a que ilustra uma propaganda de imobiliária na TV. O reclame diz: “Construa teu futuro nos Estados Unidos e ganhe uma vida cheia de oportunidades”.
TEMPOS DE APREENSÃO
NA CLÍNICA ONCOLÓGICA

O Hospital Universitário de Caracas era para ser modelo. Mas cada quarto virou um depósito humano, com lixo espalhado pelos cantos, pacientes usando a própria roupa de cama e levando bolachas – não há alimentação. O mais grave é que eles precisam comprar os próprios medicamentos.
Na quinta-feira, dia 30, foi a vez de visitar uma das melhores clínicas de Caracas (a administração e os médicos pediram que o nome não fosse revelado, por temerem represálias). A limpeza existe, mas também a falta de medicamentos e a frustração dos médicos.
Nessa clínica, está em tratamento María Valentina Ortuño, 11 anos, que tem leucemia. A mãe, María Alejandra Reverón, deixou as Ilhas Margarita, onde, segundo ela, o apelo turístico perdeu todo o encanto - lá, falta tudo, da água à eletricidade, passando pelos alimentos e pelos remédios. Valentina tem prognóstico de cura estimado em 80%, mas precisa de asparaginase, corriqueiro para problemas como o da garota.
O que María Alejandra fez? Foi até a Colômbia na segunda quinzena de junho para comprar parte das 90 ampolas de que a filha necessita, para tomar três ao dia. Voltou a Caracas com 37 e juntou a outras que havia conseguido também fora da Venezuela. Cada ampola custou US$ 153 (no Brasil, o custo seria de algo como R$ 110, pouco mais do que US$ 30).
– Faz um ano que não temos asparaginase na Venezuela. Eu não podia esperar – diz ela.
Para conseguir as 29 ampolas restantes, María Alejandra criou uma página no Facebook, e um primo que vive nos Estados Unidos arrecada ajuda. Valentina, com o cabelo todo raspado em razão da quimioterapia, mantém o sorriso e demonstra reconhecimento ao esforço da mãe. Submete-se a tudo com denodo, como um adulto.
A médica de Valentina e de algumas das outras crianças ali internadas conta que muito esporadicamente aparecem medicamentos sumidos nos últimos anos. Mas aí vem outro problema. O governo importa a preços baixos genéricos de países como a Índia, e nem sempre a qualidade é assegurada. Há distorções em dosagens, por exemplo. A médica não quis se identificar, porque teme retaliações contra a garota. Mas revelou que, nos próximos dias, seguirá o mesmo caminho de outros médicos venezuelanos: deixará o país. Irá para os Estados Unidos e começará uma nova vida por lá.
– É muito frustrante não conseguir tratar as pessoas adequadamente, exercer minha profissão na plenitude, com as condições necessárias – lamenta.
Todos se miram na história de Oliver Sánchez, nove anos, que não resistiu a um grave tipo de linfoma contra o qual vinha lutando desde setembro do ano passado. A falta dos medicamentos foi decisiva para o desfecho trágico, e uma foto na qual ele pedia ajuda em frente a um batalhão policial viralizou nas redes sociais. "Quero me curar. Paz. Saúde", dizia o cartaz levado por Oliver a um protesto em Caracas, com as palavras ao lado do desenho infantil de uma seringa e de um pacote de remédio. A imagem foi compartilhada entre os venezuelanos como um símbolo do drama nacional. A família lutou para conseguir o tratamento necessário. Oliver chegou a completar seis sessões de quimioterapia, com a ajuda de hospitais e doações particulares. Antes de morrer, ficou 10 dias em coma.
"TUDO AUMENTA
E TUDO FALTA"
As filas são o símbolo maior do caos venezuelano. Mas o pior é o motivo delas: a falta de medicamentos urgentes e de alimentos básicos. No restaurante Full Arepa, o cliente entra e já depara com um cartaz no pequeno freezer onde deveria haver a cerveja Polar, a principal do país. “Neste equipamento, não há cerveja e/ou malte por falta de matéria-prima para produzir”.
A reportagem não quer cerveja. Quer uma boa arepa de carne e queijo e um suco de frutas tropicais.
– Sinto muito, mas não temos açúcar para pôr no suco – avisa o garçom.
De novo, ok por nós. Mas isso afasta clientes?
– Claro – responde o gerente Javier Godoy. – Tem gente que exige açúcar no café e no suco. Ao saber que não temos, simplesmente dá a volta e sai do restaurante. E quando faltou farinha de milho, então? Como é que o nosso restaurante vai viver sem arepa?
A arepa, que dá nome ao restaurante, é o lanche típico da Venezuela, rivalizando apenas com a refeição mais popular, o pabellón criollo. A arepa só pode ser feita com farinha de milho. O recheio varia. A massa, não. A receita leva um quilo de farinha de milho com água e sal, mais o recheio. Com esse quilo, fazem-se 20 arepas, o que serve para satisfazer uma família padrão, de quatro integrantes. O preço dessa farinha foi fixado pelo governo em 190 bolívares - o que é uma ficção. Comerciantes, por vezes, seguram a mercadoria para se aproveitar da alta procura e, com a pouca oferta, pôr os preços nas alturas. Os bachaqueros vendem farinha por 6 mil bolívares - mais de 30 vezes o valor oficial. Todos esses números se tornam ainda mais indigestos quando se sabe que 70% dos venezuelanos ganham 15 mil bolívares por mês, com 18 mil bolívares na forma de tíquetes-alimentação. Em uma pesquisa de qualidade de vida feita pela Universidade Simón Bolívar e citada em reportagem recente do jornal The New York Times, 87% dos entrevistados disseram não ter dinheiro para comprar comida suficiente. A mesma reportagem trouxe outro dado alarmante: cerca de 72% do salário mensal está sendo gasto para comprar comida, de acordo com o Centro de Documentação e Análise Social, grupo associado à Federação Venezuelana de Professores. Em abril, o centro constatou que uma família precisaria do equivalente a 16 salários mínimos para se alimentar corretamente. (Apenas para comparar: no Brasil, o salário mínimo deveria ser 4,3 vezes maior do que o atual para dar conta das necessidades básicas de uma família com alimentação, moradia e transportes, por exemplo, conforme o Dieese.)
O proprietário do Full Arepa, José Rodríguez, um homem calvo, aproxima-se, dá um sorriso triste e, falando em um bom português que diz ter aprendido na escola, comenta as dificuldades comerciais:
– Tudo aumenta e tudo falta. Tratamos de resolver as faltas, e os aumentos são um problemão, também. Como é que vamos subir o produto final proporcionalmente ao aumento das matérias-primas? Ninguém tem dinheiro. Quem iria consumir aqui?
A inflação é galopante. Como não repassar para o consumidor? Rodríguez volta a dar aquele sorriso que afeta frustração e baixa os olhos:
– Quer saber? O resultado disso tudo é que falta muito pouco para fecharmos o restaurante.
Do outro lado da avenida, percebe-se um conjunto de três blindados trafegando mansamente, sem qualquer motivo aparente. O dono do Full Arepa olha aquilo e se indaga:
– O que será do nosso lindo país?
A militarização é outro aspecto que só cresce desde 2010. Agentes da Guarda Nacional Bolivariana se infiltram entre as pessoas nas longas filas. Caso alguém apareça com uma máquina fotográfica, eles exigem que a guarde. Se a pessoa resolver ficar parada só observando a fila, chegam e, discretamente, perguntam o que houve. Se a resposta é que apenas observa, vem a recomendação em tom inamistoso: não fique aqui parado.
Há também os Comitês Locais de Abastecimento e Produção (Clap), unidades que levam alimentos básicos para locais escolhidos sem critérios claros e com periodicidade irregular. Não apenas nas filas, mas eventualmente os Clap aparecem até nas casas de um determinado bairro em que a crise se fez especialmente insuportável, vendendo a preço subsidiado farinha de milho e leite em pó. A distribuição costuma ser criticada por ser aleatória e por tentar encobrir um problema constante.

Numa agência do supermercado Excelsior Gama em bairro de classe média, as filas são diárias e percorrem boa parte da quadra. No estacionamento, aparecem, de mãos vazias, Eduardo Paz, 38 anos, nascido em Caracas, filho de brasileiros, e sua mãe, a catarinense Miriam Paz.
– Viemos aqui comprar um pacote de arroz e outro de farinha de milho. Vamos embora. Com essa fila, não é possível. Tem gente aqui há mais de sete horas – diz Miriam.
Seu filho organiza eventos na Venezuela. Até o ano passado, fazia a média de seis festas por semana, de casamentos a aniversários infantis. Hoje, quando organiza duas festas num mesmo fim de semana, isso é considerado motivo de alegria.
Dentro do supermercado, a maior parte das prateleiras está vazia. Não há água, papel higiênico, sabonete, desodorante, farinha, açúcar.
A poucos metros do Excelsior Gama, há a lanchonete Cueva de Iria. O pasteleiro Jimmy Peña, vestindo o uniforme a rigor, está com os braços cruzados, observando o movimento.
– Ficamos 15 dias sem açúcar. Hoje, chegou. Antes, não tínhamos manteiga. Agora, falta farinha de milho. Como prosperar, na Venezuela, sem farinha de milho? Quando há ovo, não há açúcar; quando há açúcar, não há farinha – lamenta.
Comendo uma pizza, está Omaira Olivares. Em meio às garfadas, ela conta que estuda para ser confeiteira.
– Estou aqui porque o curso foi suspenso, por falta de produtos como farinha, leite e açúcar. Faz duas semanas que houve a suspensão. Parece que vivemos em uma guerra – compara.
Peña se interessa pelo que a cliente diz e acrescenta:
– Até poderíamos comprar produtos de bachaqueros, para pelo menos não ficar sem servir os clientes. Mas pensa bem: além de esses produtos serem caros, precisamos sempre mostrar a procedência para a fiscalização, e a origem é duvidosa. Outro dia, uma senhora tomou leite comprado de bachaquero, e era cal o que tinha ali. Imagina se isso ocorre conosco.
Nos diversos bairros por onde a reportagem passou, com pessoas de estratos sociais diferentes, é extremamente raro alguém defender o governo chavista - o chavismo, vale lembrar, é um movimento que teve início com o governo de Hugo Chávez (1999 a 2013), militar de alto carisma, que implementou uma série de medidas sociais amparado no preço alto do petróleo. Em 5 de março de 2013, Chávez morreu, vítima de câncer, e foi sucedido pelo afilhado político Nicolás Maduro, que, além de não ter a mesma empatia popular, chegou ao poder no momento em que o petróleo tinha o preço reduzido em menos da metade. Uma rara chavista encontrada é a dona de casa Onelia Martínez, que comprava pregos em uma ferragem. Ela vê vantagens até no desabastecimento:
- O governo está nos ensinando a comer. Antes, comíamos arepa todos os dias. Não pode ser assim, faz mal. Também temos que aprender a plantar alimentos em casa, até porque esse desabastecimento é decorrência de um grande boicote contra nós.
O governo sustenta que o descalabro socioeconômico é fruto de conspiração do setor privado em parceria com os Estados Unidos. Analistas criticam a tese: boa parte da economia local foi nacionalizada, e empresários não abririam mão do lucro.
FAVELA DE PETARE:
O CENTRO DO INFERNO

A jornada de ZH prossegue até Petare, a maior favela da América Latina, com casas penduradas umas sobre as outras, gente correndo alucinadamente e criminalidade descontrolada. São quase 3 milhões de habitantes, o que representa 10% da população da Venezuela.
A reportagem esteve no Petare durante uma hora e meia. Há uma região na favela especialmente perigosa, que justificaria o uso do adjetivo "dantesco". Dentre os círculos do inferno descritos por Dante Alighieri em A divina comédia, seria o mais escaldante, o pior dos mundos, o inabitável. Nesse lugar do Petare, o chamado Casco Histórico, moram 3 mil pessoas, mas, graças ao comércio formal e aos ambulantes, transitam por lá 50 mil pessoas por dia. A estatística sombria é de que, apenas neste ano, houve cem assassinatos no Casco. Ou seja: a taxa de homicídios desse local específico seria de 200 a cada 100 mil habitantes, perto do dobro da registrada por Caracas.
A lei é ignorada. Um grande camelódromo cerca pequenas casas comerciais, muitas delas já alvo de saques. Durante a incursão, registramos um flagrante, em foto que ilustra esta reportagem. Um rapaz abriu a porta traseira de um caminhão e começou a furtar o que havia lá dentro. O meliante viu a câmera fotográfica, fez sinal com o dedo no olho direito para o companheiro que estava a três metros dele, e concluímos que era o momento de bater em retirada, o mais rápido possível, até o carro que esperava em frente à praça do Casco Histórico.
O Casco é uma relíquia arquitetônica e histórica. Ali, ficam a linda igreja erguida em 1608 e diversas casas em estilo colonial, muitas delas servindo de fachada para restaurantes centenários com as portas fechadas por falta de suprimentos. Em meio a tudo isso, há residências.
Em uma delas, Dores Vásquez, 69 anos e vincos no rosto que lhe dão aparência de mais idade, dá as boas vindas, abre a porta, mostra o beliche onde dormem ela e o marido, Mario Herrera, 63. As camas estão desarrumadas, e os objetos, espalhados pelo aposento. Dores faz ar solene, suspira e se dirige à geladeira. Quando a abre, resplandece um clarão e a solitária garrafa d'água com legumes nitidamente vencidos.
- O que posso fazer? Vivemos um pesadelo. Vou ao supermercado às 5h e, às vezes, fico na fila até as 19h. Quando consigo chegar para fazer as compras, já não há o que procuro - relata.
Perto dali, vive Trina Centeno, 83 anos. Ex-professora e diretora de escola, ela se movimenta com uma bengala. Não tem condições físicas para enfrentar filas nem dinheiro suficiente para comprar os bens de primeira necessidade. Com a voz embargada, indica uma porta da sua casa. Ali, dorme sua filha de 66 anos, que tem câncer no ovário. Medicamentos? Nem pensar. A filha de Trina toca a vida resignadamente esperando por um desenlace sinistro:
- Não temos nem comida. Às vezes, dou sorte. Chego no supermercado e o gerente me deixa passar na frente para comprar o que preciso. Se isso não ocorre, não tenho como comprar o básico. Minha filha está magra, doente. Com minha idade, já vi muitas coisas nesta vida. Posso assegurar: nunca a Venezuela esteve em situação tão degradante e difícil.
Perto da casa de Trina, em meio ao camelódromo onde o menino assaltou o caminhão, o comerciante Luis Pestana, 58 anos, tem os braços apoiados em um balcão vazio, com poucos produtos espalhados pelos cantos. Pestana é dono do tradicional armazém Flor do Rocio, existente desde 1969.
O estabelecimento é herança do pai, e, no último dia 9 de junho, foi alvo de saque.
- Umas cem pessoas entraram aqui e levaram tudo - recorda, premendo os lábios.
Já houve quase mil saques na Venezuela nestes primeiros seis meses do ano.
Uns saqueiam, outros comem direto do lixo. Havia, enquanto a reportagem passava pela área mais conflagrada do Petare, idosos vasculhando o lixo e se alimentando de restos ali mesmo. Relatam-se casos de gente que caça ratos, cães e gatos para se alimentar. Não foi possível registrar a imagem dos idosos comendo lixo, em razão da insegurança. A poucos metros dali, o ambulante Anselmo Escobar olha para o repórter e o fotógrafo, indica que também estava vendo aquele episódio de miséria e desespero e pergunta de onde somos.
– Brasil? Meus dois filhos vivem em Guarulhos (na Grande São Paulo). Estão felizes. Aquilo lá sim é que é vida. Como foram bem recebidos! Aqui, a vida chegou ao ponto mais baixo como valor. Se alguém quer te roubar, chega ao teu lado e dá um tiro sem piedade, sem pensar – afirma Escobar, 58 anos.
Foi logo depois dessa conversa que a reportagem viu o rapaz furtando o caminhão e deixou aquele local. Ao chegar à praça onde estava o carro, em frente à intendência de Sucre (cidade que faz parte de Caracas e onde fica o Petare), uma cena rara. Ali está a mais alta autoridade dos Estados Unidos hoje na Venezuela, o encarregado de negócios Lee McClenny - isso ocorre porque, em razão dos conflitos diplomáticos permanentes, Estados Unidos e Venezuela estão sem embaixadores em Caracas e Washington desde 2010.
McClenny estava ali para uma primeira visita ao local, em dois anos ocupando o cargo na Venezuela. Abordado pela reportagem, abriu um sorriso e fez questão de atender a imprensa brasileira:
– Vim aqui para visitar um projeto que o governo americano promove, de música para crianças necessitadas. É muito importante que as nossas relações estejam cada vez melhores e que colaborações desse tipo possam ocorrer com mais frequência.
As manifestações favoráveis a normalizar as relações são frequentes. Ao mesmo tempo, os dois governos protagonizam embates que vão na contramão desse interesse. O presidente americano, Barack Obama, pediu, recentemente, respeito aos esforços da oposição para implementar o referendo revogatório do mandato de Maduro. O presidente venezuelano rebateu acusando Washington de ter "obsessão intervencionista".