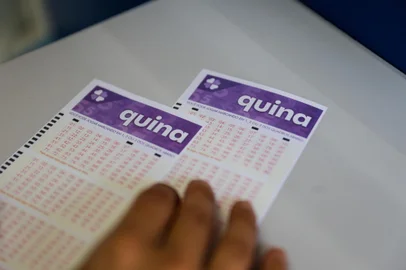O publicitário Washington Olivetto, que morreu neste domingo (13) aos 73 anos, foi entrevistado por Zero Hora em 2021, antes de palestrar no Gramado Summit.
Na entrevista, Olivetto recordou alguns momentos marcantes da trajetória e analisou o então cenário da comunicação mundial. Gênio da publicidade, Olivetto se recusava a fazer campanhas políticas.
— Jamais fiz, ou faria, uma campanha política. Um dos grandes orgulhos que carrego é o de sempre ter trabalhado para a iniciativa privada. Afirmo que fazer campanhas de políticos, ou para governos, foi um dinheiro muito bom de não ganhar — disse ele na entrevista, há três anos.
Criador de comerciais inesquecíveis da TV brasileira, como o do Garoto Bombril (1978), o do primeiro sutiã (1987) e o do cãozinho da Cofap (1994), Olivetto viveu numa busca incansável por fazer o “novo de novo”.
Releia a entrevista concedida ao repórter Rafael Vigna abaixo:
Você está fora do Brasil desde 2017. Há alguma insatisfação com o cenário nacional?
Eu não saí do Brasil por causa do Brasil, saí por Londres. Eu tinha muita vontade de ter uma experiência profissional em Londres. Queria que meus filhos (um casal de gêmeos), adolescentes, depois de uma formação muito brasileira, tivessem a experiência da Europa. Gosto de Nova York, mas costumo dizer que Londres é a melhor Nova York do mundo (risos). Minha esposa, que teve uma produtora de comerciais (Conspiração), durante anos, a vendeu para os sócios e voltou a trabalhar no mercado de arte. Londres também é perfeita para isso.
O Brasil fica mais legal a distância?
A distância tenho vantagens. Uma coisa é mudar de país na condição de exilado. Outra, bem diferente, é poder voltar a hora que bem entender. É o meu caso, visito o Brasil com frequência. A sensação é semelhante à de assistir a um jogo de futebol pela TV ou dentro do estádio. Em casa, no sofá, você vê muito mais aquele lance, a jogada em si. No campo, a noção é de conjunto. Agora, acredito ter uma noção de conjunto muito maior do que quando estava no Brasil. Convivo com pessoas de distintas nacionalidades e ouço uma pergunta recorrente: como é que o país da doçura virou o país do amargor? Sinceramente, é difícil explicar. E muitos comentários feitos no Brasil sequer são cogitados por aqui. Os jornais britânicos, que têm por característica críticas mais veementes ao Brasil, de comunistas não têm nada. Estou falando do Financial Times, da revista The Economist. É uma maluquice dizer que uma crítica deste tipo de veículo é “coisa de comunista”. Gestos como a grosseria com a primeira-dama da França (Brigitte Macron, em 2019), o negacionismo do governo diante da pandemia, os problemas com vacinas e, recentemente, a presença do Exército nas ruas de Brasília (durante a sessão do voto impresso no Congresso) são vistos com muito maus olhos por aqui.
Hipoteticamente, como você, publicitário, mudaria essa percepção negativa do país?
É curioso, porque eu jamais fiz, ou faria, uma campanha política. Um dos grandes orgulhos que carrego é o de sempre ter trabalhado para a iniciativa privada. Afirmo que fazer campanhas de políticos, ou para governos, foi um dinheiro muito bom de não ganhar (risos). Isso também me dá independência para falar. Muita gente me pergunta, porque é da minha atividade, como eu reconstruiria a imagem do Brasil, tão depredada nos últimos tempos. Para fazer uma boa publicidade, o Brasil precisa, antes de tudo, arrumar o produto. A pior coisa que um mau produto pode ter é uma boa publicidade. Tempos atrás o The Guardian fez uma matéria dizendo que evitaria citar políticos brasileiros. O The Guardian justifica que políticos brasileiros provocam fatos com o objetivo de desviar a atenção. Na sequência, o veículo afirma que os brasileiros de que gostava era gente como Tom Jobim, Oscar Niemeyer e Ivo Pitanguy. Neste raciocínio, fica evidente que o Brasil tem pessoas incríveis em todas as áreas, na música, na literatura, no cinema... Acredito que é da somatória destas pessoas que surgiria a construção de uma bela imagem do país. Mas tem que arrumar o produto antes.
Por falar em produto, há uma movimentação de receitas publicitárias, com uma redução em 2020. O momento afeta as agências ou essa tendência está associada à pandemia?
Sempre fujo da palavra “tendência”. Deve ter sido inventada por alguém que queria imitar alguma coisa e, para dar dignidade ao ato, o apelidou de “tendência” (risos). Vejo uma quantidade maior de mídias nos últimos anos. No Brasil, cometeu-se o erro de gerar uma briga entre os onlines e os offlines. São complementares. Há, sim, enorme mudança no universo de comunicação. A boa notícia é o que não mudou. Ou seja, sem uma grande ideia, nada acontece. Só que a grande ideia de hoje tem que ser única e com a capacidade de ganhar características de cada veículo. Não pode ser adaptada. Não pode ser um comercial de TV com versão de jornal, uma trilha de rádio, com um tema de internet. Não. A grande ideia deve ter a cara dos veículos. Aqui na Inglaterra, uma das mídias que mais crescem é o rádio. No Brasil também. É um veículo fascinante. Na pandemia, a demanda é por mais informação e menos persuasão. As pessoas precisam ser informadas, mais até do que seduzidas a comprar. E olha que eu digo isso como quem passou boa parte da vida seduzindo e vendendo. É mais do que natural que a TV perca um pouco de espaço e tem relação com a pandemia, sim. Por outro lado, num país de dimensões intercontinentais, como o nosso, a TV aberta será importantíssima por muitos anos. A questão é fazer TV de qualidade. Este foi o grande fenômeno implantado pelo Boni (José Bonifácio de Oliveira Sobrinho) na Rede Globo. Fazer TV sofisticada e de pequeníssima audiência não é difícil. Fazer TV vulgar com alta audiência e pouca duração também não é difícil. O desafio, mesmo, é fazer o “popular elegante” e com qualidade. Isso a televisão brasileira conseguiu, particularmente na Globo. Eu fico revoltado e ofendido quando vejo determinadas figuras do Brasil atual querendo contestar e destruir as nossas melhores mídias. Você só faz um país com mídias de qualidade. O mesmo vale para a publicidade nacional, que só chegou a ser uma das melhores do mundo graças à qualidade da mídia brasileira. Simbolizando isso, eu diria que estão veículos como a Rede Globo, os jornais O Globo, Estadão, Folha de S Paulo, Zero Hora, muitas das nossas rádios e, agora, as plataformas digitais.
Neste contexto, você declarou que plataformas e mídias digitais teriam de encerrar um dilema e se apresentarem como, de fato, são. Isso vale para os veículos de publicidade e de conteúdo?
É verdade que a composição atual torna híbrido o significado de cada plataforma. Sem dúvida, seria muito explícito dizer que se é um veículo de venda, ou um veículo de informação. Eu, que não declaro voto e nunca fiz campanha política, gosto muito da estrutura norte-americana em que os veículos de comunicação abrem seu apoio aos candidatos. Vejo isso como algo verdadeiro. Acho muito positivo, porque, por mais sincero que um veículo seja, é difícil ser isento. A isenção é algo que muitos tentam, mas nem todos conseguem. Às vezes você pensa que está sendo isento e não está. Isso vai ter que se ajustar fortemente. Outro aspecto é que se vende muito, no mercado anunciante, a ideia de quantificação de dados. Os grandes vendedores dessa ideia são as plataformas digitais. Na verdade, você só pode quantificar o que aconteceu. Primeiro, a gente precisa avaliar se tem a capacidade de encantar, de seduzir, de ser memorável. Se essas premissas forem válidas, terá o que quantificar. Do contrário, existe uma frase muito boa que resume o caso: quando não acontece nada, não acontece nada.
Os comerciais dos anos 1990 e 1980 eram caracterizados pela linguagem cinematográfica. Você é um dos expoentes desse momento, mas, hoje, a figura dos influenciadores digitais rouba a cena e as receitas publicitárias. Para onde caminha a publicidade?
A publicidade mundial e a brasileira, mais profundamente, vivem uma crise criativa. Ingenuamente, algumas pessoas acreditam que com um influenciador digital é possível obter resultados, sem os custos de produção. É uma economia bobinha, porque boa parte destes influencers relembram os primórdios da TV. Eles são exatamente iguais às garotas-propagandas. São iguais ao que se fazia quando a publicidade era absolutamente primária. É a mesma coisa que é chamada, aqui, no Brasil, de merchandising. Nos EUA, surgiu com o cinema. Vale a mesma regra, pode ser interessante quando há uma grande ideia. Lembro de quando o ator Luís Gustavo fazia em uma novela o personagem Mário Fofoca. Ele tinha um Fusca velho e sonhava toda a noite com um novo. Aquilo era um merchandising de alta qualidade, pertinente, divertido e inteligente. Só o sujeito passando no meio de uma novela e convidando uma personagem a “dar uma paradinha no banco tal” não é inteligente. Quando existem crises criativas, curiosamente, é até bom que piore porque será preciso bater no fundo do poço para que todos percebam que não funciona. Aí haverá a reinvenção.
Quando não havia crise criativa, o comercial da Bombril usava o humor para vender esponjas de aço e chegou a fazer uma encenação de Che Guevara e outra de Bill Clinton e Monica Lewinsky no auge do escândalo sexual na Casa Branca. Seria possível repetir essas brincadeiras? A crise de criatividade não é fruto do ambiente atual?
Isso é fantástico. Foram 35 anos de Bombril com o mesmo criador, o mesmo diretor e o mesmo ator. Graças ao talento do Carlos Moreno, que consegue fazer qualquer personagem sem deixar de ser ele mesmo, a gente teve uma oportunidade única: usamos todas as possibilidades que a comunicação oferece. Normalmente, na campanha você escolhe uma opção. Pode ser o humor. Pode ser a emoção. O racional, o musical, enfim. Com o Moreno, fizemos tudo em 399 comerciais. Agora, sobre fazer isso no Brasil polarizado, todo mundo me pergunta a respeito do “politicamente correto”. Costumo dizer que, muitas vezes, o “politicamente correto” é educado, certo e chato. Em outras, você tem o “politicamente incorreto”, que pode até ser engraçado, mas é mal educado e ofende. No meio das duas coisas, existe algo que batizei de “politicamente saudável”. É o que respeita a inteligência das pessoas, mas não joga fora o humor. É aquilo que não coloca o consumidor em uma redoma de vidro, pois é ele quem vai decidir. Hoje, há uma radicalização enorme, manifestada nas redes sociais. É preciso ter critério para dimensionar essas manifestações. Às vezes, uma mensagem em TV aberta é vista por milhões de pessoas. Neste contexto, 350 comentários, induzidos por alguém, numa rede social não significam absolutamente nada. Você só deve ter o cuidado de não alimentá-los, caso contrário a repercussão dura mais. Você precisa reconhecer que essa manifestação logo será substituída por uma nova bobagem. Por exemplo, o comercial da menina e o primeiro sutiã é belíssimo, premiado e reconhecido no mundo como um dos melhores de todos os tempos, por sua doçura, delicadeza e pertinência com o produto. O sutiã não é só uma roupa, representa a transição da menina para mulher. Não tenho dúvida de que, hoje, uma meia dúzia de malucos na internet diria que é um incentivo à pedofilia. Aí, a função é não dar bola e tocar o jogo para frente.
Além de uma grande ideia, quais elementos fazem uma campanha inesquecível acontecer?
A grande ideia tem uma característica fundamental. Ela é pertinente. Ou seja, uma grande ideia publicitária tem que ser memorável, original, inesquecível e, sobretudo, algo que só aquele produto poderia ter. A melhor publicidade, no fundo, é aquela que a gente olha e pensa que não teve autor. Parece feita pelo próprio produto. Uma coisa que percebi muito cedo é que ganhar prêmios e ser reconhecido é bom, mas tem algo melhor ainda. Minha busca sempre foi por criar publicidades que cumpram com as suas obrigações de vender produtos e construir marcas, mas que também tivessem a ambição de entrar para a cultura popular brasileira. É o meu melhor critério. É a razão pela qual muitas campanhas não ganharam prêmios internacionais, pois eram impossíveis de traduzir. O comercial da Cofap é um belo exemplo. Ele mudou o nome da raça dachshund (salsichinha), que passou a ser chamada, no Brasil, de “cofapinho”. Aquilo fez crianças se fascinarem pela ideia de acompanhar os pais na hora de trocar o amortecedor dos carros. Curiosamente, ganhou todos os prêmios nacionais e nenhum internacional. É que o Brasil é o único país em que existe a ideia de trocar o amortecedor a cada 30 mil km. Foi uma criação do senhor Abraham Kasinski, fundador da Cofap, para gerar a obsolescência planejada. Ele detinha todo o mercado de montadoras e precisou inventar um mercado de reposição de peças. Tive a honra de ajudá-lo. Minha ambição pela cultura popular é muito forte. É que, quando consigo isso, transformo o consumidor em mídia. Ele começa a repetir a minha publicidade. E ele é a melhor mídia do mundo. É gratuito e mais acreditável do que qualquer outra. Quando passei a fazer isso, gerei o mesmo fluxo das redes sociais, antes delas existirem.
Entre consumidores, os das classes C e D estiveram, por anos, no centro das atenções. Com a perda do poder de compra, deixaram de ser alvo das campanhas. Qual o efeito dessa retração?
Era tão importante, que quando eu estava no Brasil realizamos a maior pesquisa sobre o consumidor C e D. Era um sucesso, particularmente, para abordar possíveis novos clientes. Não houve um anunciante sequer que eu tivesse telefonado para apresentar a pesquisa que tenha dito “não”. É uma pena, mas mudou. E, nós publicitários, lamentamos mais do que ninguém. Nunca tenho certeza se a frase é, de fato, minha ou se a gente não conhece o criador, mas esta deve ser: nem os sociólogos de esquerda gostam tanto de uma boa distribuição de renda quanto os publicitários. Nós dependemos disso para viver. É uma pena que tenhamos perdido a turma das classes C e D.
Sua obsessão pela cultura popular nunca o levou a querer fazer cinema?
Na minha geração, tinha muita gente com talento. Com certeza, eu era o que mais queria ser publicitário. Nunca tive complexo de culpa. Não achava que era algo podre criado pelo capitalismo. Muito pelo contrário, eu pertencia a uma corrente de esquerda e de vanguarda, que já tinha lido (Vladimir) Maiakovski e sabia que jamais existiria revolução política sem revolução estética. Eu queria era ser publicitário. Fiz muita coisa com música, releituras que ganharam mais de 20 discos de ouro. Fiz pequenos filmes que teriam estruturas quase de longas. Mas a minha obsessão sempre foi a publicidade. Uma característica que construiu a minha vida foi me movimentar bem em muitas áreas e canalizar tudo no trabalho. Leio de tudo, do mais elaborado ao mais vulgar. Ouço todo tipo de música, vejo todo tipo de filme. Sou um sujeito que se treinou para não ter preconceito com informação. Claro que algum preconceito sobra, mas acredito que, se tenho, escondo bem. Por outro lado, minha obsessão é pela novidade. Minha ligação com a música popular, por exemplo, é forte. Virei canção do Jorge Ben na pessoa física (Engenho de Dentro) e na jurídica (W/Brasil). Essas várias facetas me ajudam. Porque eu tenho mesmo é fascinação por poder fazer, sempre, o novo de novo.