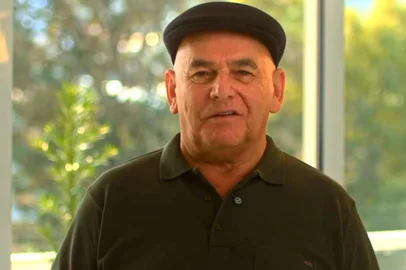Os pais do Hitler teriam sido aconselhados a levá-lo para uma consulta com Sigmund Freud, presumivelmente para curá-lo daquela compulsão de dominar o bairro. Não houve a consulta, Hitler cresceu sem tratamento e o resto é História.
A descoberta do quase encontro e das suas possíveis consequências, se for verdadeira, toca na questão da importância do sujeito na História. Uma questão que se torna atual e premente com a eleição do Trump nos Estados Unidos. Até que ponto decisões pessoais, personalidades – e neuroses –, determinam os acontecimentos, até que ponto uma lógica impessoal rege o comportamento de líderes e rebeldes, que só são seus instrumentos?
A História teria sido diferente sem Hitler, ou com um Hitler no poder mas tratado por Freud?
A ideia do nazismo como uma anomalia patológica, como coisa de loucos, é uma ficção conveniente que absolve o pensamento cristão europeu de direita da sua cumplicidade. Mas a ideia de um determinismo neutro, independente de qualquer escolha moral, também é assustadora. Precisamos de vilões mais do que de heróis, de culpados muito mais do que de inocentes. Nem que seja só para preservar o autorrespeito da espécie.
Karl Kraus escreveu que a Viena do começo do século era o campo de provas da destruição do mundo. A derrocada do Império Austro-Húngaro foi o fim de um certo mundo, mas acho que Kraus quis dizer mais do que isso. Para ele, as revoluções do pensamento postas em movimento na Viena da sua época trariam o fim do longo dia do humanismo europeu que durara desde a Renascença, e este século restauraria a idade das trevas.
O encontro que não houve entre o intelectual judeu que radicalizou o estudo da consciência e o homem que quis eliminar as duas coisas, o judeu e a consciência, da História simboliza esse prenúncio, ou essa intuição de Kraus, sobre o século. Seria fatalmente o século do desencontro entre as duas formas de modernidade, a que liberava o pensamento pela investigação científica e a que o aprisionava pelo mito do Estado científico, necessariamente totalitário.
A questão é até onde coisas vagas como o clima intelectual de uma cidade ou clínicas, como a maluquice de alguém, influenciam a História, ou até que ponto uma boa terapia pediátrica teria evitado o holocausto. O materialismo histórico rejeita a ideia de sujeitos regendo a História e marxistas ortodoxos reagem a qualquer sugestão de que as ideias justas venham de um discernimento moral inato, que seria coisa de burguês alienado. E, como os neoliberais nos dizem que o mercado não é ético nem aético, é apenas inevitável, a História como um relato de mocinhos providenciais em guerra com bandidos doentes sobra para a literatura, ou esta categoria de ficção sentimental que é a História convencional. Gostamos de pensar que é a iniciativa humana que move a História, e que o seu objetivo, mesmo que tarde, seja moral e justo, e que ela tenha uma cara e uma biografia.
A História feita por indivíduos tem o atrativo adicional da conjetura criativa, de infindáveis variações sobre o “se”. O que teria acontecido se Napoleão tivesse se contentado em ser instrutor de tiro ou se os pais de Stalin nunca tivessem se encontrado, ou Trump tivesse se contentado em ser apenas um empresário? E se Freud tivesse recomendado a Hitler dedicar-se à pintura?