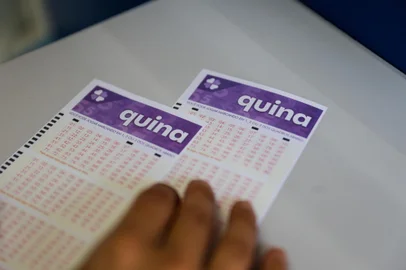Leandro Karnal é a prova de que profundidade intelectual e popularidade podem andar lado a lado. Com formação em história, o gaúcho de São Leopoldo concilia sua carreira como professor na Unicamp com uma movimentada agenda de palestras por todo o Brasil. Além disso, mantém uma coluna semanal no jornal O Estado de S. Paulo e participa rotineiramente do debate público em entrevistas para televisão, rádio e publicações impressas. Sua página oficial no Facebook conta com mais de 400 mil seguidores, que muitas vezes compartilham vídeos com trechos de suas conferências, nas quais cita o sociólogo Zygmunt Bauman para falar da felicidade cotidiana ou usa como exemplo Hamlet, de Shakespeare, para abordar as relações humanas em tempos de redes sociais.
Foi pouco depois de uma de suas palestras, no 9º Fórum Unimed, em Porto Alegre, que ZH conversou por mais de uma hora com o historiador de 53 anos. Apesar de discreto, posou com tranquilidade para as fotos e não deixou a concentração se abalar diante de flashes e cliques ao tratar de assuntos complexos. Encara o ato de estar diante das câmeras como uma necessidade dos intelectuais para atingir um público mais amplo que seus pares – "A sociedade que nos sustenta", diz.
Com sete livros lançados, dois deles sobre a história dos EUA, Karnal trata nesta entrevista sobre as eleições americanas, a falta de grandes lideranças internacionais e atual situação política no Brasil, entre outros temas.
Diante da atual polarização do debate, em que medida é possível diálogo no Brasil?
Não estamos particularmente em um momento para ouvir qualquer coisa. Estamos em um momento para firmar posição. E a posição mais fácil de ser firmada é a maniqueísta, bipolar ou extremada. Então, quando as pessoas cobram uma posição, inclusive de mim, do modo "mas você é isso ou aquilo", respondo que, em primeiro lugar, todo problema que tem apenas duas posições é falso. Quando alguém pergunta "mas você é gremista ou colorado", digo "torço pelo Aimoré, o time da minha cidade, São Leopoldo". Ou seja, há a possibilidade de não ser nem chimango nem maragato. Há casos em que a omissão é um equívoco. Por exemplo, não há como ser omisso na luta de Nelson Mandela contra o racismo na África do Sul, porque temos de um lado o racismo, que é um desvio de caráter ético e jurídico inaceitável e, do outro, alguém que está lutando contra isso. Lá não dá para ser neutro. Há problemas em que a questão ética está muito clara e em jogo, mas há outros em que não. Sobre o debate político do momento, por exemplo, ele pode ser sintetizado na frase "o seu golpe é mais legal que o meu", ou mais bonito ou mais ético.
Qual sua opinião sobre o afastamento de Dilma?
Quando me perguntam "mas, afinal, foi ou não foi golpe?", eu, como historiador, digo que impeachment não tem qualquer relação com ética, com a lei, com a Constituição ou com a ação do governante. Impeachment tem relação exclusivamente com a falta de controle do Congresso. Os governantes que sofreram processo e quase foram "impichados", como Deodoro da Fonseca, em novembro de 1891, ou que sofreram impeachment, como o Collor, ou que estão em processo de análise, como Dilma, têm em comum o fato de que perderam o controle do Congresso. Os "crimes" de Deodoro ou os problemas de Collor e Dilma são visíveis em todos os presidentes, mas são relativizados se você tem controle do Congresso. Então, é golpe depor a presidente? Bem, o artigo 85 da Constituição pressupõe que a questão fiscal e de orçamento é um crime de responsabilidade. Agora, houve isso? E, no período em que houve, era legal julgar, já que estamos julgando, inclusive, o orçamento do governo anterior? É uma questão política a ser decidida. No caso, a decisão, feita majoritariamente por partidos como PMDB, que até ontem estavam no poder e que apoiavam aquele governo, é inteiramente política, partidária e ideológica.
Qual a origem da atual polarização pública?
Essa bipolaridade é uma maneira de ver o mundo. O Rio Grande do Sul é quase um especialista nisso, porque somos um dos Estados mais esquizofrênicos da federação, no qual as coisas são decididas entre chimangos e maragatos, petistas e peessedebistas, gremistas e colorados. O mundo tinha que ser um pouco mais complexo do que isso. Em clima de Fla-Flu, você só joga slogans e adjetivos, ou seja, você para de pensar. Classificar "você é petralha" ou "você é coxinha" ou "você é das elites brancas" ou "você é um golpista bolivariano" é uma maneira de dizer onde eu estou, não onde o outro está. Toda vez que eu digo algo sobre o outro, a chance de estar dizendo algo sobre mim é grande. Isso nasce de uma tradição bipolar, católica, de colocar as coisas nos extremos. Dante, no Inferno(em A divina comédia), passa por uns anjos que não tomaram partido quando o demônio se rebelou contra Deus. Eram os anjos do centrão (risos). E Dante os coloca como um erro profundo. Mas, na verdade, a omissão é quase que a norma universal. Quando você pensa na França invadida pelos nazistas, uma parte do país é colaboracionista, outra parte é da resistência, mas a maior parte não era nem uma coisa nem outra. Quando você diz que 10 mil pessoas em Porto Alegre lutaram dizendo que foi golpe, significa que mais de um milhão de porto-alegrenses não estavam lá. Essa é a questão que não aparece: o grande grupo que não está nos polos, e quase sempre é a maioria.
Mas essa é uma posição condenável?
A rigor, não. Lanço um olhar de historiador, não de político, nem de moralista. Na verdade, a maior parte das pessoas não tem um interesse em um ponto ou no outro. Mas, acima de tudo, o que é condenável é você examinar as coisas de um ponto estritamente bipolar. A bipolaridade, para os psiquiatras, é uma doença. É um comportamento ruim que precisa ser tratado. Agora, o debate não é ruim, mesmo bipolar. Não é ruim que as pessoas expressem suas opiniões. O ruim é que não está havendo debate. O ruim é que ninguém ouve ninguém. O ruim é que, enquanto você fala, eu bato panela. Quando eu bato panela, estou dizendo "não tenho qualquer interesse na sua fala". Isso é um problema, pois minha fala pode ser de um cargo central, ou seja, fará diferença na sua vida.
Quais as consequências desse não diálogo?
Em primeiro lugar, existe algum diálogo no plano político. A língua da política significa cargos e verbas. Se a Dilma pudesse criar 513 ministérios, um para cada deputado, não haveria impeachment. Existe um diálogo cujo argumento central se chama cargo e verba. Agora, as massas que não dialogam, que estão vociferando na rua ao estilo "o golpe não passará” e "tchau, querida", são usadas pelas forças políticas a favor ou contra seus objetos. Vão dizer "o clamor das ruas", "a pressão das ruas" como uma maneira de legitimar uma decisão já tomada. Na política, como a fazemos no Brasil, quando se leva algo para a igreja, tudo já foi decidido na sacristia.
Os manifestantes provavelmente não pensam desse modo.
É claro que muitos manifestantes sinceramente lutam para mudar esse padrão na política, e ele pode vir a mudar. Porém, na maneira como ela é feita hoje, funciona dessa forma. Na verdade, temos um choque entre pessoas que trabalham com uma noção romântica de poder e de Estado, que acreditam que a função do Estado é promover o bem comum e estabelecer princípios que tornarão a vida social viável. Mas o Estado só faz isso como forma de se perpetuar no poder. O Estado produz obras de interesse coletivo quando se aproximam as eleições. É o que explica tanto viaduto e tão pouco saneamento básico no Brasil. Um estadista seria aquela pessoa que trabalha não para seu partido ou por sua reeleição, mas por um futuro a partir de certa visão de sociedade. Isso praticamente não existe no Brasil.
E existe fora do Brasil?
Há uma carência de lideranças bastante forte neste momento. Tivemos lideranças históricas no passado, mas às vezes em momentos de grande transição política não surge um grande estadista. Na verdade, uma pessoa muito prática e aparentemente boa administradora, como Angela Merkel, é uma pessoa de referência para os alemães. A França não encontra uma grande liderança política desde a morte de Miterrand. Os EUA tiveram um grande crescimento na figura do orador público com Obama, um dos melhores discursadores que vi na minha vida. Depende um pouco do país e do momento. Entretanto, curiosamente, não creio que seja muito bom que um político seja carismático. Isso conduz ao culto à personalidade. Isso conduz a Getúlio, a Perón, até a Hitler. Queria políticos um pouco mais apagados, mas eficazes, e que a votação em seu nome fosse no projeto, e não na aura mística que ele exala. A Argentina pagou um preço alto pelo culto a Perón, e esse preço se estendeu por muito tempo. Temos uma fixação nesses nomes carismáticos, como Churchill, mas esquecemos que quem refaz a Inglaterra no pós-Guerra é o menos carismático Attlee; falamos de Hitler, mas esquecemos de Adenauer, o homem que reconstruiu a Alemanha depois de 1945. Gostamos desses nomes pujantes para o bem e para o mal, mas não sei se é um mérito em política ser carismático.
LEIA MAIS
>>> As razões da ascensão de Donald Trump na corrida eleitoral americana
>>> Base simbólica de um possível governo Trump será o medo
O senhor é um dos grandes estudiosos sobre os Estados Unidos no Brasil. Como explica um fenômeno como Donald Trump?
Trump é a voz de uma América com a qual temos pouco contato. Gostamos de Nova York, que é a maior cidade dos Estados Unidos, mas esquecemos que Nova York não é uma cidade americana. Nova York é uma cidade do mundo, cosmopolita. Os Estados Unidos começam quando se atravessa a ponte e se entra em Nova Jersey. E vão "aumentando". Os Estados Unidos estão naquelas comunidades médias de rednecks, nos caipiras, naquela mulher acima do peso, de blusa floreada, frequentadora da igreja, no Bible Belt. O americano clássico, que olha para o imigrante com medo e desconfiança, como quase toda a população olha na Europa, aquele que acha que a América tem que ser grande de novo, que vê muito pouco do mundo, que acha que a capital do Brasil é Buenos Aires, mas é corrigido pelos mais cultos de que é o Rio de Janeiro (risos)... Esse americano médio vê no Donald Trump, loiro e homem de sucesso, um salvador, e vê na Hillary uma mulher não tão simpática quanto deveria, mais inteligente do que ele, mas com uma rejeição muito grande e sem um currículo para mostrar como uma pessoa de sucesso. Hillary é vista por esse americano como um risco maior. A América profunda, de alguma forma, está falando por meio do Trump.
É uma coincidência que, neste momento em que Trump cresce em popularidade, o Brasil também tenha políticos conservadores em alta?
Não. Estamos em uma onda mundial conservadora. A saída está sendo buscada na solução de mercado. Depois de quase 14 anos de governo do PT, muitas pessoas estão em um jogo pendular que as aproxima de um governo conservador. Temer não apenas assumiu interinamente, mudou o perfil do governo, trazendo elementos da oposição, como o senador Aloísio Nunes (PSDB-SP), para chefiar. Ou seja, gente derrotada nas urnas se tornou chefe de governo. É uma reviravolta. E essa reviravolta conservadora que aconteceu na Argentina está relativamente próxima de ocorrer na Venezuela. As soluções tradicionais da esquerda socialista começaram a mostrar seus limites. Mas as contradições do nosso capitalismo são imensas: falta de moradia, falta de investimento, sucateamento do parque industrial, exploração da mão-de-obra... Então, haverá outra vez insatisfação, e novamente a esquerda voltará.
Como o senhor avalia o Bolsa Família?
No meu ponto de vista, foi uma excelente iniciativa. No dia seguinte ao da implantação, deveria se iniciar uma ação para dar o próximo passo, que seria não precisar mais do Bolsa Família. Se você está com fome, eu lhe dou comida. Não pergunto se é justo ou o que você representa. Levo em conta apenas sua fome. Mas, se você continuar com fome por seis meses, um ano, quatro anos, vou começar a pensar que talvez seja melhor outra estratégia. É lógico que o Bolsa Família foi pensado como uma estratégia de voto. Mas veja como são nossas incoerências: Bolsa Família é um valor muito baixo e, como gasto de Estado, é muito inferior às isenções fiscais ou aos apoios do BNDES. Então, aquilo que o governo deu para o mercado é muito maior do que deu para famílias sem renda ou de baixa renda. Nenhum empresário reclama da bolsa BNDES, da isenção de impostos na indústria automobilística ou suspensão de IPI. Todas são consideradas medidas adequadas, mas quando o dinheiro vai para o social é visto como distributivismo populista. É uma injustiça. Se eu sou um liberal, e é possível ser liberal, se sou contra a interferência do Estado, deveria achar que o Estado, caso retire sua interferência do amparo social, deve retirar também sua interferência do financiamento da produção.
Temos uma cultura de ódio no Brasil?
Temos uma tradição de ódios e de violência. Se você lembra que a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul foi chamada de Revolta da Degola, porque os dois lados cortavam a cabeça uns dos outros, faz o Estado Islâmico parecer brando. O Estado Islâmico faz isso de vez em quando, aqui no Rio Grande do Sul se fez sistematicamente. Se lembrar que Canudos foi simplesmente dizimada, se lembrar que no Contestado foi utilizada a aviação sobre a população civil pela primeira vez, se lembrar que muita gente foi morta e perseguida nas ditaduras militar e de Vargas, se lembrar que Vargas entregou Olga grávida aos nazistas como um bônus, pois eles sequer a haviam pedido... Se lembrarmos de tudo isso, entenderemos que o Brasil tem uma cultura de ódio sólida. Mas já disse que no Brasil temos uma dor: não gostamos de ver isso. No Brasil, não aparece a expressão "guerra civil", mas Revolução ou Guerra dos Farrapos, movimento constitucionalista de São Paulo de 1932, Cabanagem de 1835, a Sabinada na Bahia, a Balaiada de 1838. Não gostamos nem da expressão guerra civil, e vivemos prolongadas guerras civis. E o mais fascinante é que todas essas derrotas, como a de São Paulo, do Pará, da Bahia e do Rio Grande do Sul, viraram marcos de identidade. Celebramos periodicamente nossas derrotas.

Qual é o papel da cultura em um país tão violento e com tantos problemas estruturais?
Uma cultura e uma educação que promovessem a diversidade, a compreensão da complexidade do ser humano, da variedade de gêneros, de identidades pessoais seria muito boa. Um estudo aprofundado de literatura, filosofia, antropologia, uma sólida visão de ciências... A escola formal e a cultura informal têm um compromisso gigantesco de explorar a chamada tolerância artística. Existem três posturas a esse respeito. A primeira é a intolerância: não aceito você e quero eliminá-lo. A segunda é a tolerância passiva, ou do tolerante envergonhado: não tenho nada contra você, desde que você não se sente perto de mim. A terceira é a tolerância ativa, a que diz: "Que bom que você é bissexual – ou homo ou heterossexual –, porque isso garante que o mundo seja diversificado, isso não me atinge, não me torna inseguro, não dificulta nossa comunicação". Perguntada sobre quantos gêneros haveria no planeta Terra, já que há pessoas que se preocupam com isso, uma professora respondeu: "Provavelmente neste momento 7 bilhões". De perto, todos são estranhos. Mas tentar classificar as pessoas a partir de gêneros definidos é um esforço feito para tornar o mundo ordenado por grandes instituições. O ser humano é diverso.
Nos últimos meses, principalmente quando do fechamento e posterior reabertura do Ministério da Cultura, foi a primeira vez que muitos políticos conservadores manifestaram mais claramente oposição aos artistas. É algo novo em nossa história?
Em 1985, quando terminou o governo Figueiredo, havia quase um monopólio da cultura por elementos críticos da sociedade, porque a ditadura era o mal, a tortura, o horror, e o mundo que vinha era o da democracia. Mas a própria experiência de governos de esquerda, bem como o passar do tempo, afastando aquela experiência imediata, trouxe à tona uma voz que nunca se calou, mas estava mais baixa. É a voz do conservadorismo. E a internet deu palanque a isso. Há um conservadorismo difuso muito importante na sociedade brasileira. Se submetêssemos a plebiscito questões que estão na pauta dos partidos ditos de esquerda, sofreríamos uma derrota muito grande. A maior parte da população ocupa um imenso espaço de um centrão conservador, que ainda olha a sociedade como fruto de uma educação e de uma visão de mundo conservadoras.
O senhor dá palestras, tem vídeos com milhares de visualizações no YouTube, mais de 400 mil seguidores no Facebook e participa ativamente do debate público pela imprensa. Tamanha visibilidade não é vista com preconceito por seus colegas de universidade?
Certa vez, um colega da Unicamp disse que jamais aceitaria falar para determinados canais de televisão e jornais, pois os considerava conservadores. Respondi delicadamente que ele deveria primeiramente receber o convite destes veículos, para depois decidir se aceitaria (risos). Ele poderia estar transformando em crítica social o que a gente chamaria apenas de inveja. A academia é também um retrato do Brasil, ou seja, há pessoas de todos os jeitos. Não há mais inveja em um departamento da Unicamp do que em uma redação de jornal sobre pessoas que se destacam e ganham prêmio. Temos dificuldade com o sucesso alheio. Temos facilidade com a dor alheia. O câncer alheio é de uma facilidade enorme, mas prêmio alheio é difícil. As universidades, as redações de jornais e as empresas são espaços marcados por disputas. Mas a universidade é ainda um lugar muito interessante de pensamento. Além do bom hábito de falarmos para nós mesmos, em bancas e congressos assistidos por seis pessoas ou artigos sofisticadíssimos para três leitores, também poderíamos dialogar mais com a sociedade, que precisa disso.
Luiz Felipe Pondé, professor da USP também muito presente no debate público, já afirmou que é difícil ser de direita na academia. O senhor também observa uma tendência esquerdista nas universidades brasileiras?
Como eu disse, a universidade é um reflexo do mundo. Se o Pondé, que é um amigo, sofre preconceito e publica um livro a cada três meses, dá palestra no Brasil inteiro, vai para rádio e TV, tem artigo semanal na Folha, imagina se não sofresse (risos). É bom que na sociedade exista gente variada. O Pondé consegue ser provocador, ele gosta disso. Quando ele diz que Viagra em 15 anos causou mais felicidade para a espécie humana do que Marx em 150, ele quer provocar um debate. É uma provocação bem feita, da qual gosto. Já houve um momento no qual a academia, na área de Humanas, era quase inteiramente de esquerda. Não é mais. Áreas ligadas diretamente ao mercado, como Medicina e Engenharia, têm um perfil ideologicamente mais variado. As Humanas são um pouco mais inclinadas ao pensamento crítico e se identificam com a esquerda. Mas isso está cada vez mais variado, porque o Brasil está cada vez mais variado.